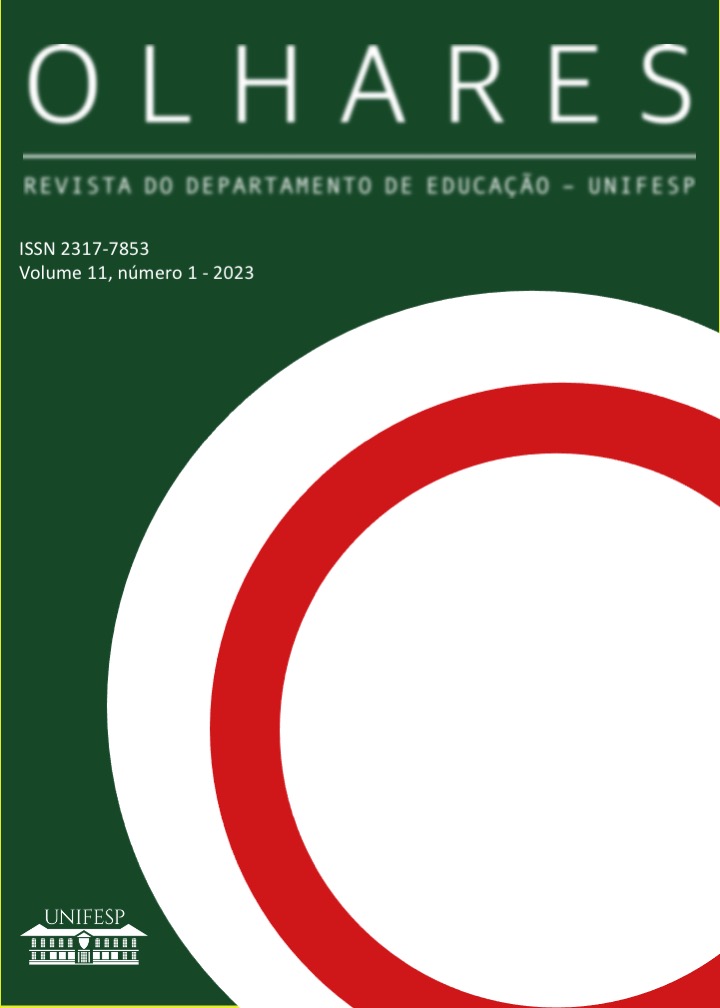CONCEPÇÕES DE PROFESSORES EM FORMAÇÃO: (re)elaborações de sentidos sobre pessoas com deficiência
DOI:
https://doi.org/10.34024/olhares.2023.v11.15035Palavras-chave:
Psicologia histórico-cultural, Formação de Professores, Inclusão EducacionalResumo
Ao tratar da escolarização da pessoa com deficiência, as diretrizes para formação docente transitam entre posições genéricas sobre diversidade e a instrumentalização para o atendimento educacional especializado, versando sobre o professor generalista, amparado pelo especialista, sem que se aprofunde em como se dão suas formações. Assumindo os cursos de formação docente como espaços privilegiados de (re)construção de saberes para a prática educacional, neste artigo, propõe-se a investigação dos modos como estudantes de cursos de Pedagogia elaboram questões relacionadas à educação da pessoa com deficiência e ao papel da graduação na construção de conhecimentos sobre o tema. Fundamentado pela Psicologia Histórico-cultural e pelos estudos da linguagem numa perspectiva dialógico-enunciativa, o trabalho envolveu a elaboração/conceituação da ideia de concepção e a realização de rodas de conversas com graduandas de três universidades paulistas sobre a escolarização de estudantes com deficiência. A análise e discussão a partir da áudio-gravação das rodas evidenciam como concepções elaboradas pelas estudantes trazem significados sobre deficiência; sobre a formação na universidade; e sobre a escola e o fazer docente, arrematados pelas indefinições do tema, constituindo-se não como conceitos, mas como saberes em elaboração. A reflexão aqui proposta contribui para a problematização da formação com vistas à transformação de expectativas e práticas que orientam a relação de professores em formação com conhecimentos sobre a pessoa com deficiência e sua educação. Ainda, apontam-se as rodas de conversa como potencial espaço formativo em uma perspectiva dialógica de reelaboração de saberes e práticas.
Métricas
Referências
BAKHTIN, Mikhail/ VOLOCHINOV, Valentin. Marxismo e filosofia da linguagem: problemas fundamentais do método sociológico na ciência da linguagem. 10. ed. São Paulo: HUCITEC, 2002.
BAKHTIN, Mikhail. Estética da criação verbal. 4. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2003. (Coleção Biblioteca Universal).
BRASIL. Conselho Nacional de Educação. Câmara de Educação Básica, Resolução n. 2 de 11 de fevereiro de 2001. Institui Diretrizes Nacionais para a Educação especial na Educação Básica. Brasília: CNE/CEB, 2001.
BRASIL. Conselho Nacional de Educação. Câmara de Educação Básica. Conselho Pleno. Resolução n. 1 de 15 de maio de 2006. Institui Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Graduação em Pedagogia. Brasília: CNE/CEB/CP, 2006.
BRASIL. Conselho Nacional de Educação. Câmara de Educação Básica. Conselho Pleno. Resolução CNE/CP nº 2, de 1º de julho de 2015. Define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação inicial em nível superior (cursos de licenciatura, cursos de formação pedagógica para graduados e cursos de segunda licenciatura) e para a formação continuada. Brasília: CNE/CEB/CP, 2015.
BRASIL. Conselho Nacional de Educação. Câmara de Educação Básica. Conselho Pleno. Resolução CNE/CP nº 2, de 20 de dezembro de 2019. Define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Inicial de Professores para a Educação Básica e institui a Base Nacional Comum para a Formação Inicial de Professores da Educação Básica (BNC-Formação). Brasília: CNE/CEB/CP, 2019.
CEREJA, William. Significação e tema. In. BRAIT, Beth.(Org.). Bakhtin: conceitos-chave. São Paulo: Editora Contexto, 2005.
FREITAS, Maria Tereza. de Assunção. A abordagem sócio-histórica como orientadora da pesquisa qualitativa. Cadernos de pesquisa, n.116, jul, p. 21-39, 2002.
GARCIA, Rosalba Maria Cardoso. Política de educação especial na perspectiva inclusiva e a formação docente no Brasil. Revista Brasileira de Educação v. 18 n. 52 jan.-mar. 2013
GATTI, Bernardete Angelina; BARRETTO, Elba Siqueira de Sá. Professores do Brasil: impasses e desafios. Brasília: UNESCO, 2009.
LAPLANE, Adriana Lia Friszman. Notas para uma análise dos discursos sobre inclusão escolar. In: GÓES, Maria Cecília; LAPLANE, Adriana Lia Friszman. (Orgs.) Políticas e Práticas de Educação Inclusiva. Campinas, SP: Autores Associados, 2004.
LAPLANE, Adriana Lia Friszman. Uma análise das condições para a implementação de políticas de educação inclusiva no Brasil e na Inglaterra. Educação & Sociedade, n. 96, v.6, p. 689-715, Campinas, out, 2006.
LUDKE, Menga; ANDRÉ, Marli. Pesquisa em educação: abordagens qualitativas. São Paulo, Editora Pedagógica e Universitária, 1986.
LOPES, Denise Maria de Carvalho. Prática pedagógica e emancipação no ensino superior: reflexões sobre a aprendizagem e desenvolvimento do jovem/adulto. In: COLÓQUIO INTERNACIONAL EDUCAÇÃO E CONTEMPORANEIDADE, IV, 2010, Laranjeiras –SE. Anais do IV Colóquio Internacional: educação e contemporaneidade. ISSN 1982-3657. Laranjeiras, 2010, p. 1-11
MARQUES, Luciana Pacheco. Professor de alunos com deficiência mental: concepções e práticas pedagógicas. Juiz de Fora: EFJP, 2001. 1986.
OLIVEIRA, Anna Augusta Sampaio. O conceito de deficiência em discussão: representações sociais de professores especializados. Revista Brasileira de Educação especial. Marília, n.1, v.10, p. 59-74, jan-abr, 2004.
PEREIRA, Cláudia Alves Rabelo; GUIMARÃES Selva. A Educação Especial na Formação de Professores: um Estudo sobre Cursos de Licenciatura em Pedagogia. Revista Brasileira de Educação especial. Marília, n.4, v.25, p. 59-74, out-dez, 2019.
PRIETO, Rosangela Gavioli. Atendimento escolar de alunos com necessidades educacionais especiais: um olhar sobre as políticas públicas de educação no Brasil. In: ARANTES, Valéria Amorim. (Org.). Inclusão Escolar: pontos e contrapontos. São Paulo: Summus, 2006.
SANT’ANA, Isabella Mendes. Educação inclusiva: concepções de professores e diretores. Psicologia em Estudo, Maringá, n. 2, v. 10, p. 227-234, mai-ago, 2005.
SANTOS, Waldir Carlos Santana dos. dos; BARTALOTTI, Celina Camargo. Diferenças, deficiências e diversidade: um olhar sobre a deficiência mental. O mundo da saúde. São Paulo, n.3, v.26, p. 382-388, jul-set, 2002.
SIGNORINI, Inês. O relato autobiográfico na interação formador/formando. In: KLEIMAN, Ângela; MATENCIO, Maria de Lourdes (Orgs.). Letramento e formação do professor: práticas discursivas, representações e construção do saber. Campinas: Mercado de Letras, 2005.
SMOLKA, A.L.B. Sentido e significação: Parte A – Sobre significação e sentido, uma contribuição à proposta de Rede de significação. In: ROSSETTI-FERREIRA, Maria Clotilde; AMORIM, Katia; SILVA, Ana Paula Soares da; CARVALHO, Ana Maria Almeida. (Orgs.). Rede de significações e o estudo do desenvolvimento humano. Porto Alegre: Artmed, 2004.
VIGOTSKI, Lev Semionovitch. Obras escogidas: tomo V. Fundamentos de defectologia. Madrid: Portugal: Visor, 1997.
VIGOTSKI, Lev Semionovitch. Pensamento e linguagem. 3. ed. São paulo: Martins Fontes, 2005.
VÓVIO, Cláudia Lemos. Entre discursos: sentidos, práticas e identidades leitoras de alfabetizadores de jovens e adultos. 2007. 287 f. Tese (Doutorado em Linguística aplicada) - Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2007.
Downloads
Publicado
Edição
Seção
Licença
Copyright (c) 2023 Luciana de Abreu Nascimento, Maria de Fátima Carvalho

Este trabalho está licenciado sob uma licença Creative Commons Attribution 4.0 International License.