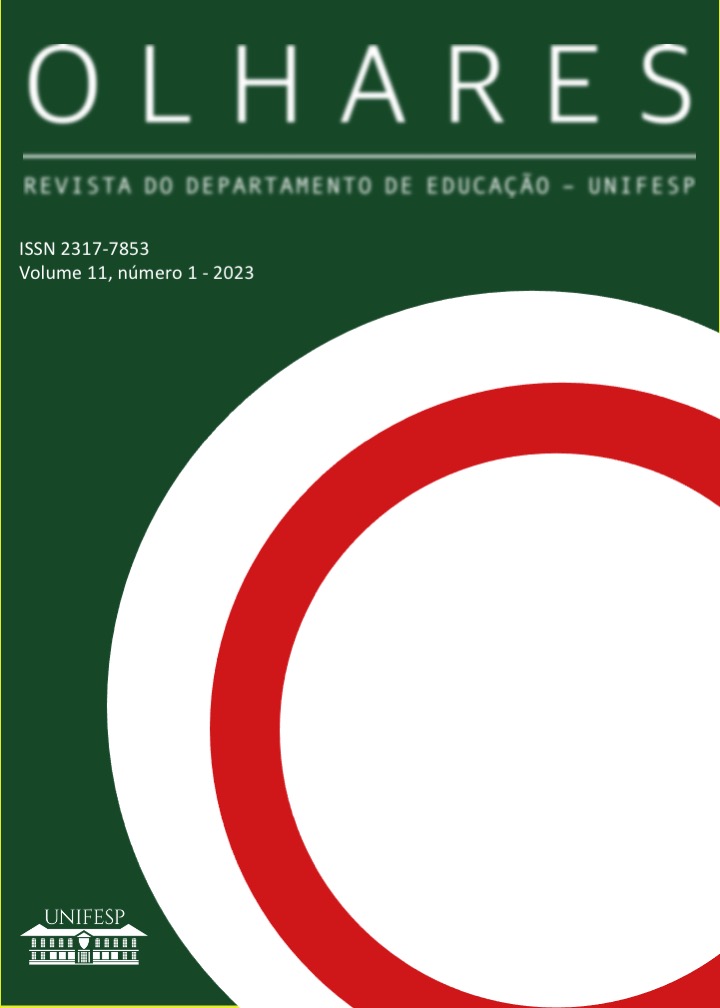LEITURA DE CLÁSSICOS LITERÁRIOS NO ENSINO MÉDIO
DOI:
https://doi.org/10.34024/olhares.2023.v11.14290Palavras-chave:
educação escolar, ensino médio, leitura literáriaResumo
Este artigo, que sintetiza os resultados de um estudo teórico-bibliográfico, dedica-se a uma questão encontrada por professores de Língua Portuguesa e Literatura atuantes nos últimos anos da educação básica. A Pedagogia das Competências foi erigida como teoria pedagógica de Estado, o que vem sendo apontado como incompatível com uma educação literária em seu sentido pleno. Neste novo quadro, é relevante trabalhar com clássicos literários, muitos deles produzidos há séculos atrás – portanto, aparentemente muito distantes dos adolescentes e jovens contemporâneos? O artigo defende a manutenção do ensino de leitura literária de textos e obras clássicos no nível médio, considerando a especificidade da educação escolar e sua contribuição para a formação humana, sob inspiração da Pedagogia Histórico-Crítica em sua articulação com a Psicologia Histórico-Cultural. Compreende a leitura literária dos clássicos como possibilidade afim a um ensino desenvolvimental, que tem por meio e finalidade tanto a socialização do saber sistematizado quanto a elucidação e superação das condições objetivas postas, que tendem a dificultar – quando não impossibilitar – a produção e circulação de conhecimentos literários que integrem os planos do sensível e do inteligível, na realidade da educação pública brasileira contemporânea. Partindo do pressuposto de que, na sociedade capitalista, a apropriação dessas objetivações não está garantida, principalmente para as pessoas desfavorecidas socioeconomicamente, tal proposta configura-se em chave contra-hegemônica.
Métricas
Referências
ALMEIDA, S. P. F. Contribuições da teoria pedagógica histórico-crítica para o ensino de literatura: uma leitura comparativa de pesquisas. 147 fls. Dissertação (Mestrado em Letras) – Universidade Federal do Espírito Santo, Vitória, 2021.
AMARAL, M. F. do. Educação e epistemologias: críticas à pedagogia das competências à luz da pedagogia histórico-crítica. Filosofia e Educação, [S. l.], v. 14, n. 1, p. 65–91, 2022. DOI: 10.20396/rfe.v14i1.8668490. Disponível em: https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/rfe/article/view/8668490. Acesso em: 17 maio. 2023.
BRASIL. Base Nacional Comum Curricular. Brasília: Ministério da Educação, 2017. Disponível em: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_publicacao.pdf. Acesso em: 16 abr. 2017.
BRASIL. Base Nacional Comum Curricular. Brasília: Ministério da Educação, 2018. Disponível em: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/a-base. Acesso em: 9 set. 2019.
CALVINO, Í. Por que ler os clássicos. Tradução: Nilson Moulin. São Paulo: Companhia das Letras, 1993.
COUTINHO, E. F. Literatura comparada na América Latina: ensaios. Rio de Janeiro: EdUERJ, 2003.
DALVI, M. A. Educação, literatura e resistência. In: MACEDO, M. S. A. N. A função da literatura na escola. São Paulo: Parábola, 2021, p. 17-44.
DALVI, M. A. A Área de Letras, o projeto de sociedade e a formação humana necessária à nossa realidade. Muiraquitã: Revista de Letras e Humanidades (eletrônico), v. 1, p. 1-12, 2020. https://doi.org/10.29327/210932.1.1-5. Disponível em: https://revistas.ufac.br/index.php/mui/article/download/5910/3617. Acesso em: 09 ago. 2022.
DALVI, M. A.; PONCE, R. de F. Didática da literatura: problematização de uma tendência em vias de hegemonização. Revista Ibero-Americana de Estudos em Educação, Araraquara, v. 16, n. esp. 3, p. 1662–1680, 2021. DOI: 10.21723/riaee.v16iesp.3.15304. Disponível em: https://periodicos.fclar.unesp.br/iberoamericana/article/view/15304. Acesso em: 9 ago. 2022.
DAMASCENO, C. D. Tentativas de (re)significação da experiência literária: a questão do gosto e a apropriação pessoal da literatura. In: MAGALHÃES, J. S. de; TRAVAGLIA, L. C. (Org.). Múltiplas perspectivas em Linguísticas. Uberlândia: EDUFU, 2008, p. 687-693.
DUARTE, N.; MAZZEU, F. J. C.; DUARTE, E. C. M. O senso comum neoliberal obscurantista e seus impactos na educação brasileira. Revista on line de Política e Gestão Educacional, Araraquara, v. 24, n. esp1, p. 715–736, 2020. DOI: 10.22633/rpge.v24iesp1.13786. Disponível em: https://periodicos.fclar.unesp.br/rpge/article/view/13786. Acesso em: 17 maio. 2023.
DUARTE, N. As pedagogias do aprender a aprender e algumas ilusões da assim chamada sociedade do conhecimento. Revista Brasileira de Educação. n. 18, São Paulo, set./out./nov./dez., 2001.
DUARTE, N. A contradição entre universalidade da cultura humana e o esvaziamento das relações sociais: por uma educação que supere a falsa escolha entre etnocentrismo ou relativismo cultural. Educação e Pesquisa, São Paulo, v. 32, n. 3, p. 607-618, 2006. DOI: 10.1590/S1517-97022006000300012. Disponível em: https://www.revistas.usp.br/ep/article/view/28029. Acesso em: 9 ago. 2022.
DURÃO, F. A. O que é crítica literária? São Paulo: Nankin; Parábola, 2016.
FARIA, P. M. F.; DIAS, M. S. L.; CAMARGO, D. Arte e catarse para Vygotsky em Psicologia da Arte. Arquivo Brasileiro de Psicologia. vol. 71, n. 3, Rio de Janeiro, set./dez. 2019, p. 152-165
FERREIRA, C. G. Fundamentos histórico-filosóficos do conceito de clássico na Pedagogia Histórico-Crítica. 162 f. Dissertação (Mestrado em Educação Escolar) – Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, Araraquara, 2019.
GINZBURG, J. O ensino de literatura como fantasmagoria. Revista da Anpoll, [S. l.], v. 1, n. 33, [s. p.], 2012. DOI: 10.18309/anp.v1i33.637. Disponível em: https://anpoll.emnuvens.com.br/revista/article/view/637. Acesso em: 9 ago. 2022.
GIROTTO, C. G. G. S.; SOUZA, R. J. de. Estratégias de leitura: para ensinar alunos a compreender o que leem. In: MENIN, A. M. C. S. et al. (Ed.). Ler e compreender: estratégias de leitura. Campinas: Mercado de Letras, 2010. p. 45-114.
HOUAISS, A. Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Rio de Janeiro: Objetiva, 2009.
KONDER, L. O que é dialética. 28. ed. São Paulo: Brasiliense, 2008.
MACENO, T. E. A impossibilidade da universalização da educação. São Paulo: Instituto Lukács, 2019.
MACHADO, A. A.; AMARAL, M. A. Uma análise crítica da competência cultura digital na Base Nacional Curricular Comum. Ciência & Educação (Bauru), v. 27, p. e21034, 2021.
MAIA, H. Neoliberalismo e sofrimento psíquico: o mal-estar nas universidades. Recife: Ruptura, 2022.
MARTINS, L. M. Fundamentos da psicologia histórico-cultural e da pedagogia histórico-crítica. In: MESQUITA, A. M. de; FANTIN F. C. B.; ASBHAR, F. F. da S. (org.). Currículo Comum para o Ensino Fundamental Municipal. Bauru: Prefeitura Municipal de Bauru, p. 41-79, 2016. Disponível em: http://ead.bauru.sp.gov.br/ Acesso em: 28 fev. 2022.
MARTINS, U. O golpe do capital contra o trabalho. São Paulo: Anita Garibaldi, 2017.
NETTO, J. P.; BRAZ, M. Economia política: uma introdução crítica. 8. ed. São Paulo: Cortez, 2012.
OLIVEIRA, G. R. de. Leituras literárias de adolescentes e a escola. São Paulo: Alameda, 2022.
PIN, A. Literatura o Ensino Médio: caminhos para se promover a leitura dos clássicos brasileiros. Revista Contexto, Vitória, n. 36, p. 239-253, jul.-dez. 2019. Disponível em: https://periodicos.ufes.br/contexto/article/view/28267 Acesso em: 04 abr. 2022.
REZENDE, N. L. de. O ensino de literatura e a leitura literária. In: DALVI, M. A.; REZENDE, N. L. de; JOVER-FALEIROS, R. (Org.). Leitura de literatura na escola. São Paulo: Parábola, 2013, p. 99-112.
SANTOS, L. A. A. Literatura de cordel e migração nordestina: tradição e deslocamento. In: Estudos de Literatura Brasileira Contemporânea, Brasília, n. 35, janeiro-junho de 2010, p. 77-91. Disponível em: DOI: http://dx.doi.org/10.1590/2316-4018356. Acesso em 23 ago. 2022.
SARAMAGO, J. Ensaio sobre a cegueira. São Paulo: Companhia das Letras, 2020.
SAVIANI, D. Escola e democracia: polêmicas do nosso tempo. 36. ed. Campinas: Autores Associados, 2003.
SAVIANI, D. História das ideias pedagógicas no Brasil. Campinas: Autores Associados, 2007.
SAVIANI, D. Pedagogia histórico-crítica: primeiras aproximações. 11. ed. rev. Campinas: Autores Associados, 2011.
SCHWARCZ, L. M. Sobre o autoritarismo brasileiro. São Paulo: Companhia das letras, 2019.
SILVA, C. A. de F. da. Espectros do caos:: irracionalismo, ideologia e pandemia. Trilhas Filosóficas, [S. l.], v. 15, n. 1, p. 13–28, 2023. DOI: 10.25244/tf.v15i1.4831. Disponível em: https://periodicos.apps.uern.br/index.php/RTF/article/view/4831. Acesso em: 17 maio. 2023.
SOUZA, R. F. de. O habitus do leitor literário: o professor de língua portuguesa da rede estadual do Espírito Santo. 2016. 273 f. Tese (Doutorado em Letras) – Centro de Ciências Humanas e Naturais, Universidade Federal do Espírito Santo, Vitória, 2016.
SOUZA, R. J. de; COSSON, R. Letramento literário: uma proposta para a sala de aula. Disponível em: https://acervodigital.unesp.br/bitstream/123456789/40143/1/01d16t08.pdf. Acesso em 09 ago. 2022.
SUASSUNA, A.. Auto da Compadecida. Rio de Janeiro: Agir, 1980.
TEIXEIRA, D. R.; TAFFAREL, C. N. Z. Os objetivos de ensino e a seleção dos conteúdos escolares: reflexões a partir dos estudos sobre a Educação Física. In: GALVÃO, A. C.; SANTOS JÚNIOR, C. L.; COSTA, L. Q.; LAVOURA, T. N. (orgs.) Pedagogia histórico-crítica: 40 anos de luta por escola e democracia. Vol. 1. Campinas: Autores Associados, 2021.
VALTÃO, R. C. D. Práticas e representações de leitura literária no Ifes/Campus Alegre: uma história com rosto e voz. 2016. 231f. Dissertação (Mestrado em Letras) – Centro de Ciências Humanas e Naturais, Universidade Federal do Espírito Santo, Vitória, 2016.
VYGOTSKY, L. S. Psicologia da Arte. São Paulo: Martins Fontes, 1999.
Downloads
Publicado
Edição
Seção
Licença
Copyright (c) 2023 Adriana Pin, Maria Amélia Dalvi

Este trabalho está licenciado sob uma licença Creative Commons Attribution 4.0 International License.