Convite para leitura do dossiê Persistencia y cambios en la regulación comercial iberoamericana durante la era de las revoluciones
Estimados leitores e leitoras,
Temos alegria de anunciar a publicação do dossiê no nº 39 da Almanack: "Persistencia y cambios en la regulación comercial iberoamericana durante la era de las revoluciones", que inclui texto de abertura por Laurine Manac'h e Martín L. E. Wasserman. Os artigos são:
Laurine Manac'h; Martín L. E. Wasserman - Persistência e mudanças na regulação comercial na Ibero-América na era das revoluções: temas e questões na historiografia atualGabriela
Sofia Gonzalez Mireles - Em nome da verdade e da boa-fé: empresas familiares, comércio neutro e licenças extraordinárias na família Murphy.
Arnaud Bartolomei - A última Batalha do Consulado de Cádiz. A Luta do Comércio de Cádiz Contra o Desmantelamento da Carrera de Indias (1797-1824).
Antonio Ibarra - Do Privilégio Comercial à Dissolução de Poderes e à Soberania Corporativa: o Consulado Comercial de Guadalajara, 1808-1824
Pablo Ferreira Rodríguez - A guerra pelo pão: Disputas entre padeiros e o conselho de Montevidéu, 1824-26
Os artigos do dossiê e os demais textos deste número podem ser acessados clicando aqui
Saiba mais sobre Convite para leitura do dossiê Persistencia y cambios en la regulación comercial iberoamericana durante la era de las revoluciones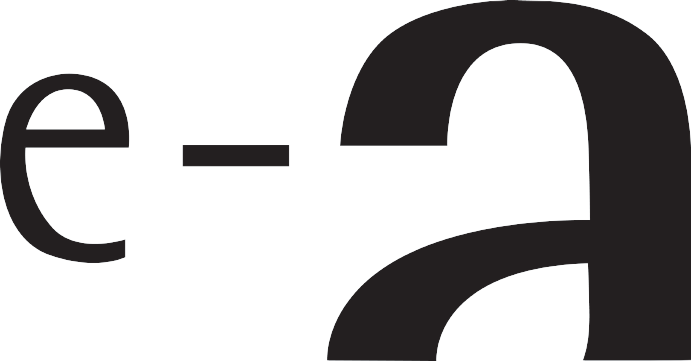

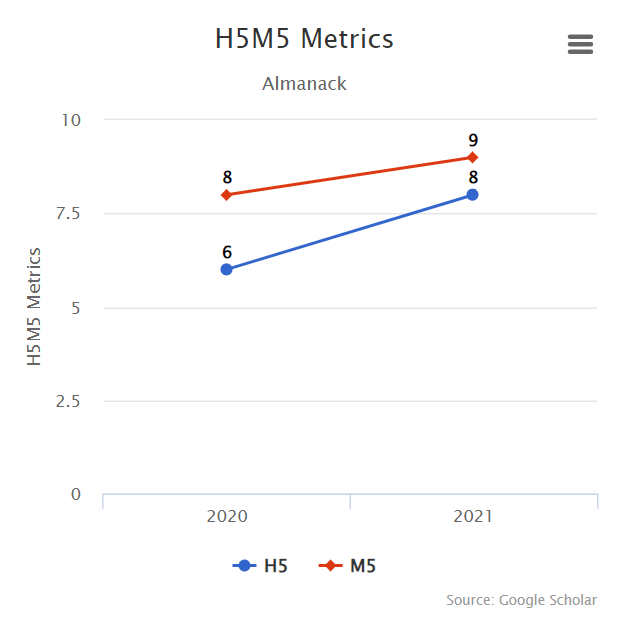










 Esta revista é licenciada pela licença
Esta revista é licenciada pela licença