CRISTINA PONTES BONFIGLIOLI | Imagem e Conhecimento: uma edição especial e uma nova seção
HUGO FORTES | Problematizações acerca da imagem enquanto conhecimento da natureza.
ANA ELISA ANTUNES VIVIANI | Mente, consciência e imagem: contribuições de Steven Mithen e David Lewis-Williams para a compreensão da origem das imagens.
ARLEY ANDRIOLO | O conhecimento das imagens populares: psicologia social e experiência estética nos construtores e arquiteturas fantásticas.
JULIANA FROEHLICH | Reflexões fenomenológicas sobre jovem arte contemporânea: formas de sobrevivência nas obras de Inês Moura.
IRENE CAMBRA BADII | Pensar el cine. La narrativa de películas y series como matriz metodologica para el tratamiento de problemas complejos.
IVY JUDENSNAIDER e FERNANDO SANTIAGO DOS SANTOS | Contato (1997): a imaginação e
o conhecimento científico.
LEÃO SERVA e NORVAL BAITELLO Jr. | O gesto do selfie: seria o selfie um Nachleben?
CÁSSIA HOSNI | Flusser e as dores do espaço: a articulação do pensamento por meio do espaço expositivo.
BRUNA QUEIROGA | O céu e o nada. Da realidade que só existe quando observamos.
GALIT WELLNER | Image, Science and Technology: a Post-phenomenological Approach. Entrevista com Don Ihde
FERNANDA ALBUQUERQUE DE ALMEIDA | O que há para ver na imagem que temos diante de nós. Entrevista com Ricardo Fabbrini
DANIELLE NAVES DE OLIVEIRA e ANA ELISA ANTUNES VIVIANI | Glossário Iconofágico
de Norval Baitello Jr. Entrevista com Norval Baitello Jr.
Equipo editorial
Editor en jefe
Emiliano Aldegani (Universidad Nacional de Mar del Plata, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Argentina)
Editoras adjuntas
Ivy Judensnaider (Universidade Paulista, Universidade Estadual de Campinas, Brasil); Thais Cyrino de Mello Forato (Universidade Federal de São Paulo, Brasil); Cristina Bonfiglioli (Universidade de São Paulo, Brasil)
Editor técnico en OJS
Flaminio de Oliveira Rangel (Universidade Federal de São Paulo, Brasil)
Secretaria de redacción
María Laura Gutiérrez (Universidad de Buenos Aires, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Argentina)
Comité editorial
![]()
Agustin Aduriz-Bravo (Universidad de Buenos Aires, Argentina), Alberto Clemente de la Torre (Universidad Nacional de Mar del Plata, Argentina), Ana Paula Bispo da Silva (Universidade Estadual da Paraíba, Brasil), Charbel Nino El-Hani (Universidade Federal da Bahia, Brasil), Fernando Santiago dos Santos (Instituto Federal de São Paulo, Brasil), Lucas Emmanuel Misseri (Universidad Nacional de Cordoba, Consejo Nacional de Investigaciones Cientificas y Técnicas, Argentina),Marco Dimas Gubitoso (Universidade de São Paulo, Brasil), Maria Elice Brzezinski Prestes (Universidade de São Paulo, Brasil), Mariano Nicolas Hochman (Universidad de Buenos Aires, Argentina), Silvia Dotta (Universidade Federal do ABC, Brasil), Vasil Gluchman (University of Prešov, Eslovaquia), y Waldmir Nascimento de Araujo Neto (Universidade de São Paulo, Brasil).
Asesores académicos externos
André Noronha (Instituto Federal de São Paulo, Brasil), Boniek Venceslau da Cruz Silva (Universidade Federal do Piauí, Brasil), Carlos Eduardo Ribeiro (Universidade Federal de São Paulo, Brasil), Carlos Roberto Senise Júnior (Universidade Federal de São Paulo, Brasil), Daniel Quaresma Figueira Soares (Universidade de São Paulo, Brasil), Denilson Cordeiro(Universidade Federal de São Paulo, Brasil), Esdras Viggiano (Universidade Federal do Triângulo Mineiro, Brasil), Francisco Ângelo Coutinho (Universidade Federal de Minas Gerais, Brasil), Guilherme Brockington (Universidade de São Paulo, Brasil), Helio Elael Bonini Viana ( Universidade Federal de São Paulo, Brasil), Luciana Caixeta Barboza (Universidade Federal do Mato Grosso, Brasil), Luciana Monteiro de Moura (Universidade Federal de São Paulo, Brasil), Luciana Zaterka (Universidade Federal do ABC, Brasil), Marco Braga, Centro Federal de Educação Tecnológica (RJ, Brasil), Maria Inês Ribas Rodrigues (Universidade Federal do ABC, Brasil), Maria Luiza Ledesma Rodrigues (Universidade Estadual Paulista, Brasil), Renato Kinouchi (Universidade Federal do ABC, Brasil), Winston Schmiedecke (Instituto Federal de São Paulo, Brasil)
Formato de la publicación
Digital: Portable Document Format (PDF), Hyper Text Markup Language (HTML), Extensible Markup Language (XML).
Idiomas aceptados
Castellano, portugués e inglés (lenguas de la publicación).
Normas de publicación
https://www.prometeica.com/ojs/index.php/prometeica/about/submissions#onlineSubmissions
Contacto
Responsable
Emiliano Aldegani (Universidad Nacional de Mar del Plata, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Argentina)
Diseño de isologo
Victoria Reyes (www.victoriareyes.com.ar)
Contenidos #17
5-6 | CRISTINA PONTES BONFIGLIOLI | Imagem e Conhecimento: uma edição especial e uma nova seção
16-29 | ANA ELISA ANTUNES VIVIANI | Mente, consciência e imagem: contribuições de Steven Mithen e David Lewis-Williams para a compreensão da origem das imagens.
30-45 | ARLEY ANDRIOLO | O conhecimento das imagens populares: psicologia social e experiência estética nos construtores e arquiteturas fantásticas.
46-61 | JULIANA FROEHLICH | Reflexões fenomenológicas sobre jovem arte contemporânea: formas de sobrevivência nas obras de Inês Moura.
62-76 | IRENE CAMBRA BADII | Pensar el cine. La narrativa de películas y series como matriz metodologica para el tratamiento de problemas complejos.
77-85 | IVY JUDENSNAIDER e FERNANDO SANTIAGO DOS SANTOS | Contato (1997): a
imaginação e o conhecimento científico.
86-92 | LEÃO SERVA e NORVAL BAITELLO Jr. | O gesto do selfie: seria o selfie um Nachleben?
93-97 | CÁSSIA HOSNI | Flusser e as dores do espaço: a articulação do pensamento por meio do espaço expositivo.
98-106 | BRUNA QUEIROGA | O céu e o nada. Da realidade que só existe quando observamos.
107-110 | GALIT WELLNER | Image, Science and Technology: a Post-phenomenological Approach. Entrevista com Don Ihde
111-115 | FERNANDA ALBUQUERQUE DE ALMEIDA | O que há para ver na imagem que temos diante de nós. Entrevista com Ricardo Fabbrini
116-127 | DANIELLE NAVES DE OLIVEIRA e ANA ELISA ANTUNES VIVIANI | Glossário
Iconofágico de Norval Baitello Jr. Entrevista com Norval Baitello Jr.
Editorial
https://doi.org/10.24316/prometeica.v0i17.224
A proposta deste número temático de Prometeica nasceu de um convite, em fevereiro de 2017, para fazer parte da equipe editorial da revista. O convite acompanhou uma demanda específica: a da criação de uma nova seção que pudesse agregar discussões sobre imagem, sem comprometer a seção Cinema e Ciência, já estabelecida por Ivy Judensnaider.
O objetivo foi, então, o de criar um espaço editorial para tratar das interfaces ciência, tecnologia, arte e filosofia por meio de abordagens filosóficas, antropológicas, históricas, da psicologia social, e da semiótica da cultura e da mídia, acerca da produção, uso, compreensão e experiências da imagem, seja ela estática (i.e. que não está em movimento como a imagem cinematográfica) e entendida como produto materialmente palpável, seja ela imagem gerada pelo corpo e apresentada como sonho, delírio, imaginação, imaginário, experiência sensória.
Nosso interesse é enfatizar a relação das imagens com a possibilidade de conhecimento teórico constituído a partir delas, a fim de pensar uma epistemologia da imagem ou uma teoria do conhecimento que se sustente por essa conexão. Queremos gerar oportunidades para levar as imagens a uma reflexão que não se restrinja a aspectos estéticos ou artísticos, vinculados ao gosto e ao belo ou estritamente à história e crítica de arte. Procuramos, com isso, destacar a importância de questões da imagem caras a todas as áreas de investigação por meio do sentido interdisciplinar que o termo história cultural pode permitir.
Este número especial, dedicado inteiramente a essa empreitada, inaugura a nova seção da revista que, a partir de agora, começa a receber, em fluxo contínuo, artigos, ensaios e resenhas que versem sobre Teoria(s) da Imagem; Antropologia Filosófica da Imagem; Imagem e Teoria do Conhecimento; História Visual; História e Crítica de Arte; Psicologia Social da Imagem e da Arte; Filosofia da Arte; Estética Contemporânea; Comunicação e Cultura; Semiótica da Cultura e da Mídia; História do Museu e da Expografia; Museus como espaço educativo (museografias e expografias voltadas para a educação – como foi o museu da Língua Portuguesa e como é o novíssimo Museu do Amanhã, ambos no Brasil); outros espaços voltados para a educação científica ou artística – planetários, bienais de arte, mostras.
Esta edição de Prometeica conta, assim, com a contribuição generosa e genuína de pesquisadores de várias áreas e especialidades e de quatro nacionalidades diferentes – Brasil, Estados Unidos, Argentina e Israel - que aceitaram o desafio da nossa proposta inaugural, produzindo textos em português, espanhol e inglês, publicados, aqui, na íntegra e em suas versões originais, como permite a revista.
Na seção Imagem e Conhecimento, Hugo Fortes destaca as relações entre arte e a imagem da natureza e sua importância para a história da arte e a produção artística; Ana Elisa Antunes Viviani explora as relações entre neurociências e antropologia, a partir dos conceitos de mente e consciência debatidos por Steven Mithen e David Lewis-Williams, na busca de uma explicação para a origem das imagens paleolíticas; Arley Andriolo traz o debate da imagem popular, a partir da história da descoberta de obras catalogadas pela crítica de arte como arte bruta ou primitiva e sua importância para a experiência sensória e uma nova conceituação do estético; Juliana Froehlich, explora a obra de Inês Moura, sob uma vertente fenomenológica, para discutir os movimentos da artista em seu complexo processo de criação.
Na seção Cinema e Ciência, Irene Cambra Badii discute as relações entre cinema e psicologia a partir de Deleuze e Badiou, com o intuito de propor um referencial metodológico que permita investigar questões relativas à subjetividade. Na mesma seção, Ivy Judensnaider e Fernando Santiago dos Santos exploram a questão metodológica das ciências e o modo como a ficção científica, no filme Contato (1997), apresenta e discute formas outras da experiência da verdade. Na seção Virtualidade e Espaços de Interação Digital, Leão Serva e Norval Baitello Jr. apresentam e justificam o problema de uma história do selfie e de sua relação com o conceito de Nachleben de Aby Warburg.
Na seção Resenhas, Cássia Hosni apresenta e debate a exposição “Flusser e as dores do espaço” que ocupou o SESC Ipiranga entre 10 de outubro de 2017 a 28 de janeiro de 2018. Na seção Ensaio, a fotógrafa e pesquisadora Bruna Queiroga nos homenageia com um ensaio fotográfico inédito, elaborado especialmente para este número.
Ainda, para esta edição especial de Prometeica, decidimos entrevistar três professores doutores ilustres, cujas pesquisas abordam diversos aspectos do tema Imagem e Conhecimento. Falando, também, a partir de diferentes áreas acadêmicas, suas abordagens teóricas criam um diálogo importante, que aponta, justamente, para a necessidade da transdisciplinaridade para se lidar com os desafios epistemológicos dessa temática: Don Ihde explora as relações entre pós-fenomenologia, ciência e tecnologia; Norval Baitello Jr. apresenta seu enfoque teórico-metodológico com suporte na semiótica da cultura e da mídia; Ricardo Fabbrini expõe a importância da estética e história da arte para pensar relações entre imagem e conhecimento.
Gostaria de agradecer, especialmente, à contribuição inestimável das pesquisadoras Gallit Wellner, Danielle Naves de Oliveira, Ana Elisa Antunes Viviani e Fernanda Albuquerque de Almeida que gentilmente se disponibilizaram a realizar essas entrevistas e sem as quais a conclusão deste projeto editorial não teria sido possível.
Esperamos que aproveitem a leitura e convidamos a todos para colaborar com a nova seção Imagem e Conhecimento em nossas próximas edições semestrais!
Cristina Bonfiglioli
Editora Adjunta
Imagen y Conocimiento
https://doi.org/10.24316/prometeica.v0i17.225
PROBLEMATIZATIONS ABOUT THE IMAGE AS KNOWLEDGE OF NATURE
Hugo Fortes
(Escola de Comunicações e Artes - Universidade de São Paulo)
Recibido: 06/05/2018
Aprobado: 11/07/2018
RESUMO
Este artigo investiga as maneiras como a imagem foi compreendida como forma de conhecimento do mundo natural ao longo da história da arte. Inicialmente são apresentados os conceitos de mimesis, natureza naturante, natureza naturada. São discutidas as relações entre natureza e cultura e a ideia da imagem como representação fidedigna do mundo em contraposição à expressão emocional do artista. Também são apresentadas as modificações nos regimes imagéticos com o surgimento da fotografia, do cinema e da imagem eletrônica. Ao final, destacam-se as alterações visuais provocadas pelo homem na paisagem, discutindo
o papel da arte no debate ecológico contemporâneo. Palavras-chaves: imagem, natureza, conhecimento
ABSTRACT
This paper investigates how the image was conceived as a form of knowledge of the natural world throughout art history. Initially, the concepts of mimesis, natura naturans, natura naturata, among others, are presented. The relationship between nature and culture and the idea of the image as a reliable representation of the world as opposed to the emotional, artistic expression are discussed. Modifications on the visuality regimes with the emergence of photography, cinema, and electronic image are also presented. Finally, the visual changes caused by man in the landscape are focused, discussing the role of art in the contemporary ecological debate.
Keywords: image, nature, knowledge
A representação da natureza através de imagens está na origem do próprio surgimento da cultura humana. Desde os primórdios, o homem se debate entre louvar e imitar a natureza ou dominá-la e sobrepor-se a ela. Se, por um lado, o ambiente natural se apresenta como um lugar aprazível, que provê alimento, água e um espaço para o homem habitar, além de ser um repositório dos mitos da criação, por outro lado, também representa ameaças e dificuldades, lançando desafios para a sobrevivência humana. O homem inicia sua trajetória artística ora imitando a natureza para tentar se aproximar dela, ora procurando dominá-la, produzindo objetos que pretendem ser mais perfeitos do que ela. Ao mesmo tempo em que retrata o mundo com suas produções imagéticas, o homem também interfere no mundo,
alterando sua visualidade. As primeiras imagens produzidas por humanos são pinturas rupestres que inauguram uma discussão se seu caráter seria simbólico e ritual ou se seu objetivo seria a pura representação fidedigna do mundo, afirmando a presença do homem que as produziu e servindo como comunicação entre seus semelhantes. Entre essas imagens, encontramos tanto algumas de caráter mais indicial, nas quais o homem deixa seu rastro soprando pós coloridos sobre sua mão, como aquelas mais simbólicas e esquemáticas que retratam animais e seres humanos.
As primeiras constatações filosóficas mais aprofundadas sobre a imagem enquanto conhecimento da natureza surgem de forma mais consistente no pensamento de Platão. Para ele, o mundo natural, a physis, era apenas uma cópia imperfeita do mundo superior das ideias. O mundo físico em que vivemos já era, por si só, uma imagem ou sombra de uma realidade metafísica inalcançável e a tarefa da filosofia seria, através da razão, eliminar as brumas que enganam os nossos sentidos. O conhecimento deveria se basear no exercício do pensamento racional abstrato, sem se deixar levar pelas aparências enganadoras do mundo. As imagens produzidas pelos artistas eram, para Platão, uma cópia de segunda mão desta cópia imperfeita que é o mundo, e assim só buscavam iludir nossos sentidos e nos afastar da verdade. A imagem não se prestaria ao conhecimento do mundo, que só poderia ser alcançado através do pensamento filosófico e da palavra.
Quando falamos em representação imagética do mundo natural, não podemos deixar de mencionar o conceito de mimesis. Este conceito pode ser tomado em duas acepções diferentes. Uma seria a do fato dos artistas imitarem a aparência dos objetos do mundo natural. Esta acepção é provavelmente a mais conhecida e marcou definitivamente a história da arte, levando ao paradigma que o grande artista é aquele que consegue retratar o mundo da maneira mais fiel e verdadeira. Tal paradigma, entretanto, é questionado em diversos momentos da história das imagens, como veremos adiante. Uma segunda concepção da atividade mimética seria a de que o artista não imita apenas a aparência do natureza, mas, sim, a sua própria força criadora. Assim como a natureza produz incessantemente os seres do mundo, o homem produziria seus objetos povoando o ambiente de artefatos humanos. Desta maneira, o homem produz não só imagens sobre o mundo, mas altera a própria forma como o mundo se apresenta para nossos olhos.
A estas questões somam-se, também, os conceitos de natureza naturante e natureza naturada. A natureza naturada seria o mundo natural visto como acabado, com seu ambiente, animais, vegetais e minerais prontos para oferecerem um lugar de morada para o homem e para serem imitados por sua arte. A natureza naturante refere-se ao princípio criador da natureza, em seu poder de transformação e criação da vida. O conceito de natureza naturante possui um caráter dinâmico, que remete ao fluxo vital que se desenrola no tempo. Diante da constatação do aspecto fluido e mutante da natureza colocam-se várias questões sobre o uso das imagens para o conhecimento do mundo natural e sobre o papel do artista. Como retratar através da imagem estática um devir em transformação constante? Seria a imagem capaz de suspender o tempo, fixando visões ideais para a eternidade? Ou deveria o artista captar a essência do movimento vital sem congelá-lo, deixando-o latente e pulsante mesmo em sua representação estática? Falharia o artista ao tentar retratar em imagens paradas o mundo em transformação constante? Seria, então, a sua cópia do mundo ainda mais imperfeita por não incluir o tempo?
Diferentemente de Platão, Plotino considera que a atividade do artista não é apenas uma imitação da imperfeição, mas é o artista que possibilita que as formas perfeitas penetrem na matéria informe do mundo. Para ele, "a pedra da estátua é bela, não porque é pedra, mas porque o artista inspirado fez com que nela penetrasse uma forma e um brilho que ela não tinha.” (como citado em Ribon, 1991, p. 23). Aristóteles também ressalta que a habilidade de imitar possui em si um valor, já que podemos nos comprazer com o virtuosismo que um artista consegue copiar até mesmo as coisas que não consideramos belas. As imagens poderiam, então, através da harmonia de suas formas, superar o próprio mundo, já que sua beleza poderia nos elevar a mundos metafísicos, distantes da precariedade mundana da matéria. A ideia da superioridade das formas em relação à matéria atravessa toda a Idade Média, chegando até o Renascimento.
Durante o Renascimento, torna-se cada vez mais importante estudar a natureza com precisão, pois só assim o homem poderia fazer penetrar o belo ideal em suas representações. Artistas como Leonardo da Vinci (1452-1519) e Michelangelo (1475-1564) vão se confrontar com a matéria para extrair dela suas formas perfeitas, porém prezando o conhecimento dos detalhes do mundo natural, que é visto como a medida de todas as coisas. Matéria e espírito entram em confronto e a objetividade de representação é necessária para se atingir a elevação metafísica. A questão do tempo e da fugacidade da natureza naturante é também discutida pelos artistas renascentistas no que diz respeito às diferenças entre a pintura e a escultura. Para Leonardo, a pintura teria maior capacidade de expressar o movimento, os estados fluidos e as condições atmosféricas, por alcançar um grau de abstração maior que a escultura e incluir as nuances de cor e a transparência. Ainda que a concepção renascentista considere importante o estudo da natureza para atingir a representação fidedigna, o mundo natural, entretanto, ainda não é o protagonista das imagens pictóricas do Renascimento, cuja temática central refere-se a Deus, aos santos e ao próprio homem. A natureza apresenta-se mais como pano de fundo para o desenrolar da vida das personagens, e as plantas, animais ou minerais são apresentados como símbolos que remetem a conotações religiosas.
A natureza em si só vai ganhar destaque como tema principal da representação artística a partir da pintura holandesa do século XVII, que inaugura os gêneros da paisagem e da natureza morta. Há uma busca pela objetividade na fatura pictórica holandesa, que embora concentre-se nas aparências do mundo, também pode ser vista como representação simbólica de conteúdos espirituais. Assim, o amplo céu de suas paisagens é compreendido como uma afirmação da presença divina, em contraste com os detalhes da vida mundana que se desenrola sobre a terra. A pintura de paisagem passa a constituir um vocabulário próprio e começa a determinar os modos de ver dos artistas que se sucedem. São ensinados métodos de composição de imagem, formas de enquadramento das visões do mundo natural e estratégias de perspectiva. A perspectiva, aliás, em desenvolvimento desde o princípio do Renascimento, estrutura-se como um modo de conhecimento do visível e permite a tradução da tridimensionalidade do mundo para a planaridade da tela. A imagem, embora busque refletir de modo fiel o mundo, necessita separar-se dele, através do enquadramento circunscrito pela moldura. Os esquemas geométricos de constituição da perspectiva passam a influenciar a própria imagem do mundo real, influenciando no traçado nas cidades e na arquitetura e criando pontos de vista privilegiados para se observar a vida urbana.
Se tomarmos a pintura de paisagem como forma de conhecimento da natureza é necessário esclarecer que o conceito de paisagem não equivale totalmente àquilo que entendemos por natureza. A paisagem, conforme demonstrou Anne Cauquelin (2007) é na verdade o análogon da natureza, isto é, uma construção conceitual humana que busca ser o equivalente da natureza, porém que se dá prioritariamente enquanto imagem. A autora nos informa que nossa percepção atual de paisagem é influenciada pela forma com que a natureza foi representada pela arte ao longo do tempo e é através destes modelos cognitivos incutidos em nosso imaginário que podemos percebê-la. A paisagem, para Cauquelin, está relacionada a uma noção de composição, de ponto de observação e de enquadramento. Há todo um vocabulário da paisagem formado por elementos que conjugados contribuem para a constituição da imagem, que não é o mundo natural propriamente dito, mas um recorte dele. Mesmo quando interfere sobre o mundo real, através do paisagismo, o homem ora busca uma paisagem mais próxima do que seria o natural idealizado, ora assume propositalmente a artificialidade de sua criação.
A representação da natureza através das imagens não se restringe à pintura de paisagem, mas também merece destaque na pintura de natureza morta. A vida silenciosa das naturezas mortas, em que frutas e flores são representadas em seu esplendor e efemeridade, é símbolo para a vacuidade da vida humana. As naturezas mortas reúnem não apenas objetos do mundo natural, mas também artefatos humanos em representações precisas e ao mesmo tempo metafóricas. Os holandeses, como mercadores viajantes, tomam contato com outras culturas, colecionando e comercializando seus objetos. Das coleções particulares, que reuniam nos gabinetes de curiosidades espécimes exóticos e artefatos culturais trazidos de longe, surgem os primeiros museus. As viagens tornam-se importantes instrumentos para o conhecimento, trazendo objetos a serem retratados por artistas ou levando os artistas para tomar contato com novas realidades. Mesmo quando não era possível ir para tão longe, a prática da viagem poderia
ocorrer dentro do próprio continente europeu, fazendo com que os artistas se deslocassem para os centros de excelência do conhecimento. Albrecht Dürer (1471-1528), por exemplo, ainda entre 1495 e 1505, faz viagens à Itália que são definitivas para trazer os conhecimentos do Renascimento Italiano para o ambiente germânico. O próprio Dürer produziu sua famosa gravura do Rinoceronte sem nunca ter visto o animal, imaginando-o apenas a partir de relatos de um viajante português que o havia visto ao vivo em suas expedições à África. Embora a imagem do rinoceronte não corresponda totalmente à representação do animal, aproxima-se bastante da realidade. Ao mesmo tempo em que cria esta espécie de fantasia de um animal existente, mas que para a sociedade da época toma quase o status de um documento representacional de um animal que eles desconheciam, Dürer também é conhecido por sua capacidade de retratar com muita precisão o mundo natural como ele se apresenta, como é o caso de suas representações de uma lebre ou das magníficas asas de uma arara. Esta dupla possibilidade que a arte oferece, de representar o mundo natural com objetividade, servindo como documento, e ao mesmo tempo poder criar novos mundos, projetando a subjetividade do artista, é uma das questões fundamentais para discorrermos sobre as imagens da natureza.
Objetividade e subjetividade são questões de interesse também quando pensamos no trabalho dos artistas viajantes que acompanhavam as expedições científicas aos novos continentes, que se intensificam sobretudo a partir dos séculos XVIII e XIX. Ao mesmo tempo em que documentavam a flora e a fauna dos novos ambientes que visitavam, muitos dos artistas naturalistas também imaginavam seres inexistentes, quer seja por não se lembrarem exatamente de como eram os animais que tinham visto, quer seja para incrementar suas narrativas de viagens. De qualquer forma, mesmo que não fossem totalmente verdadeiras, suas imagens assumiam o papel de documentos diante dos olhos dos europeus. A questão da documentação visual que a arte proporcionava para a ciência era tão séria que o próprio Alexander von Humboldt (1769-1859) escreveu recomendações para os pintores de paisagem, indicando as melhores formas de se representar a natureza. Também é conhecido o debate que Goethe (1749-1832) teria tido com Caspar David Friedrich (1774-1840), pois o primeiro acreditava que as nuvens deveriam ser pintadas a partir dos critérios científicos estabelecidos pelo meteorologista Luke Howard (1772- 1864), enquanto que o segundo defendia que podia representá-las conforme suas emoções.
As imagens dos novos continentes produzidas por artistas viajantes e multiplicadas através de gravuras e publicações de livros têm papel fundamental no desenvolvimento da ciência. A ilustração naturalista serve não apenas para documentar o mundo visível da fauna e da flora, mas para estudá-lo de forma analítica e racional. A imagem torna-se um importante instrumento para o conhecimento científico e para sua divulgação. Mesmo depois do surgimento da fotografia, a ilustração naturalista persiste devido à sua capacidade analítica em isolar aquilo que interessa do mundo visível. Juntamente a isso, o desenvolvimento da cartografia oferece novas formas de ver o mundo, que não é mais apenas documentado em suas aparências miméticas, mas pode ser representado a partir de modelos e abstrações diagramáticas, que se apresentam como novas formas do conhecimento. As imagens podem servir como guias para navegar o mundo. Não são simplesmente seu espelhamento, mas indicam caminhos para a atuação interveniente do homem. Vilém Flusser (2007) já nos advertiu que ao compreender o território através de mapas, nossa tendência é inverter a relação entre a natureza e sua representação, buscando no espaço do mundo suas correspondências para validar os mapas, esquecendo-nos de que o mapa é a representação da natureza e não o contrário. (Flusser, 2001, p.31). Assim como os mapas, as imagens de um determinado local podem ser tomadas como o local em si, embora nunca correspondam totalmente àquilo que representam. A produção cultural e imagética a respeito da paisagem, ainda que encontre um lastro no mundo natural, distancia-se dele, ao mesmo tempo em que o recria. O pensamento racional e científico produz modelos que tanto retratam o mundo como também se afastam dele.
Ao mesmo tempo em que a arte se aproxima da ciência, produzindo imagens documentais do mundo natural, seu papel como espaço para especulações metafísicas e espirituais não perde totalmente o sentido. A espiritualidade, entretanto, deixa de ser representada puramente através de imagens religiosas, mas passa a ser projetada simbolicamente na poderosa força da natureza. A grandeza das paisagens, a imensidão do mar, a aterradora beleza das montanhas nevadas, a força das cataratas, o mergulho em um mundo tomado por brumas e se abrindo para despenhadeiros são representações do Sublime, que
dominam a arte romântica. O homem se sente diminuto diante de um poder natural tão arrebatador, que ao mesmo tempo o seduz e o amedronta. O século XIX é marcado por dois movimentos: de um lado o espírito romântico que se entorpece com os mistérios do mundo; do outro, o pensamento neoclássico, que se nutre da razão e da ciência para desvendar esses mistérios. O espírito romântico irá dar origem aos movimentos simbolistas, expressionistas e impressionistas, indo desembocar no surrealismo, já no século XX. A natureza surreal já não necessita de uma conexão mimética com o mundo natural, que é mencionado como símbolo para representar as pulsões do inconsciente. Os mitos que a natureza representa voltam a surgir de maneira transformada, reinventados pela livre-associação do pensamento e pela imaginação. A imagem surrealista é um campo aberto para a experimentação e permite que o conhecimento alcance os mistérios dos pensamentos e das emoções.
A imagem do mundo no início do século XX já não pode mais se desconectar dos avanços da ciência e do sistema de produção capitalista. O olhar ingênuo sobre o mundo natural cede lugar à visões afetadas pelo conhecimento científico e pela vida urbana. Zygmunt Bauman (1998) comenta o reflexo destas alterações do mundo nas visões dos artistas modernos:
Muitos deles receberam sugestões e ânimo (...) da ciência e da tecnologia, os mais desafiadores, aventurosos e irreverentes entre as tropas de assalto do moderno despedaçamento da tradição: impressionistas da ótica antinewtoniana, cubistas da anticartesiana teoria da relatividade, surrealistas da psicanálise, futuristas dos motores de combustão e das linhas de montagem. (Bauman, 2008, p. 24)
O interesse pela máquina, pelo progresso e pela ciência e o desapego da vida espiritual marcam a vida de um homem cada vez mais urbano que acredita na construção de uma modernidade utópica, em que o humano domina e se sobrepõe à natureza através da tecnociência capitalista. A arte volta-se para a discussão de suas questões internas como linguagem, não apresentando tanto interesse em retratar o mundo natural. A ciência impõe-se definitivamente, junto da produção em massa e o desenvolvimento dos meios de comunicação. Ciência e arte passam a se distanciar cada vez mais, sendo que a primeira volta-se para a constituição de modelos abstratos e para a análise do mundo em sua microcomposição atômica ou em seu macrocosmo inalcançável, enquanto que a arte se preocupa com a expressividade ou com a afirmação de sua autonomia enquanto linguagem, refutando a ideia da imitação mimética do mundo.
As representações visuais da natureza variam de acordo com as possibilidades tecnológicas e científicas da época em que são produzidas. Enquanto no século XVIII, a ilustração pictórica é uma das únicas possibilidades de representação visual da natureza, quer seja com objetivos científicos ou artísticos, a introdução da fotografia no final do século XIX e o posterior surgimento dos métodos eletrônicos de captação de imagens em meados do século XX geraram profundas alterações em nossa capacidade de representar e perceber o mundo visível. Sobre a transição da pintura para a fotografia, Walter Benjamin (como citado em Di Felice, p. 2009) nos fala da “passagem da mão para o olho”, remetendo à mudança epistemológica que ocorre entre a representação essencialmente simbólica da pintura e o caráter mais indicial da fotografia. A fotografia passa a oferecer a almejada objetividade buscada pelo conhecimento científico e em seu princípio é vista como um retrato fiel do mundo natural. Esta nova forma de se conhecer o mundo a partir das imagens é descrita por Henry Fox Talbot (1800-1877) como o "pincel da natureza", dada a precisão com que capta os reflexos do mundo.
Se em seu princípio a fotografia ainda não é totalmente considerada arte, pouco a pouco se reconhecem os procedimentos subjetivos e as possibilidades estilísticas presentes em sua linguagem. Ao mesmo tempo, as conquistas permitidas pela fotografia oferecem aos pintores novas formas de ver o mundo, que passam a incorporar artifícios da linguagem fotográfica em suas composições e chegam até a usar projeções de imagens para produzir imagens hiper-realistas. O desenvolvimento da fotografia microscópica, da fotografia aérea e da possibilidade de captação de imagens do espaço sideral dão origem a novas imagens de coisas nunca antes vistas a olho nu.
Além da fotografia, o cinema também oferece novas formas de ver o mundo. A antiga dificuldade de retratar a natureza naturante em sua transformação constante através de imagens estáticas é agora
superada pelo surgimento das imagens em movimento. O tempo pode ser analisado, simulado, acelerado, ralentado ou até mesmo invertido na linguagem cinematográfica. A imagem, conjugada com o tempo, pode agora oferecer narrativas do espaço do mundo, conjugando-se à linguagem verbal e sonora. A natureza é um tema de grande interesse desde os primórdios do cinema. Ainda no final século XIX, Etienne Jules Marey (1830-1904) já observava o movimento de seres aquáticos em um aquário através de uma técnica precursora do cinema, chamada cronofotografia. (Fortes, 2012). São bastante conhecidos, também, os estudos fotográficos de movimento, não só de humanos, mas também de animais, realizados por Edward Muybridge (1830-1904). Os irmãos Lumière (Auguste: 1862-1954 Louis: 1864-1948), em seus primeiros filmes, também se interessavam pelo movimento de peixes e animais. A natureza destaca- se como tema para produções cinematográficas que, ao mesmo tempo em que permitem a observação científica, funcionam como interessante entretenimento. Os filmes de Jean Painlevé (1902-1989), produzidos nas primeiras décadas do século XX, apresentam novos olhares sobre a natureza, conjugando a observação científica de seres do mundo natural com narrativas envolventes e até mesmo fantasiosas. O cinema documental mescla-se à ficção científica, produzindo imagens híbridas que oscilam entre a objetividade e o entretenimento. O conhecimento presente nestas imagens não deve ser apenas racional, mas seduzir o espectador e popularizar os conteúdos da ciência. Até hoje, as produções visuais deste tipo nos encantam, desde os filmes de Jacques Cousteau (1910-1997), nos anos 60, até as recentes reportagens sobre o mundo natural feitos pela National Geographic e BBC News, entre outras.
Há, entretanto, diferenças no modo de constituição das imagens pictórica, fotográfica, cinematográfica e eletrônica. A imagem pictórica dá-se a partir da livre interpretação estética do mundo pelo artista e depende da sua habilidade manual para se constituir. Já as imagens fotográficas e cinematográficas analógicas, ainda que também contenham traços de subjetividade através dos processos de enquadramento e edição, dependem da impregnação da luz refletida nos objetos do mundo. Elas se condensam em um suporte fílmico sensível a luz. Já as imagens de origem eletrônica, como o vídeo e a fotografia digital, surgem pela tradução dos impulsos luminosos em códigos manipuláveis e que podem ser transmitidas em diferentes formatos, resoluções e equipamentos.
Para Massimo di Felice (2009), a imagem da pintura seria uma imagem de primeira geração, a da fotografia e do cinema, de segunda geração e a dos meios eletrônicos, de terceira geração. Massimo di Felice comenta ainda sobre as imagens de terceira geração, produzidas pelos meios eletrônicos:
Se tal transformação tecnológica da imagem, como na nova visão de universo elaborada pelo olho mecânico de Galileu, modifica a natureza e sua própria percepção, a introdução da imagem eletrônica, da imagem pixel e da imagem de síntese impõe dinamismos ulteriores e o surgimento de outros tipos de deslocação. Existe um consenso muito difundido entre os especialistas da mídia eletrônica de que o tipo de imagem produzida pelas novas tecnologias - a “info-imagem” ou as “imagens de síntese”- provocaria uma ruptura com aquelas produzidas pela pintura, pelo foto e pelo cinema, enquanto imagens virtuais, “auto-referentes” e autônomas. De fato, se a pintura, a foto e o cinema pressupõem o real, as imagens de terceira geração rompem com os modelos de representação, sendo elas mesmas simulações. (Di Felice, 2009, p. 209).
A percepção das imagens eletrônicas como realidades autônomas e passíveis de alteração torna-se, hoje, ainda mais presente, já que os processos de manipulação de imagens estão cada vez mais acessíveis em nossos computadores pessoais. A imagem já não é mais um documento representativo da realidade, mas uma configuração instável, que pode ou não encontrar um referente no mundo sensível. A ausência de um suporte material, sobre o qual as imagens fixam-se, podendo funcionar como documento da verdade, leva a uma insegurança sobre o potencial de espelhamento do mundo. O surgimento e popularização das câmeras digitais, dos computadores, das câmeras de celulares, da Internet e das redes sociais tornou possível a qualquer pessoa produzir suas imagens e as manipular. A instabilidade da imagem enquanto documento na contemporaneidade é percebida de maneira cada vez mais consciente, já que nos acostumamos a visualizar notícias falsas que se apoiam no poder narrativo das imagens para se afirmar como verdadeiras.
Além disso, o modo compositivo das imagens também se altera e hoje há pouca diferença entre o que chamamos de ilustração artística e imagem fotográfica. Os artistas e designers contemporâneos podem mesclar em seus trabalhos todos os sistemas imagéticos das épocas anteriores, misturando o desenho, a
pintura, a colagem, a fotografia, o cinema, e as imagens digitais de todo tipo. A sobreposição de telas a que estamos acostumados em nossos computadores e celulares também gera novas formas de composição, que incluem a transparência, a sobreposição, o movimento e a existência de espaços virtuais. Afora isso, dispomos das mais variadas tecnologias visuais, desde as imagens 3D até as animações computadorizadas, as "caves" de imersão em realidade virtual, as holografias, as imagens em realidade aumentada e ainda veremos surgir inúmeras outras tecnologias da imagem. Todos esses regimes imagéticos podem conviver em um único espaço e serem visualizados ao mesmo tempo. A facilidade da realização de projeções digitais no espaço tridimensional do mundo, através das mais avançadas técnicas de videomapping ou mesmo através de simples projeções, altera a visualidade do espaço que habitamos. Além disso, a presença massiva de telas digitais em todos os locais que circulamos, também modifica nossa percepção do entorno e nos permite a visualização simultânea de diferentes realidades. Mesmo se nos deslocarmos a um ambiente natural distante, buscando um maior contato com a natureza, estaremos provavelmente munidos de nossos aparelhos celulares e poderemos, através deles, tanto produzir imagens daquilo que vemos, alterá-las e transmiti-las em tempo real, como também poderemos ver imagens de outros lugares e tempos, estabelecendo assim simultaneidades temporais e espaciais.
As imagens eletrônicas da natureza e da paisagem podem ainda se apresentarem distantes do que realmente experimentamos no mundo sensível, mostrando-se, às vezes, até mais belas do que a natureza real. Para Anne Cauquelin (2007),
a paisagem, com a imagem digital (...) é uma pura construção, uma realidade inteira, sem divisão, sem dupla face, exatamente aquilo que ela é: um cálculo mental cujo resultado em imagem pode – mas isso não é obrigatório – assemelhar-se a uma das paisagens representadas existentes. (Cauquelin, 2007, p. 180)
Desta maneira, as paisagens digitais influem em nossa percepção do mundo natural e criam outras naturezas possíveis no espaço virtual. A mediação que as imagens nos impõem nos impossibilitam de estabelecer uma relação de intimidade sensível com o mundo, mesmo que elas nos permitam vê-lo em seus mínimos detalhes. Além disso, não foram apenas as imagens que se modificaram, mas a própria visualidade do mundo alterou-se, devido à intervenção humana. A natureza já não é mais o que foi para as gerações passadas e o impacto do homem sobre o ambiente é incomensurável. No mundo contemporâneo, já não mais conseguimos pensar em uma natureza idílica, intocável, como uma espécie de refúgio paradisíaco. Nossas paisagens receberam ao longo dos séculos muitas intervenções humanas, que alteraram suas constituições, estabeleceram fronteiras inexistentes, modificaram seu solo pela indústria agrícola, desviaram o curso de rios, interferiram no crescimento de animais e vegetais, criaram seres transgênicos, provocaram chuvas artificias, contribuíram para o desmatamento e a extinção das espécies, produziram animais em série e alteraram o ambiente de todas as maneiras. O homem urbano vive cada vez mais longe do mundo natural, tendo contato com ele às vezes, apenas através de imagens, quase sempre, digitais. A divulgação científica, popular como entretenimento nos meios de comunicação, permite-nos saber vários detalhes da biologia de um animal, até mesmo sua composição celular e genética, mesmo que nunca o tenhamos visto de perto. O conhecimento sensível no contato direto com o ambiente natural é substituído pela compreensão de modelos abstratos e codificados. Os simulacros estão por todos os lados e tomam o lugar das coisas. As imagens misturam-se à tridimensionalidade do mundo, criando paisagens interativas que reúnem o perto e o distante, o real e o virtual, a natureza e a cultura em híbridos indistinguíveis.
Muitos filósofos contemporâneos questionam a possibilidade de se fazer uma distinção entre natureza e cultura na sociedade contemporânea. Vilém Flusser (2011), por exemplo, parece afirmar uma impossibilidade de acessarmos a natureza como coisas em si, já que nos relacionamos com ela apenas através dos modelos mentais que aprendemos em nossa cultura. Donna Haraway (2008) substitui as palavras cultura e natureza pelo neologismo naturezacultura. Apenas através da compreensão desta nova realidade complexa e do nível de atuação do homem sobre o mundo natural é que poderemos tomar atitudes sustentáveis para a perpetuação sustentável de nossa espécie e dos seres que nos acompanham no ambiente em que vivemos. Pensar em naturezacultura é assumir a responsabilidade do homem sobre
o mundo que o cerca. O conhecimento que buscava encontrar a verdade do mundo, separando o referente
real da representação que enganava os sentidos, ou seja, separando o mundo natural das imagens que o refletem, parece encontrar pouco espaço no mundo contemporâneo. Nesta profusão de imagens em que vivemos, reais ou virtuais, naturais ou digitais, só nos resta investigar e dominar os códigos de produção visual e usá-los de modo efetivo em nossa atuação sobre o mundo.
Há muito tempo que a produção de imagens deixou de ser privilégio dos artistas. Além de recebermos uma grande quantidade de imagens da ciência e das mídias comunicacionais, também podemos produzir nossas próprias imagens e transmiti-las facilmente. Porém, a característica indagadora da arte, que se autoquestiona constantemente enquanto produtora de imagens do mundo, pode contribuir para que tenhamos um olhar mais consciente da natureza, ou ao menos do que resta dela. O artista contemporâneo vê-se diante deste panorama complexo e deve responder a ele. Estão à sua disposição camadas de história com um longo passado iconográfico, imagens e conceitos da ciência e da cultura midiática e possibilidades expressivas as mais diversas, nos mais variados suportes. Cada artista encontra seu meio de reagir a isso e é sua singularidade que garante que vivamos em um espaço-tempo marcado pela diversidade e pela instabilidade.
A preocupação com a natureza é apenas um tema entre muitos outros na produção artística contemporânea e se apresenta misturada a diversos outros assuntos na poética de cada artista. Há desde artistas que se envolvem consequentemente com o engajamento ecológico, até aqueles que criam mundos virtuais nos quais seres eletrônicos desenvolvem-se a partir de códigos genéticos. Há artistas que buscam o sublime através da artificialidade de mundos construídos e há aqueles que estabelecem diálogos com os estilos históricos da paisagem e da natureza morta. Há os que criticam a ciência, demonstrando a subjetividade contida na organização dos museus de história natural e há os que utilizam as próprias conquistas científicas para criar seres transgênicos e híbridos como forma de arte. Há os que salientam nosso afastamento da natureza, através da exacerbação da artificialidade, e há os que desenvolvem trabalhos com materiais ecológicos, preocupados com o impacto sobre o meio ambiente. Há os que denunciam as relações capitalistas de submissão presentes no manejo do mundo natural e há os que buscam na natureza um refúgio para suas questões existenciais. E há, sobretudo, os que trafegam entre todas essas posturas e reinventam o seu estar no mundo a partir de seu trabalho.
Proporcionar a escuta admirativa da natureza é, sem dúvida, um dos papéis que a arte pode assumir neste panorama complexo. É elevando a consciência sobre o mundo natural que ela pode contribuir para tomarmos atitudes mais sustentáveis. Ética e estética podem se aproximar para promover o respeito ao ambiente natural e sua contemplação. Não se trata de impor uma agenda à criação artística, exigindo que ela resolva todos os problemas humanos ou tenha que ser necessariamente engajada ecologicamente. Há várias maneiras da arte atuar politicamente, desde a movimentação social ativista até a pura sensibilização de um único indivíduo que pode contemplar uma obra artística por alguns minutos e repensar sua postura diante do mundo natural. A arte não necessita ser uma intervenção direta e racionalista sobre o ambiente que nos cerca. O fundamental é que ela nos sensibilize para a tomada de consciência. Não é apenas através da sugestão de medidas drásticas e panfletárias que o artista pode afetar seu público a respeito de questões ecológicas. Resgatando o conteúdo espiritual e mítico que a natureza representa, o trabalho artístico também pode instigar o respeito a nosso ambiente e fazer nos reconhecermos como seres que fazem parte deste complexo coletivo.
Para alcançar isso, não basta que a arte simplesmente mencione questões ecológicas, sendo utilizada de modo instrumental para ilustrar conceitos de outras áreas. A arte existe como discussão de linguagem em si e é a partir da elaboração criativa de seus conceitos e conteúdos formais que ela pode arrebatar mais profundamente seu público. É necessário que haja uma compreensão por parte da ciência, da política e de todas as áreas do conhecimento com as quais a arte pode efetivamente contribuir para pensar a condição humana no ambiente terrestre. Mesmo em um mundo totalmente artificializado e povoado por camadas de imagens instáveis que nos seduzem ao mesmo tempo que nos confundem, pode a arte funcionar como uma forma de conhecimento e atuação efetiva sobre o mundo. A natureza, mesmo que ameaçada, é nossa morada e o que garante nossa sobrevivência. Saber olhar para ela, sem se apegar a cânones, técnicas ou tecnologias, mas utilizando as imagens de forma consciente e investigadora em
todas as suas potencialidades é fundamental para se pensar o mundo contemporâneo. Muito além de seu caráter puramente representativo, a imagem pode nos proporcionar um olhar afetivo e sobretudo político sobre o mundo natural. Este olhar não é simplesmente passivo e receptor, mas deve atuar construindo novas realidades, enxergando a natureza não como algo distante e inalcançável, mas como o espaço em que vivemos e pelo qual somos responsáveis. Esperamos que a profusão das imagens na vida contemporânea não sirva para nos cegar, mas, sim, para nos fazer ver o que é necessário para a perpetuação da vida.
Bauman, Z. (1998). O mal-estar da pós-modernidade. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed. Cauquelin, A. (2007). A invenção da paisagem. São Paulo: Martins.
Di Felice, M. (2009). Paisagens Pós-urbanas: o fim da experiência urbana e as formas comunicativas do habitar. São Paulo: Annablume.
Fortes, H F. S, Jr. (2012) Telas líquidas: a água na produção audiovisual. Revista Esferas, 1(1), 19-25. Flusser, V. (2011). Natural:mente: vários acessos ao significado de natureza. São Paulo: Annablume. Haraway, D. (2008). When species meet. Minnesota: University of Minnesota Press.
https://doi.org/10.24316/prometeica.v0i17.226
CONTRIBUIÇÕES DE STEVEN MITHEN E DAVID LEWIS-WILLLIAMS PARA A COMPREENSÃO DA ORIGEM DAS IMAGENS
MIND, CONSCIOUSNESS AND IMAGE
Contributions by Steven Mithen and David Lewis-Williams for the Understanding of the Origin of Images
Ana Elisa Antunes Viviani1
Comunicação e Semiótica - Pontifícia Universidade Católica de São Paulo
Recibido: 10/05/2018
Aprobado: 11/07/2018
RESUMO
O objetivo deste texto é abordar como os conceitos de mente e consciência tratados, respectivamente, por Steven Mithen e David Lewis-Williams formam a base para suas hipóteses sobre as origens das imagens e o surgimento do pensamento simbólico no Homo sapiens. Os autores recorrem às ciências da psicologia e neurociência para apoiá-los em suas investigações. Enquanto a argumentação de Steven Mithen é sustentada pelas hipóteses de que a mente humana opera por fluxos cognitivos e de que a ontogenia recapitula a filogenia, a argumentação de Lewis-Williams apoia-se na ideia de que as imagens são originadas por estados alterados de consciência, condição possibilitada porque o humano moderno possui uma consciência de alta ordem.
Palavras-chaves: fluxo cognitivo, estados alterados de consciência, imaginação
ABSTRACT
This paper aims to address how the concepts of mind and consciousness treated by Steven Mithen and David Lewis-Williams form the basis for their hypotheses about the origins of images and the emergence of symbolic thinking in Homo sapiens. The authors turn to the sciences of psychology and neuroscience to support them in their investigations. While Steven Mithen's argument is supported by the hypotheses that the human mind operates by cognitive flows and that ontogeny recapitulates phylogeny, Lewis-Williams's argument rests on the idea that images are originated by altered states of consciousness, condition made possible because the modern human has a high order consciousness.
Keywords: cognitive flow, altered states of consciousness, imagination
O antropólogo sul-africano David Lewis-Williams2 e o arqueólogo inglês Steven Mithen3 compartilham uma visão comum: a de que nós, humanos atuais, não diferimos dos humanos que criaram as primeiras imagens já conhecidas, pois possuímos a mesma mente, que congrega o racional com o irracional e que
![]()
Doutoranda em Comunicação e Semiótica pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo.
David Lewis-Williams é professor da Universidade de Witwatersrand, África do Sul, e especialista nas imagens dos povos San.
Steven Mithen é professor da Universidade de Reading, Inglaterra.
faz com que elaboremos tecnologias sofisticadas, ao mesmo tempo em que rezamos para deuses e seres invisíveis. Segundo os dois autores, para entender essa realidade, é necessário perscrutar a mente e a consciência dos nossos ancestrais até o surgimento do H. sapiens.
Mente e consciência são dois termos fugidios, enganosamente simples e, portanto, alvo de investigações de diversas ciências. Mesmo que de natureza incapturável, mente e consciência produzem evidências de sua ação e, portanto, são bastante perceptíveis. E é por isso que a arqueologia tem se voltado para o estudo da mente dos hominídeos. Como escreve Steven Mithen (2002, p. 20), “É o tempo da ‘arqueologia cognitiva’.” Para isso, ambos os autores, cada um a seu modo, realizam percursos investigativos distintos, recorrendo às pesquisas em psicologia cognitiva e evolutiva, e em neurociências.
David Lewis-Williams justifica esse recurso metodológico pelo “método de entrelaçamento de vertentes de evidência”4, da filósofa e arqueóloga canadense Alison Wylie (1989). Segundo esse método, os argumentos são encadeados como numa corrente; se falta um elo, a corrente deixa de existir. Por isso, esses elos ausentes são preenchidos por meio da contribuição de outras ciências, que é o que ambos os autores procuram fazer. Além disso, David Lewis-Williams deixa evidente de que tudo o que se escreve sobre a arte paleolítica é hipotético, uma vez que nada pode ser provado; o que importa à comunidade científica é a qualidade das hipóteses.
O objetivo deste trabalho, portanto, é entender as investigações e os alicerces que sustentam as hipóteses dos dois autores, hoje considerados fundamentais para o entendimento da origem das imagens.
No livro Pré-história da mente (2002), Steven Mithen desenvolve um profundo estudo sobre o cérebro desde os australopitecos e demais derivações da família Homo até a espécie H. sapiens, dominante no planeta desde o final do Paleolítico Superior (cerca de 40.000 anos atrás).
Segundo Mithen (2002), a relação entre expansão do tamanho do cérebro, inteligência e comportamento não é tão evidente como se imaginava. Até o surgimento do H. sapiens, é possível identificar dois grandes surtos de aumento do cérebro. O primeiro teria ocorrido há cerca de 2 milhões de anos e está associado ao surgimento do H. habilis, responsável pela fabricação das primeiras ferramentas e praticante do carnivorismo5. O segundo surto teria ocorrido entre quinhentos mil e duzentos mil anos atrás, mas, a princípio, não está associado a nenhuma evidência arqueológica relevante, pois os ancestrais hominídeos mantiveram o estilo de vida dos caçadores-coletores de então. O cérebro dos neandertais, por exemplo, é inclusive maior que o do H. sapiens. Grandes transformações comportamentais só são identificadas cerca de 40 mil anos atrás, em espécimens já caracterizadas como H. sapiens sapiens e que viveram no período que se popularizou com o nome de Explosão Criativa, pois foi quando surgiram as primeiras imagens e indícios do pensamento simbólico.
Então, como funciona a mente? Para entendê-la, Mithen (2002) investiga a analogia que a compara a um canivete suíço, cujas lâminas representam inteligências aplicáveis a diferentes tipos de necessidades. Essa ideia é apresentada no livro Teoria das Inteligências Múltiplas, de Howard Gardner (1983).
Nele, Gardner (1983) concentra-se na noção de inteligência, questionando a existência de uma capacidade única e generalizada e dividindo a mente em sete tipos distintos de inteligência: linguística, musical, lógico-matemática, espacial, corporal-cinestésica, e dois tipos de inteligência pessoal, uma intrapessoal, isto é, voltada para dentro (ligada à autorreflexão e a aspectos introspectivos) e outra
Em inglês, o método é chamado de “The intertwining of numerous strands of evidence”. (Lewis-Williams, 2002, pp. 102-103)
O carnivorismo é alvo de intensas pesquisas, pois o cérebro é um órgão que demanda alto consumo de energia. Isso significa qu e para sua manutenção é necessário ingerir alimentos calóricos, o que não seria possível com uma dieta baseada no vegetarianismo.
interpessoal (relativa ao relacionamento com os outros e com o ambiente). Essas inteligências são relativamente autônomas, mas trabalham conjuntamente na resolução de problemas.
A teoria de Gardner (1983) parece bastante satisfatória aos olhos de Mithen (2002), mas este acredita que critérios daquele para a divisão dos tipos de inteligência parecem ser arbitrários demais. Por isso, Mithen (2002) recorre, então, aos estudos da psicologia evolutiva, encabeçada pelos pesquisadores norte-americanos Leda Cosmides e John Tooby (1992).
Para eles, a mente moderna só pode ser compreendida como o resultado de milhares de anos de seleção natural, o que a tornou extremamente complexa. E como em termos evolutivos abandonamos há pouco tempo a vida de caçadores-coletores, nossa mente ainda opera adaptada a essa condição. Nesse processo evolutivo, uma inteligência geral, tentando resolver todos os problemas de uma única forma, teria sido sobrepujada por uma mente dotada de módulos mentais especializados, ou domínios cognitivos, capazes de lidar com os diversos problemas adaptativos conforme lhe foram sendo impostos. Esses módulos mentais são natos, universais entre as pessoas, e dotados de conteúdo. Isso é verificável no comportamento infantil e na facilidade com que as crianças aprendem regras complexas, como as gramaticais. Para os autores, esses são indícios da existência de uma inteligência intuitiva voltada à linguagem.6
A hipótese da mente dividida em inteligências como um canivete suíço parece bastante satisfatória em um certo sentido, mas não explica uma questão muito simples: se nossa mente ainda é a mesma dos caçadores-coletores da Idade da Pedra, como se explica o desenvolvimento científico-cultural dos últimos 2500 anos, por exemplo? Para resolver esse paradoxo, Mithen (2002) recorre à psicologia do desenvolvimento e seus estudos sobre o pensamento infantil.
Para isso, o autor supõe a existência de saberes intuitivos localizados em quatro domínios comportamentais possivelmente relacionados ao estilo de vida dos caçadores-coletores da pré-história: a linguagem, a psicologia, a física e a biologia (2002, p. 79). A linguagem intuitiva já foi brevemente apresentada mais acima. A psicologia intuitiva estaria relacionada à capacidade de perceber no outro a existência de pensamentos e desejos, o que, em termos evolutivos, possibilitaria ao grupo manter sua coesão social e obter maior sucesso reprodutivo, entre outras habilidades. A biologia intuitiva, por sua vez, estaria relacionada a uma capacidade universal de criar ordenamentos ou classificações sobre o mundo natural. E da mesma forma que parece haver um conhecimento intuitivo sobre a psicologia e a biologia, é possível identificar, nas crianças, o entendimento de regras específicas quanto ao mundo físico. Esses quatro conhecimentos intuitivos parecem, então, ser basilares para se entender a mente do ser humano, mas não elimina a questão colocada anteriormente: como se explica o desenvolvimento científico-cultural dos últimos 2500 anos?
É aqui que Mithen (2002) cita o trabalho de Annette Karmiloff-Smith (1992), que desenvolveu pesquisas sobre a modularidade da mente no desenvolvimento infantil, aceitando a ideia da existência de conhecimentos intuitivos, mas considerando a importância do contexto cultural para o desenvolvimento dos domínios cognitivos na criança. Isso explicaria, portanto, porque os caçadores-coletores não teriam desenvolvido conhecimentos matemáticos, ao passo que as crianças de hoje podem ter um domínio cognitivo específico para isso. (Mithen, 2002, p. 88) Desse modo, os domínios cognitivos poderiam variar de pessoa a pessoa, uma vez que dependem do contexto cultural de cada uma.
Ainda sobre o desenvolvimento infantil, Mithen (2002) cita o trabalho da pesquisadora Patricia Greenfield (1991). Segundo ela, ao longo do seu desenvolvimento, uma criança passa pelas seguintes fases: quando ainda bebê e até cerca de dois a três anos, sua inteligência é do tipo de aprendizado geral; a partir dos três anos começa a desenvolver os conhecimentos intuitivos (já mencionados), mas logo na sequência começam a atuar conjuntamente, como em um fluxo. Esse fluxo é o que possibilitaria o
Mithen (2002) faz referência à ideia de “pobreza do estímulo” de Noam Chomsky. “Como é possível – perguntou-se Chomsky – que crianças adquiram as muitas e complexas regras da gramática a partir de uma série limitada de elocuções saindo dos lábios dos seus pais?” (MITHEN, 2002, p. 70).
desenvolvimento da criatividade e de pensamentos mais complexos, como o abstrato e o metafórico. Mas isso se aplicaria ao desenvolvimento de uma criança na atualidade. Como podemos aplicar tal entendimento à evolução da mente humana?
Isso é possível porque Mithen (2002) parte da premissa de que a ontogenia recapitula a filogenia7, isto é, “[...] a sequência de estágios do desenvolvimento por que passa o membro jovem de uma espécie – a ontogenia – reflete a sequência de formas adultas dos seus ancestrais – a filogenia.” (Mithen, 2002, p. 102)
Para ajudar a compreender essa questão, o autor cria uma analogia: a de uma catedral que vem sendo arquitetonicamente ajustada pela evolução e cujos nichos explicariam a compartimentação da mente.8 Mutações que não são bem-sucedidas desaparecem; mutações bem-sucedidas, que permitem a perpetuação da espécie, mantêm-se e se disseminam nas gerações seguintes. Obviamente, as mudanças ambientais interferem no processo evolutivo, uma vez que provocam novos problemas a serem solucionados e alteram o plano arquitetônico dessa catedral, mas esta nunca chega a ser refeita. Isso porque
“a evolução não tem a opção de voltar à prancheta e começar do zero; ela somente pode modificar o que já está lá. É por causa disso, naturalmente, que podemos apenas entender a mente moderna se conhecermos a sua pré-história. É por isso que a ontogenia talvez contenha pistas sobre a filogenia. É isso que nos permite olhar para a catedral da mente moderna e encontrar indícios da sua arquitetura passada.” (Mithen, 2002, p. 107)
A partir daí, então, Mithen (2002) divide a evolução da mente em três fases. Na fase 1, a mente é regida por uma inteligência geral, isto é, sem nenhum tipo de especialização e que se aplicaria a todos os processos decisórios. Como visto anteriormente, é equivalente à mente de uma criança no início do seu desenvolvimento.
Na fase 2, a mente passa a operar por várias inteligências especializadas, cada uma funcionando autonomamente e dedicada a um domínio específico do comportamento. Ainda há a atuação de uma inteligência geral, mas de modo reduzido, e já é possível identificar inteligências mais especializadas participando dos processos decisórios, como uma inteligência técnica, voltada para a fabricação de ferramentas e instrumentos; uma inteligência social, que possibilitaria a interação com outros membros do grupo; e a inteligência naturalista, que permitiria decodificar o ambiente e atuar sobre ele por meio do conhecimento sobre plantas, animais e paisagens. É possível supor uma inteligência linguística, que teria possibilitado o surgimento da fala e dos processos comunicativos, mas dificilmente seria totalmente autônoma, uma vez que não tem uma função em si, como seria o caso das demais. Essas diferentes inteligências, no entanto, não se comunicam umas com as outras e, por recorrerem à inteligência geral para resolver determinados problemas, o resultado não é significativo do ponto de vista evolutivo.
Na fase 3, as inteligências especializadas trabalham juntas e já é possível pressupor a existência de um fluxo em que os domínios cognitivos “conversam” uns com os outros e possibilitam o surgimento do pensamento abstrato e da criatividade. As diferentes inteligências trabalham conjuntamente e possibilitam novas formas de pensar e de se comportar. O que é mais significativo nesta fase é o fato de que “quando os pensamentos gerados em diferentes domínios podem associar-se, o resultado é uma capacidade de imaginação quase ilimitada.” (Mithen, 2002, p. 114)
Para entender cada uma dessas fases do ponto de vista filogenético, e uma vez que ainda não possuímos as evidências do ancestral comum entre os primatas humanoides e não humanoides de cerca de seis milhões de anos atrás, o chamado “elo perdido”, Mithen (2002) recorre às pesquisas feitas com
![]()
Apresentada inicialmente por Ernst Haeckel (1834-1919) na sua lei biogenética de 1866, e depois por E. Conklin (1863-1952), em 1926, essa premissa foi estudada por Stephen Jay Gould (1941-2002). (MITHEN, 2002, p. 103).
Mithen, quando estudante, trabalhou como arqueólogo na Abadia Beneditina de San Vincenzo, em Molise, Itália. No livro, descre ve como os estilos arquitetônicos se sucedem, interferindo nos nichos existentes em uma catedral.
chimpanzés9, nosso parente mais próximo segundo a árvore genealógica da qual compartilhamos. Não detalharemos todo o desdobramento da investigação feita pelo pesquisador a esse respeito, apenas destacaremos alguns pontos relevantes para o trabalho aqui proposto.
Segundo ele, os chimpanzés possuiriam mentes entre as fases 1 e 2 do desenvolvimento, pois são dotados de uma inteligência geral poderosa, mas também de processos cognitivos relativos ao desenvolvimento técnico, ao conhecimento do mundo natural, à capacidade de interação social e à linguística, embora com pesos diferentes em cada um deles. Por exemplo, a inteligência social dos chimpanzés pode ser considerada bastante sofisticada, embora a linguística apresente um desempenho muito inferior.
A fase 2 corresponderia ao surgimento dos primeiros hominídeos (cf. Quadro 1), desde os australopitecos, passando pelo H. habilis e demais espécies Homo, exceto o H. sapiens sapiens.10
Plioceno - Pleistoceno | Australopithecus ramidus | 4 milhões e meio de anos | Ambientes com árvores; vegetarianismo |
Australopithecus anamensis | 4 milhões de anos | ||
Australopithecus afarensis | 3 milhões de anos e meio | Posição ereta, mas ainda sobe em árvores; ausência de ferramentas | |
Australopithecus africanus | 2 milhões e meio de anos | Indícios de incisões em pedras | |
H. habilis | 2,4 milhões de anos | Ferramentas; artefatos líticos; carnivorismo | |
Pleistoceno (mudanças climáticas frequentes, alternando entre aumento do gelo e degelo, da tundra à floresta) | H. erectus | 1,8 milhão de anos | Mais alto e com cérebro maior; expansão para fora da África, controle do fogo |
H. heidelbergensis | 500 mil anos | Ferramentas mais sofisticadas e diversificadas | |
H. neandertlhalensis | 150 mil anos | Expansão para a Europa e Oriente Médio; sepultamento | |
Pleistoceno (última glaciação) ao Holoceno (aumento das temperaturas) | H. sapiens | 100 mil anos | Sepultamento; ornamentação; ferramentas de osso e marfim; construções de embarcações; pinturas rupestres; expansão para as Américas; agricultura; sedentarismo; civilizações |
Quadro 1: Quadro evolutivo das espécies hominídeas, sua aparição no tempo e principais evidências
No caso dos australopitecos, as únicas evidências existentes dizem respeito às suas mudanças anatômicas que o levaram ao bipedismo. Indícios de uso de ferramentas são não apenas escassos, como demoram a aparecer nessa linhagem evolutiva, por volta de 2 milhões de anos e meio atrás, praticamente no mesmo momento de surgimento do H. habilis, cujo aumento do tamanho do cérebro coincide com a presença de vestígios de ferramentas líticas.
Quanto ao H. habilis, Mithen (2002) está interessado em entender o quanto a fabricação dessas ferramentas poderia estar ligada à existência de um domínio cognitivo especializado. Uma primeira evidência residiria no fato de que algumas delas teriam servido para a fabricação de outros artefatos. Isso significa a possibilidade de arquivar na mente as características de cada matéria-prima e formular os resultados possíveis da combinação desses elementos. Além disso, a fabricação propriamente dita excluiria qualquer tipo de aleatoriedade; seria preciso identificar os melhores ângulos do bloco de pedra para daí aplicar a força necessária em outra pedra para fazer o lascamento necessário para elaborar a ferramenta. Trata-se da existência de uma inteligência muito superior àquela que é verificada em chimpanzés.
Não mencionaremos todos os autores citados por Mithen (2002). Para isso, sugerimos a leitura do capítulo Símios, macacos e o elo perdido, do seu livro já citado.
As classificações taxonômicas hominídeas são bastante complexas e não abordaremos cada uma delas. Para isso, sugerimos o livr o
Assim caminhou a humanidade, referenciado na bibliografia deste texto.
Outras conclusões relativas aos hábitos de vida do H. habilis são bastante hipotéticas e centro de grandes debates. Porém, o que é mais provável é que essa espécie seria bastante flexível quanto à alimentação, aproveitando as oportunidades que o ambiente lhe proporcionava. Essa percepção do ambiente indica que eles seriam capazes de decifrar os sinais visuais, construir mapas mentais de distribuição de recursos e de se planejar, isto é, organizar-se em termos espaço-temporais. Esses são indícios de uma inteligência do tipo naturalista sofisticada, mas ainda assim limitada, uma vez que o H. habilis não se aventurou além do contexto geográfico no qual se originou.
Outra hipótese que surge relacionada aos hábitos alimentares é sobre a convivência do H. habilis em grandes grupos e o consequente desenvolvimento de uma linguagem rudimentar. Essa é a hipótese levantada pelo antropólogo inglês Robin Dunbar (1992), que relaciona o tamanho do cérebro ao tamanho do grupo de indivíduos do qual esse cérebro faz parte: quanto maior o tamanho do grupo, mais processamento do cérebro é exigido, pois envolve relações sociais complexas.11
Essas evidências fazem com que Mithen (2002) conclua que o H. habilis possivelmente tenha possuído módulos de inteligência técnica e naturalista razoavelmente elaborados, mas, ainda assim, dotados de uma inteligência geral e uma inteligência social mais próxima dos primatas não humanoides.
Após o H. habilis, Mithen (2002) aborda os humanos arcaicos, nos quais inclui o H. erectus, o H. sapiens arcaico, o H. heidelbergensis e o H. neanderthalensis, com mais ênfase nesta última espécie, devido à maior qualidade e quantidade dos vestígios arqueológicos.12 Essas espécies encontram-se no Pleistoceno, momento em que o planeta passa por oito ciclos de glaciações e interglaciações e quando ocorre a expansão desses hominídeos para fora do continente africano, há cerca de 1,8 milhão de anos.
De que forma isso impactou a inteligência naturalista ou a percepção do ambiente por parte desses humanos arcaicos? A sofisticação dos processos cognitivos ligados à técnica, à organização social e à linguagem, como veremos adiante, muito provavelmente colaborou para a compreensão dos hábitos de novos animais e de novos recursos como plantas, fontes de água, abrigos. No caso específico do Homem de Neandertal (Homo neanderthalensis), esse conhecimento foi fundamental diante da enorme dificuldade que deve ter sido sobreviver em um ambiente inóspito. Diante disso, desenvolver ferramentas sofisticadas, que incorporassem diferentes materiais ou com objetivos específicos teria tornado menos árdua a sobrevivência. Isso, porém, é algo que só se observa com o surgimento do H. sapiens moderno.
As ferramentas líticas se sofisticaram desde o H. habilis, porém não evoluíram muito além disso, como seria o caso da incorporação de outros materiais, como o chifre e o marfim, que resultariam em ferramentas mais aprimoradas e que ofereceriam melhores chances para a perpetuação da espécie. Essa ausência de flexibilidade, no entanto, parece não se refletir no âmbito das relações sociais. Se a hipótese de Robin Dunbar (1992) for válida, então a inteligência social dos humanos arcaicos teria sido bastante elaborada, uma vez que o cérebro atinge seu maior tamanho com os Neandertais. É provável que o tamanho dos agrupamentos tenha variado conforme as condições ambientais permitissem, porém é possível supor, também, que grandes bandos facilitariam a busca por alimento, além da defesa contra espécies predadoras.
Grandes bandos poderiam significar igualmente o desenvolvimento da linguagem, conforme visto no H. habilis. Portanto, um cérebro maior, dotado de córtex pré-frontal, responsável por diversos aspectos da linguagem, mas também pela capacidade de refletir sobre o estado mental dos outros, indicaria que os humanos arcaicos teriam sido dotados de algum tipo de proto-linguagem oral. Com base nisso, Mithen (2002) conclui que a mente dessas espécies Homo seria semelhante à dos humanos atuais, porém com
Essa é uma questão controversa, pois a capacidade linguística se encontra no hemisfério esquerdo do cérebro e há um grande debate sobre os vestígios de crânios remanescentes do H. Habilis. (Mithen, 2002, p. 169)
“Os dados arqueológicos são por demais escassos ou ambíguos para podermos lidar com cada tipo de humano arcaico em separado e identificar a variabilidade cognitiva que sem dúvida existiu entre eles.” (Mithen, 2002, p. 221)
uma ausência significativa: a fluidez entre os diferentes processos cognitivos, o que corresponderia à fase 3 da evolução da mente.
O H. sapiens sapiens, ou humano moderno, é o responsável pelo surgimento dos sepultamentos ritualizados, imagens rupestres, adornos corporais e criação de ferramentas de outros materiais, entre outros artefatos até então inéditos no processo de hominização. Esses indícios, porém, só surgem há cerca de 40 mil anos, no Paleolítico Superior, quando essa espécie já habitava o planeta há alguns milhares de anos. O que teria ocorrido nesse período que levou à, então, Explosão Cultural?
Mithen (2002) acredita que houve uma reformulação da mente humana, quando inteligências especializadas passaram a funcionar de modo integrado. O grande responsável por essa integração, segundo o autor, teria sido a linguagem, que deixou de ser aplicada apenas às interações sociais e se expandiu para os demais domínios cognitivos. Para analisar esse processo, o pesquisador inglês recorre às primeiras manifestações artísticas conhecidas, especialmente as imagens figurativas, “[...] que indicam pertencer a um código simbólico, por exemplo, pela repetição dos mesmos motivos.” (2002, p. 252). O que lhe chama a atenção é exatamente essa espécie de codificação figurativa que aparece em momentos defasados e em diferentes regiões do planeta.
Diferentemente de algumas teorias que afirmam que essas primeiras manifestações artísticas teriam sido feitas aleatoriamente por indivíduos com tempo ocioso13, para Mithen (2002) elas foram criadas por seres humanos
“que viviam sob condições de grande estresse [...], num período em que as condições ambientais eram extremamente duras, à época do auge da última era glacial. Entretanto, é improvável que alguma população humana tenha vivido sob um estresse adaptativo maior que o do neandertal da Europa Ocidental – mas eles não produziram arte. Faltava-lhes a capacidade para isso.” (2002, p. 255)
Essa capacidade já estava presente na mente dos humanos modernos, o que lhes possibilitou criarem símbolos visuais, cujas características são:
Arbitrariedade do símbolo em relação ao referente;
Intenção de comunicar;
Defasagem espaço-temporal em relação ao referente;
Variação de sentidos entre culturas;
Graus de variações que guardam as características comuns e que permitem identificar como sendo o mesmo símbolo.
Segundo a lógica de Mithen (2002), às características dos símbolos correspondem atributos mentais envolvidos em sua criação (pp. 258 – 259), tais como:
Planejamento e execução segundo um molde mental preconcebido;
Comunicação intencional tendo como referência um evento ou objeto não presente;
Atribuição de significado a um objeto não associado com seu referente.
Esses atributos mentais também participavam da mente dos humanos arcaicos, pois foram capazes de planejar e executar a fabricação de ferramentas, possuíam uma linguagem de cunho social e compreendiam o significado que pegadas de animais poderiam representar. No entanto, não tiveram a capacidade de criar objetos ou imagens de natureza simbólica. Para um objeto ou imagem funcionar como símbolo é necessário que os três processos cognitivos trabalhem juntos, o que não seria possível em indivíduos nos quais essas inteligências funcionassem separadamente.
A fluidez entre os domínios cognitivos também se manifesta na própria temática da arte paleolítica. Imagens zooantropomorfas mostram seres formados com partes de corpos de humanos e de animais, o
![]()
Veremos isso com mais detalhe quando abordarmos David Lewis-Williams.
que só seria possível por meio de um fluxo cognitivo que dialoga com as diversas inteligências do humano moderno. Além disso, essas imagens parecem não fazer parte apenas das culturas pré-históricas e indicam a existência de uma universalidade da cultura humana. Convém lembrar que nas populações de caçadores-coletores contemporâneas e em povos indígenas atuais, os animais são compreendidos como pessoas.14
Relações muito próximas com os animais e com a paisagem não apenas demonstram a existência dessa fluidez cognitiva no humano moderno, como também se mostram como uma vantagem para a sobrevivência, uma vez que é possível prever o comportamento dos animais e planejar as próximas caçadas, sistematizar a busca por água e, assim, preparar-se para períodos de escassez.
Esse novo modo de pensar dos humanos modernos e que integra os diferentes domínios cognitivos inaugura outros desenvolvimentos tecnológicos, como artefatos de osso e pedra feitos para triturar, raspar, talhar, e armadilhas para capturar animais, que, por sua vez, incorporam também elementos “artísticos”, como animais esculpidos ou grafismos. Inaugura também a criação de outras categorias de artefatos, como objetos de adorno pessoal, que poderiam trazer informações importantes para relações sociais, e outros que provavelmente serviriam para armazenar informações variadas. Nesse sentido, a própria pintura rupestre funcionaria como dispositivo mnemônico, servindo
“[...] para trazer de volta à memória informações sobre o mundo natural que se encontram armazenadas na mente [...]. Por exemplo, argumentei que a maneira como muitos dos animais são pintados refere-se diretamente à maneira como foram adquiridas informações sobre seus movimentos e comportamento. Em algumas imagens, enquanto os animais foram pintados de perfil, seus cascos foram pintados no plano, como se marcas de cascos estivessem sendo representadas para facilitar a memorização e lembrança de rastros observados no ambiente, ou mesmo para ensinar crianças.” (Mithen, 2002, pp, 275 – 277).
As ideias de Mithen (2002) a esse respeito são interessantes, mas não as aprofunda e diversas questões ficam sem resposta. Por exemplo, por que há tão poucas figurações humanas em relação às de animais? As imagens bidimensionais, criadas em superfícies, seriam da mesma natureza que as tridimensionais, ou seja, aquelas criadas em objetos de adorno ou artefatos diversos?
Ao longo de sua argumentação, Mithen (2002) foca exclusivamente no aspecto intelectual do surgimento do pensamento simbólico, mas parece esquecer que nós, humanos, somos alimentados também pela imaginação e pelos sonhos. Esses outros aspectos da mente, ou da consciência, não teriam, de alguma forma, favorecido a criação das primeiras imagens? Essa é a principal hipótese de David Lewis-Williams (2002), que veremos a seguir.
David Lewis-Williams (2002), assim como Steven Mithen (2002), está interessado em entender a relação entre a evolução da mente e a criação das imagens, compreendendo também que a mente do humano moderno é a mesma do H. sapiens do Paleolítico Superior. Porém, o percurso investigativo de Lewis- Williams (2002) é muito distinto daquele efetuado pelo arqueólogo inglês. Inicialmente, o autor parte de dois pressupostos ideados pelo pensador italiano Giambattista Vico (1668-1744)15: o de que povos não-ocidentais são dotados de intencionalidades poéticas e metafóricas, tanto quanto os ocidentais, rejeitando, portanto, já no século XVIII, a ideia de que povos indígenas possuiriam noções de mundo primitivas e o argumento de que o mundo material é moldado pela mente humana, existindo uma linguagem universal, comum a todas as culturas. (Lewis-Williams, 2002, p. 51, tradução livre)
![]()
“Sempre que eu perguntava aos achuar por que os cervos, o macaco-prego e as plantas de amendoim apareciam sob forma humana nos seus sonhos, eles me respondiam, surpresos com a ingenuidade de minha pergunta, que a maior parte das plantas e dos animais são pessoas como nós. Nos sonhos, podemos vê-los sem suas fantasias animais ou vegetais, ou seja, como humanos.” (Descola, 2016, p. 13)
Giambattista Vico também foi jurista e classicista italiano, autor de Princípios de uma Ciência Nova.
Lewis-Williams (2002) abraça os pressupostos de Vico, recusando julgamentos de que os humanos do Paleolítico seriam primitivos e destacando apenas que, enquanto para Vico a mente seria um órgão intelectual que faz a mediação entre o mundo mental e o mundo material, para Lewis-Williams (2002) esse papel seria feito pela consciência.
É por isso que o autor sul-africano acha bastante interessante a estrutura da argumentação de Mithen (2002), mas acredita que é falha pelo fato de que a psicologia evolutiva se baseia no comportamento de animais e humanos para inferir sobre a modularidade da mente, o que torna sua aplicação à população de hominídeos pré-sapiens questionável. Outro ponto que incomoda Lewis-Williams (2002) é o fato também de que Mithen (2002) utiliza muitas metáforas para explicar a mente, mas tem pouco embasamento no funcionamento da neurologia humana. Entretanto, o que mais faz com que Lewis- Wiliams (2002) critique a hipótese de Mithen (2002) é sua demasiada ênfase na inteligência, entendendo a evolução humana exclusivamente sob o viés de uma racionalidade ocidental, quase científica (LEWIS- WILLIAMS, 2002, p, 111). Para ele, é todo o espectro da consciência humana e seu desdobramento (o que inclui o sonho, a imaginação e a memória) o responsável pela Transição, nome pelo qual o autor designa a Explosão Criativa, por se tratar da transição do Paleolítico Médio ao Paleolítico Superior.
Mas a qual concepção de consciência Lewis-Williams (2002) se refere? À concepção medieval, pois mesmo que muito diferente da concepção ocidental atual, ainda tem a mesma base neurológica. Segundo ele, na concepção medieval “as pessoas valorizavam sonhos e visões como fontes de conhecimento garantidas por deus” (2002, pp. 112-121, tradução livre). Um dos exemplos é o da monja Hildegard von Bingen (1098-1179)16, que “[...] acreditava que suas visões revelavam não apenas as instruções pessoais de Deus a ela, mas também a estrutura material do universo: ela não fazia distinção entre revelação religiosa e ‘ciência’.” (2002, p. 121, tradução livre). Atualmente, para a ciência ocidental, o conhecimento inspirado por visões ou por sonhos não é considerado válido, mas o que Lewis-Williams (2002) procura provar com essa referência é que a consciência é uma noção construída histórica e culturalmente, porém fundamentada na neurologia.
Sendo assim, recorre ao psicólogo cognitivo Colin Martindale (1981), para quem os estados alterados de consciência necessitam ser estudados tanto quanto a própria consciência racional e lógica; eles fazem parte da natureza humana17 e têm um grande papel na transformação cultural do H. sapiens do Paleolítico Superior.
Segundo Martindale18 (como citado em LEWIS-WILLIAMS, 2002, p. 123), à medida que adormecemos, passamos pelos seguintes estados:
Desperto: quando o pensamento é voltado para a resolução de problemas e é estimulado pelo ambiente;
Fantasia realística: especulamos sobre possíveis resultados para um determinado problema;
Fantasia austística: é uma derivação da fantasia realística, ou quando começamos a nos desconectar da realidade;
Devaneio: quando o pensamento não tem orientação específica e imagens se sucedem na mente, sem nenhuma sequência narrativa;
Estados hipnógenos (ou de dormência): podem ser extremamente vívidos e algumas pessoas chegam a vivenciá-los como formas de alucinações (visuais ou auditivas);
![]()
Hildegard von Bingen (1098 – 1179) foi uma monja alemã, filósofa, poeta e compositora que se tornou famosa em parte por suas visões, atribuídas a deus como fonte de seu conhecimento.
Lewis-Williams (2002) apresenta como referência o Ethnographic Atlas, de George P. Murdock (1897-1985), uma publicação na qual
são relatadas experiências de estados alterados de consciência em cerca de 90% das comunidades pesquisadas.
Martindale, C. (1981). Cognition and consciousness. Homewood, Illinois: Dorsey Press.
Sonho: quando há sucessão de imagens conectadas por uma narrativa e quando ocorre o REM (rapid eye movement). Neste momento, a atividade neural produz imagens mentais e possibilita experienciar sensações como voar, mergulha e cair, entre outras sensações físicas.
Com base nisso, Lewis-Williams (2002) elabora seu próprio espectro da consciência (Quadro 2) considerando duas trajetórias: a normal, em que os estados que levam ao sonho e à inconsciência se sucedem; e a intensificada, quando o corpo está desperto, mas a consciência se introverte e passa a fantasiar. Nessa trajetória, estados austísticos, por exemplo, podem ser induzidos sem necessariamente estarem ligados à indução do sono. A redução de estímulos do ambiente, como ausência de luz e som, ou o oposto, estímulos auditivos e visuais rítmicos, podem provocar estados alucinatórios, como é reportado em diversas culturas. Além disso, condições físicas extremas, como a fadiga e o jejum, dores agudas, ou ainda a ingestão de substâncias psicotrópicas, bem como estados psicopatológicos extremos, como esquizofrenia, também são capazes de provocar alterações na consciência que liberam imagens mentais, quando não alucinações.
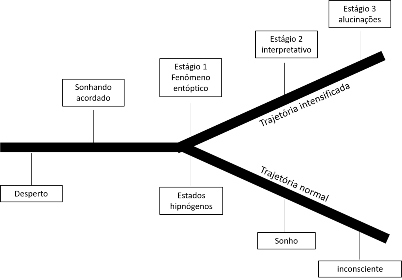
Quadro 2. Espectro da consciência e suas trajetórias possíveis, segundo David Lewis-Williams.
Segundo o autor, a diferença entre as duas trajetórias reside mais em uma questão de grau do que de tipo. Independentemente disso, o fato é que todos esses estados mentais são gerados neurologicamente pelo sistema nervoso humano e, portanto, são parte do que é propriamente ser humano. Isto é, os efeitos dos diferentes estados de consciência são os mesmos em qualquer ser humano, uma vez que são originados neurologicamente, mas seus conteúdos são necessariamente culturais. Por exemplo, as visões de um morador de uma aldeia na Amazônia são distintas das de um morador de uma aldeia na Suíça, embora o funcionamento neurológico seja o mesmo para ambos.
Lewis-Williams (2002) identifica três estágios relacionados à trajetória intensificada apresentada em seu modelo. Eles não são necessariamente sequenciais, mas podem ser vistos como cumulativos e possuidores de características próprias.
No primeiro estágio, descrito como fenômeno entóptico, as visões ocorrem entre o olho propriamente dito e o córtex cerebral e são provocadas por estímulos distintos da luz. São geometrismos e grafismos, como pontos, ziguezagues, curvas e linhas sinuosas. Todos os seres humanos são capazes de visualizá- los, independentemente de seu repertório cultural, uma vez que estes perceptos estão ‘enrolados’ em
seus sistemas nervosos. Essas imagens podem ser visualizadas com os olhos fechados ou abertos e não se tem controle sobre elas. Nesses estados, os indivíduos são capazes de ver a própria estrutura cerebral.19
“[...] descobriu-se que os padrões de conexões entre a retina e o córtex estriado (conhecido como VI) e os circuitos neurais no córtex estriado determinaram sua forma geométrica. Desta forma, existe uma relação especial entre a retina e o córtex visual: pontos que estão mais próximos da retina levam ao disparo de neurônios comparativamente àqueles localizados no córtex. Quando este processo é revertido, como após a ingestão de substâncias psicotrópicas, o padrão do córtex é percebido como um percepto visual. Em outras palavras, pessoas nessas condições vêem a estrutura de seus próprios cérebros.” (Lewis-Williams, 2002, p. 127, tradução livre)
Os fenômenos entópticos englobam dois tipos de perceptos geométricos: os fosfenos, que podem ser induzidos por estímulos físicos, e os constantes de forma, que acontecem no sistema ótico. Esses fenômenos não devem ser confundidos com alucinações, pois “[...] alucinações incluem imaginário icônico de elementos controlados culturalmente, como animais, bem como experiências somáticas (corpóreas), auditivas (audição), gustativa (paladar) e olfativa (tato).” (2002, p. 127)
No segundo estágio, chamado de interpretativo, as pessoas tentam dar sentido às imagens geradas no fenômeno entóptico enquadrando-as em seu repertório cotidiano de imagens. Então, de modo muito simplificado, se o indivíduo estiver com sede, pode ser que seu cérebro tente interpretar uma determinada forma como um copo de água.
No terceiro estágio, alucinatório, indivíduos de culturas ocidentais relatam experienciar entrar em um túnel ou vórtex que os envolve e que os afasta cada vez mais do mundo exterior, ao passo que indivíduos de culturas não ocidentais descrevem a sensação de entrar em um buraco no chão, como se tentassem alcançar o mundo espiritual, como é relatado por xamãs. Nas paredes do vórtex ou do túnel, imagens surgem espontaneamente (Lewis-Williams, 2002, p. 129). Essa experiência pode ser considerada universal nos seres humanos, pois são proporcionadas por suas conexões neurais, porém as imagens icônicas vistas estão diretamente relacionadas à memória e às próprias experiências pessoais de cada um.
Os fenômenos entópticos também podem ser vivenciados nesta fase. Eles podem se decompor e formar novas imagens, como as pernas e pescoços em ziguezague, o que é muito comum nas pinturas rupestres. Experiências profundas nesse estágio podem fazer com que a pessoa se sinta participante de um outro mundo, como se se transformasse em animais ou seres fantásticos.
Para Lewis-Williams (2002), ainda é preciso entender as diferenças existentes no cérebro dos humanos modernos, que lhes teriam possibilitado o surgimento da consciência e, consequentemente, da formação de imagens, e o cérebro dos neandertais. Para isso, o autor recorre às pesquisas de Gerald Edelman, vencedor do Nobel de 1972 por suas pesquisas em imunologia, e que posteriormente o levaram a perceber que a evolução do sistema imunológico é análoga à evolução da estrutura cerebral. Para Edelman (1994), para se entender a consciência é preciso estudar o funcionamento do cérebro.
Não abordaremos aqui, detalhadamente, seus aspectos neurofisiológicos, apenas destacar que a partir dessa investigação, Edelman (1994) identifica dois tipos de consciência: a consciência de primeira ordem e a consciência de alta ordem. As espécies dotadas de consciência de primeira ordem, como é o caso de alguns mamíferos e pássaros, estariam cientes do ambiente, mas a eles faltaria a noção de tempo, passado e futuro, prendendo-os naquilo que Edelman (1994) chama de presente relembrado20, diferentemente dos seres dotados de uma consciência de alta ordem, cientes da passagem do tempo e cuja memória seria capaz de criar relações e interpretações sobre essa relação. Os seres dotados de consciência de primeira ordem não possuem a consciência de si, ou a consciência de ser consciente, que
![]()
David Lewis-Williams utiliza como referência a obra de Breslloff, P.C., Cowan, J.D., Golubitsky, M., Thomas, P.J. & Wiener, M.C. 2000. Geometric visual hallucinations, Euclidian symmetry and the functional architecture of the striate cortex. Philosophical Transactions of the Royal Society, London, Series B, 356, 299-330.
Edelman usa o termo “remembered present”.
são características próprias daqueles que possuem a consciência de alta ordem, e cuja condição resultou no desenvolvimento da memória simbólica e da linguagem.
Desse modo, e muito resumidamente, para David Lewis-Williams(2002), os neandertais teriam uma consciência de primeira ordem, enquanto o H. sapiens teria uma consciência de alta ordem, o que explicaria o motivo pelo qual os neandertais supostamente teriam emprestado alguns comportamentos dos H. sapiens e outros não. Eles estariam presos no presente relembrado, possuindo uma forma de linguagem que os possibilitou aprender a lapidar pedras com esmero, mas não a traçar estratégias para caçadas, criar estruturas sociais mais complexas, ou conceber um mundo espiritual.
Mais do que isso, a ausência de uma consciência de alta ordem privou os neandertais de experimentarem integralmente o espectro da consciência esboçado por Lewis-Williams e, portanto, não seriam capazes de reter na memória as imagens produzidas por ela e nem de elaborar interpretações sobre suas visões e sonhos. Indivíduos nesse estado conversam com os espíritos, assim como os espíritos conversam com eles. Para que isso fosse possível, seria necessária uma linguagem sofisticada, como teriam os H. sapiens. Por isso, a consciência de alta ordem e a linguagem estão intrinsecamente ligadas.
As imagens geradas em estados alterados de consciência ficam retidas na retina por um determinado tempo e os indivíduos podem vê-las projetadas em superfícies como um filme e experienciá-las como pós-imagens.21 Para Lewis-Williams (2002), portanto, as imagens – particularmente as bidimensionais
- não foram inventadas, nem descobertas aleatoriamente em marcas naturais nas paredes e nem derivadas de artefatos tridimensionais; o mundo é que já estava investido delas, mas na imaginação e na memória dos humanos do Paleolítico Superior. Vejamos rapidamente o que diz o autor nesse sentido.
Alguns autores, como o abade Henri Breuil22, sugerem que as imagens poderiam ter surgido em diversas situações, como, por exemplo, a partir da percepção de que certas nervuras e linhas nas paredes das rochas pareciam formar o contorno de animais, ou, ainda, espontaneamente a partir dos arabescos formados com o deslizar dos dedos no lodo formado nas cavernas, ou, ainda, a partir da impressão das mãos nas paredes, que, de alguma forma, acabaram evoluindo para imagens de animais. Outros pesquisadores, como Brigitte e Gilles Delluc23, acreditam que essas imagens bidimensionais teriam sido transpostas do mundo tridimensional por indivíduos dotados de grande inteligência.
Segundo Lewis-Williams (2002), essas hipóteses são insatisfatórias, pois partem do pressuposto de que a vida no Paleolítico Superior seria um paraíso idílico, em que os indivíduos teriam tempo disponível para criar imagens, como se essa fosse uma capacidade inata. Além disso, dois outros argumentos invalidam essas hipóteses, como as evidências de marcas e gravações em ossos e pedras desde muito antes da Explosão Criativa, e o fato de que o reconhecimento de contornos de animais nas paredes das cavernas requereria a expectativa de se reconhecer os animais nessas linhas. Isso é facilmente provado, porque a criação de imagens bidimensionais não é universal na cultura humana.
De acordo com Lewis-Williams (2002), a existência de determinados motivos ou padrões de imagens não é trivial, pois, para que eles fizessem sentido em um contexto social, precisariam ter um valor social compartilhado a priori, sendo que a imagem figurativa possivelmente teria tido um papel primordial na comunicação entre os H. sapiens do período em questão. Para o autor, o fato de que os fabricantes dessas imagens24 preferissem representar determinados animais e não outros (bisões, por exemplo, e não corujas ou mesmo plantas), poderia significar que esses indivíduos possuíam um “vocabulário de motivos” (Lewis-Williams, 2002, p. 185) que existiria em suas mentes antes mesmo de produzirem imagens.
![]()
O termo pós-imagem é de Heinrich Klüver (1897-1979), pesquisador de origem alemã, cujo trabalho sobre mescalina é abordado por Lewis-Williams.
Henri Breuil (1877-1961) foi um abade francês que se tornou muito conhecido por seus estudos sobre as imagens das cavernas do sudeste europeu.
Pesquisadores franceses especialistas na arte paleolítica.
Em todo o livro, o autor utiliza o termo image-maker para referir-se aos artistas paleolíticos.
O fato de os profundos estados alterados de consciência proporcionarem a sensação de acesso ao mundo subterrâneo criam a noção de um cosmo em camadas. Essa conclusão está diretamente relacionada à pesquisa do autor especificamente sobre as imagens criadas no interior das cavernas no sul da França e corrobora o pressuposto de Vico de que a mente molda o mundo, e dá corpo à sua hipótese de interconexão entre a topografia da caverna e a mente. (Lewis-Williams, 2002, p. 210)
Esse mundo subterrâneo não seria uma especulação mental, mas o mundo dos espíritos propriamente dito, tangível e material, ao qual apenas alguns indivíduos do grupo teriam acesso. Esses indivíduos, apartados de seu núcleo social por possuírem a capacidade de criar e interpretar imagens, formam a base de outra hipótese de Lewis-William: a da existência de um certo tipo de xamanismo paleolítico, comportamento que é verificado nas comunidades xamânicas ainda existentes no mundo.
Isso permite ao autor concluir que a fabricação e a existência desse tipo de imagens não diriam respeito apenas a crenças religiosas ou rituais, mas daria sentido à toda a vida econômica e social dessas comunidades paleolíticas, ou seja, ao mundo material e ao mundo espiritual.
Como vimos ao longo do texto, o processo que possibilitou aos seres humanos a criação de imagens foi longo e complexo. Para Steven Mithen (2002) foi o desbloqueio dos nichos das inteligências especializadas, construídas ao longo de milhares de anos, que possibilitou a existência de um fluxo cognitivo que as articulou permitindo a emergência do pensamento simbólico e a origem das imagens. E embora Mithen (2002) argumente que a existência de uma linguagem complexa seria a responsável por esse desbloqueio entre as inteligências, é David Lewis-Williams (2002) quem nos auxilia nesse item quando fala da importância do sonho e da imaginação, possibilitados pela relação entre estados alterados de consciência e uma consciência de alta ordem, e pela capacidade do H. sapiens, ou seja, nós mesmos, de reter na memória as imagens criadas.
Esse é um recurso que o próprio Lewis-Williams (2002) utiliza quando nos traz à imaginação o mito da caverna de Platão. Segundo esse mito, as sombras do mundo exterior projetadas no interior da caverna são vistas pelos prisioneiros como sendo o mundo real. Ao rever esse mito, o antropólogo sul-africano faz uma correção. Segundo ele, a luz que entra na caverna projeta a sombra das mentes dos prisioneiros que, por sua vez, se mistura com a sombra dos objetos externos na parede criando um panorama multidimensional. É por isso que, para ele, a topografia e a geomorfologia da caverna e a mente dos seres humanos estão intrinsecamente interconectadas. E é por isso, então, que imaginação e realidade acabam se tornando as duas faces da nossa condição humana.
Cosmides, L., Tooby, J. (1992). Cognitive adaptations for social exchange. In: Barkow, J. H., Cosmides, L., Tooby, J. The Adapted Mind. New York: Oxford University Press.
Descola, P. (2016). Outras naturezas, outras culturas. São Paulo: Editora 34.
Dunbar, R. (1992). Neocortex size as a constraint on group size in primates. Journal of Human Evolution, v. 20, p. 469-93.
Edelman, G. M. (1994). Bright air, brilliant fire: on the matter of the mind. Harmondsworth: Penguin.
Gardner, H. (1983). Frames of the Mind: the Theory of Multiples Intelligences. New York: Basic Books.
Greenfield, P.M. (1991). Language, tools and brain: the ontogeny and phylogeny of hierarchically organized sequential behavior. Behavioral and Brain Sciences. V. 14, p. 531-95, 1991.
Karmiloff-Smith, A. (1992). Beyond Modularity: a developmental perspective on Cognitive Science.
Cambridge MA: MIT Press.
Lewis-Williams, D. (2004). The mind in the cave. London: Thames & Hudson.
Mithen, S. (2002). A pré-história da mente: uma busca das origens da arte, da religião e da ciência. São Paulo: Editora UNESP.
Neves, W., Rangel Jr., M. J., Murrieta, R. S. (org). (2015). Assim caminhou a humanidade. São Paulo: Palas Athena.
Wylie, A. 1989. Archaeological cables and tacking: the implications of practice for Bernstein´s ´Options beyond objectivism and relativism’. Philosophy of Science 19, 1-18.
https://doi.org/10.24316/prometeica.v0i17.227
THE KNOWLEDGE OF POPULAR IMAGES: SOCIAL PSYCHOLOGY AND AESTHETIC EXPERIENCE
IN FANTASTIC BUILDERS AND ARCHITECTURES
Arley Andriolo2
(Instituto de Psicologia - Universidade de São Paulo)
Recibido: 15/05/2018
Aprobado: 11/07/2018
RESUMO
O reconhecimento de objetos produzidos pelas classes populares como objetos de arte corresponde a um processo histórico situado entre os séculos XIX e XX. Aqueles objetos foram qualificados por termos como “revolucionário” e “anticapitalista”. Dentre as obras arquitetônicas, surgiram imagens inventivas e fantásticas, as quais concentram um problema acerca do conhecimento das imagens populares. O estudo dessa questão situa-se em dois campos entrecruzados: 1) o campo artístico, com seu habitus e suas regras; 2) o campo do folclore, com suas regras próprias. Em ambos, o conhecimento da imagem está limitado, pois não se discute o significado próprio da experiência e do seu imaginário originário. Este artigo procura examinar essa questão, cujo resultado é a proposição de três elementos fundamentais para o conhecimento da imagem, nos termos de arte, imaginação e experiência estética.
Palavra-Chave: Psicologia Social da Imagem; Arte Popular; Arte e Sociedade; Estética Social
ABSTRACT
The recognition of the objects produced by popular class members as art objects corresponds to a historical process between the XIXth and the XXth centuries. Those objects were considered regarding their qualities as “revolutionary” and “anti-capitalist.” Among the architectural works, there were creative and fantastic images which concentrate a problem on the knowledge of popular images. The study of this question lies in two interconnected fields: 1) the artistic field, with its habitus and its rules; 2) and the field of folklore, with its own rules. In both, the knowledge of the image is limited because the proper meaning of the experience and its original imaginary are not discussed. This article seeks to examine this
![]()
1 Esta pesquisa contou com dados coletados em visita de estudos à França. Naquele momento, contou com a orientação do prof. João Frayze-Pereira e as indicações da Profa. Annateresa Fabris. Financiamento da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo.
2 Professor Associado Departamento de Psicologia Social e do Trabalho do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, onde é coordenador do Laboratório de Estudos em Psicologia da Arte. Bacharel e licenciado em História (FFLCH e FE-USP), Doutor em Psicologia Social (IP-USP), recebeu o título de Livre-Docência em 2014, com a tese A transformação do mundo em pintura: estudos em psicologia social do fenômeno das imagens. Orientador do Programa de pós-graduação em Psicologia Social (IP-USP), junto à linha de pesquisa “Psicologia Social de Fenômenos Histórico-Culturais Específicos”, na subárea “Percepção e experiência estética na vida social”. Conforme abordagem em fenomenologia social, seus projetos são dedicados à compreensão das imagens, da estética e da arte na vida social.
question, and the result is a proposition of three fundamental elements of the image knowledge, concerning art, imagination and aesthetic experience.
Keywords: Social Psychology of the Image; Popular Art; Art and Society; Social Aesthetics
Joseph Ferdinand Cheval (1836-1924) era carteiro na região francesa do Drôme, na França, entre Grenoble e Valence, quando, em junho de 1879, iniciou a longa jornada de construção de um palácio no terreno do fundo de sua casa, em Hauterives. Tinha 43 anos naquele momento. As origens desse impulso são incertas, ora voltadas para as pedras coletadas pelos caminhos, as quais lhe chamaram a atenção para novas formas, ora para um sonho que lhe incitara tal missão. A conclusão da tarefa ocorreu cerca de trinta e três anos depois. O templo seria a última morada do carteiro se os poderes municipais não tivessem intervindo contra seu intento. Como essa determinação da municipalidade deu-se antes de sua morte, Cheval encontrou forças para erigir um pequeno palácio no cemitério local, no qual seu corpo descansou.
Reunidos pedaços de pedras e outros materiais coletados pelos caminhos, por meio do trabalho de pedreiro, o carteiro ergueu com cimento uma edificação de paredes espessas, repleta de formas e esculturas simbólicas, animais, monstros, homens e mulheres. O Palais Idéal, como foi chamado, abre- se em estreitos corredores e passagens ladeados de paredes sobre as quais frases e dizeres instruem os visitantes. A grande fachada é protegida por três gigantes guardiões: César, Vercingéntorix e Arquimedes.
A edificação atraiu a atenção de muitos artistas e intelectuais, particularmente de surrealistas como André Breton (1896-1966), que lá esteve no ano de 1931, e também, dedicando-lhe algumas páginas de seu “Message Automatique”, dois anos depois. Breton reconhecia na manifestação de Cheval a origem de processos criativos a serem situados junto a seu manifesto do surrealismo. Trata-se de construção marcante em sua suntuosidade e elementos iconográficos proveniente do imaginário popular oitocentista, mas que, como notou Delacampagne (1989), não recebeu grande atenção das autoridades.
Apenas no ano de 1969, o Palácio Ideal foi elevado à condição de monumento, inscrito no livro do patrimônio francês. Tornado patrimônio histórico, converteu-se em destino turístico, se não dos mais visitados, ao menos ganhou um lugar nos mapas e roteiros. O vilarejo recebeu um escritório de turismo, a classificação como “ville botanique” e uma galeria de artistas “marginais”, chamada L’Art en Marche.
A contrapartida ao reconhecimento desse monumento veio da própria intelectualidade francesa. Alguns estudiosos observaram com desconfiança o aparecimento dessas obras oriundas de criadores populares em condições extrínsecas ao campo artístico. O embate mais elucidativo dessa questão, provavelmente, teve origem na crítica de Pierre Bourdieu (1930-2002) à noção de Art Brut, para quem o reconhecimento de algo como “de arte” é um arbitrário social que, ao mesmo tempo em que se impõe como verdade, oculta seu processo histórico e conflituoso de formação. Para a teoria do habitus, a localização dos criadores brutos se dá tão-somente no olho do crítico que os reconhece como tal. Nesse sentido, seria inapropriado falar-se em “arte popular”, “arte ingênua” ou “arte bruta”, porque não representariam senão uma determinação exterior.
Como o habitus de classe reproduz-se através da educação, a produção de obras por classes desprovidas total ou parcialmente de capital cultural tenderia a reproduzir esquemas simplificados da chamada arte culta. Os autodidatas que, por inclinação pessoal, passam a dedicar-se à produção de obras de arte, o fariam segundo esses esquemas provenientes das classes dominantes, a eles acessíveis pelo sistema educacional. O sociólogo exemplifica esse ponto por meio do Palácio de Ferdinand Cheval, “imagem da cultura pequeno-burguesa”, “feérica de folhetim saída das gravuras da Veillée des Chaumières com seus labirintos e suas galerias, suas grotas e cascatas” (Bourdieu, 1979, p. 380; tradução livre).
Noutra passagem, em seu As regras da arte, Bourdieu (1996) mirou diretamente a Art Brut – “uma espécie de arte natural que só existe como tal por um decreto arbitrário dos mais refinados” – e seus teóricos, Thévoz (1936- ) e Cardinal (1940- ), nos seguintes termos:
por uma espécie de contra-senso absoluto, senão porque ignoram que elas só podem aparecer como tais para um olho produzido, - como o deles - , pelo campo artístico, logo, habitado pela lógica desse campo: é toda a história do campo artístico que determina (ou torna possível) a tentativa essencialmente contraditória e necessariamente condenada ao fracasso pela qual visam constituir artistas contra a definição histórica do artista. (Bourdieu, 1996, p. 277).
Com relação ao Palácio Ideal, o filósofo Christian Delacampagne (1989, p. 8) rebateu essa crítica, dizendo que faltava a Bourdieu uma dimensão daquele monumento: “ele não vê como tal obra se constitui numa criação subversiva, abrindo uma brecha nos conformismos arquiteturais e artíst icos”. E Michel Thévoz (1997), em resposta ao ataque frontal, indaga se não seria o argumento do sociólogo, ele próprio, tautológico, dizendo:
A lógica formal jamais traiu melhor sua incongruência que aplicada à arte. A prova do pudim, dizia Engels, é que a ele se come; a prova da Art Brut é que a ela se vê, prova também que a contradição está no princípio da criação simbólica. Acreditara-se compreender que, de um ponto de vista ético ou político, Pierre Bourdieu estigmatizava a transmissão hereditária do capital cultural... (Thévoz, 1997, p. 7; tradução livre)
Há diversos níveis de problemas expostos nesse debate, os quais, no limite, remetem à existência social de coisas, ou a coisas que não existem socialmente, ou seja, do reconhecimento conferido aos objetos e saberes oriundos da experiência das classes populares. Como intervenção situada no campo da psicologia social, dentre os diversos níveis, circunscreverei neste artigo o problema que me parece mais evidente nessa discussão que trata da experiência estética de gente comum. Para tanto, considere-se, de imediato, o problema da formação do campo artístico, com suas regras e habitus, do qual resulta um discurso sobre a arte conforme regras de distinção, como queria Bourdieu.
O reconhecimento artístico de manifestações, tais como esta de Cheval, situa-se em dois campos entrecruzados. Por um lado, a formação do campo artístico, do ponto de vista sociológico, com seu habitus e suas regras restritos aos membros do campo, a partir do século XIX, opera sobre uma distinção entre artes maiores e menores, a qual resultou na proposição de uma “arte popular” circunscrita no campo do folclore. Por outro lado, os objetos de valor artístico provenientes das classes populares não dizem respeito apenas às categorias do campo artístico ou do folclore, mas revelam um conhecimento sensível próprio da experiência e do imaginário desses grupos sociais. O problema a ser examinado neste artigo situa-se nesse debate acerca do estudo das imagens populares, manifestas em objetos limítrofes ao campo artístico, cujo resultado será a proposição de três elementos fundamentais para o conhecimento em psicologia social, nos termos de arte, imaginação e experiência estética.

Figura 1. Ferdinand Cheval, Palácio Ideal, Hauterives, França. Fotografia do autor, 2003.
Embora o Palais Idéal seja reconhecido como um marco dessas arquiteturas, muitos pesquisadores têm indicado a prática, tanto no século XIX, quanto nos anteriores, de arquiteturas ou esculturas enigmáticas espalhadas em regiões camponesas (Maizels, 2007), entre elas, a de Miller of Lacoste (século 19- ) ou François Michaud (1810-1890), na vila de Masgot, França. Há também relações distantes no tempo com as imagens esculpidas nos jardins de Bomarzo, na Itália (c. 1550), realizadas por hábeis oficiais sob as ordens do duque de Orsini (1523-1585), ou com a Caverna des Moisseaux, no Vale do Loire, do século XVI.
Contemporâneo ao palácio do carteiro Cheval são os rochedos esculpidos pelo abade Fouré (1839-1910), em Rothéneuf, a leste de Saint-Malo, na França. Em uma paisagem próxima à praia, o abade trabalhou por cerca de vinte e cinco anos sobre as rochas de granito, dando forma a três centenas de figuras de monstros, piratas, alegorias das mais variadas.
Atualmente, as obras artísticas de Cheval e Fouré são pontos de visitação turística - ao palácio do carteiro dirigem-se cerca de 130.000 visitantes anuais (cf. site da Associação de l’Art en Marche). Apesar da ampla malha ferroviária francesa, não há estação de trem na cidade de Hauterives. Pega-se um TGV em Paris, na gare de Lyon que, em duas horas, faz parada na gare de Valence. Para chegar ao vilarejo, pode- se pegar um ônibus com dias e horários variados ou locar um carro. Conforme a classificação turística, Hauterives é uma ville botanique. Muitos grupos escolares fazem visitas regulares ao lugar, além de grupos de adultos, franceses e de outros países.
Uma aleia dá acesso à entrada do palácio. Bem equipada, abriga o Office de tourisme, uma loja que vende artesanato, potes de cerâmica, bichos de pelúcia, cartões postais, outra especializada em suvenires, junto à qual está o restaurante La Galaure, também o restaurante Aux delices du Palais e uma lanchonete, chamada Le Clos. Em frente a esse espaço, uma galeria de arte foi instalada e, pouco adiante, encontra- se a galeria da Associação L’Art en Marche, dedicada a artistas brutos e singulares.
O monumento do carteiro guarda a referência maior de representar o ingresso no mundo da arte de um homem comum. Delacampagne (1989), ao estudar a participação de alguns artistas das classes populares na formação da arte moderna, afirmou que Cheval representa “a irrupção dos excluídos no mundo da arte” (Delacampagne, 1989, p. 8).
O aparecimento das imagens fabulosas e fantásticas na cultura ocidental não diz respeito apenas às transformações no campo das artes, mas da manipulação de materiais com elaboração formal e simbólica no interior das classes populares. De maneira geral, a interpretação histórica mais corrente procura situar essas imagens no interior do processo de industrialização do capitalismo desenvolvido nos últimos dois séculos e pela formação de uma classe operária urbana. Mais precisamente, entre as duas últimas décadas do século XIX e a primeira metade do século XX, com as condições adversas da experiência de vida de migrantes do campo, então obrigados a morar nas cidades, submetendo-se ao tempo da fábrica.
O debate foi orientado pela afirmação acerca do caráter subversivo de criadores como Cheval. Por exemplo, Michel Ragon (1983), mesmo ao questionar os limites conferidos por Jean Dubuffet (1901- 1985) à sua coleção de Art Brut, afirma a expressividade desses criadores, dizendo que representam a civilização rural (camponesa e bárbara) que desde o fim da Idade Média foi ocultada pela cultura erudita. Madeleine Lommel (2004), rigorosa seguidora da ortodoxia de Jean Dubuffet, dizia que a produção de objetos industrializados submeteu o trabalho artístico de mestres e artesãos, cujo desejo de formatividade plástica ressurgiria no criador bruto com finalidades diversas. Tanto Ragon (1983) como Lommel (2004) sustentam uma interpretação social da arte das pessoas de classes populares, fato que resulta em uma concepção de história marcada pelo desenvolvimento do capitalismo industrial e pela formação da classe operária, no final do século XIX, num sentido diverso do trabalho do artesão.
Coube ao filósofo Christian Delacampagne (1949-2007) ensaiar uma análise relacional da arte oficial com a história das imagens dos criadores populares, como parte da história da arte do século XX.
Delacampagne (1989), sem vínculo direto com os historiadores de arte ou com o campo da Art Brut, sugeriu o ano de 1879 como um marco na história da “arte marginal”; o início do movimento desdobrado nas décadas seguintes. Foi o ano em que Ferdinand Cheval decidiu seguir sua empreitada de construção do que seria o Palácio Ideal, no vilarejo de Hauterives, demarcando o ingresso de um “proletário” na história da arte (Delacampagne, 1989, p. 10).
Embora não se esteja falando propriamente de um camponês migrando para a cidade, o exemplo de Cheval deixa patente a transferência de práticas estéticas das comunidades agrárias para o ambiente urbano, acrescida do individualismo moderno e de uma iconografia estranha ao artesanato camponês. Ao realizar seu estudo com o recurso da história cultural, esse filósofo verificou que os artistas populares autodidatas revelaram-se como fontes preciosas da arte moderna, ao mesmo tempo em que suas produções se tornavam, elas mesmas, obras de arte reconhecidas pela crítica.
A circulação dessas imagens fabulosas permite vislumbrar o contexto da problemática acima anunciada. Como dito anteriormente, trata-se do processo de industrialização do capitalismo e da formação da classe operária urbana, a partir da segunda metade do século XIX europeu. Intelectuais dedicados à formação do operariado e suas produções culturais, embora em pequeno número, interessaram-se por essas manifestações, como Michel Ragon (1924- ), localizando, ali, uma continuidade da civilização rural medieval, ocultada pela cultura erudita, no processo econômico conduzido pelo capital.
Desde o século XIX, o interesse pelas manifestações populares foi permeado pelo significado revolucionário e anticapitalista. Intelectuais franceses, pertinentes ao realismo, estão entre seus primeiros arautos, tais como: Gustav Courbet (1819-1877), no campo da pintura; Max Buchon (1818- 1869), recuperando escritos em Besançon; Alexis Dupont (1796 - 1874 , com canções populares; e, principalmente, Jules François Félix Husson (1821-1889), cognominado Champfleury, em sua história da imaginária popular de 1869. Pouco depois, Alfred Jarry (1873-1907) e Remy de Gourmond (1858- 1915) contribuíram para o pensamento e a arte modernos através da revista L’Ymagier (1894), na qual apareciam imagens populares de Épinal e pinturas do aduaneiro Henri Rousseau (1844-1910).
Por representarem a sobrevivência de práticas anteriores ao desenvolvimento do capitalismo industrial, essas imagens também se tornaram objeto de interesse de intelectuais conservadores, os quais, aproveitando-se de todo um conjunto de identificação e catalogação anterior, conferiram um significado muito específico para aqueles criadores de origem popular. Desde Herder (1744-1803) e os irmãos Grimm (Jacob 1785–1863; Wilheim 1786-1859), possibilitava-se o reconhecimento referindo-se ao “povo”.
O termo folk-lore aparece nesse contexto, em 1846, de um escrito de William John Thoms (1803–1885), na revista Atheneaum de Londres. Desde então, surgiu uma série de grupos na Inglaterra dedicados ao tema. Circunscreviam saberes populares em risco de desaparecer, sobretudo oriundos das tradições orais, por vezes, registros literários, contos, superstições. Ao que se seguiu o interesse por fazeres, culinária, hábitos, indumentária, também alguns objetos, móveis e utensílios. Convém lembrar que as imagens impressas ou pintadas não foram, no primeiro momento, objeto de interesse.
Alguns autores franceses poderiam ser relembrados aqui, tal como Paul Sébillot (1843-1918) que, em torno de 1860, defendia os “temas provincianos”, “rústicos”, o “imaginário bretão”. No Congresso Internacional de Tradições Populares (Paris, 1889), propunha-se a criação de um museu, a ser instalado nas dependências do Trocadero. Além do valor documental, também o valor artístico foi defendido por alguns participantes, como se nota na conferência de Émile Blémont (1839-1927), autor do livro intitulado Estética da Tradição publicado em Paris, em 1890.
No Brasil, os estudos folclóricos foram muito baseados em autores alemães e italianos. Os intelectuais que se destacaram foram Sylvio Romero (1851-1914), atuando em Sergipe e Pernambuco; Celso
Magalhães (1849-1879), no Maranhão; Carlos Kozeritz (1830-1890), no Rio Grande do Sul. O primeiro curso de folclore neste país foi ministrado por João Ribeiro (1860-1934), em 1913, quando se falava em “demologia”, que significava saber popular, referindo uma área de estudos que interessou aos primeiros psicólogos sociais do Brasil, como Artur Ramos (1903-1949).
No espaço europeu, de modo esquemático, duas posições opostas dividiram o campo de significados das imagens populares. De um lado, considerava-se as imagens populares em sentido revolucionário, como se disse, anticapitalista, de outro, estariam vinculadas ao pensamento conservador.
Recupero algumas considerações formuladas por Renato Ortiz (1985), as quais nos permitem compreender melhor esse processo de significação. A nomeação proposta pelos ingleses tornou-se hegemônica em todo o mundo, com algumas variações, cuja origem remete à contraposição entre tradição e progresso, ao primórdio da globalização: “A história do povo, tal como ela é apresentada por uma corrente marxista e socialista, se faz a partir de baixo, enquanto que a perspectiva dos folcloristas corresponderia a uma historiografia a partir do alto.” Porém, continua o autor: “Os folcloristas introduzem uma escala de apreensão dos fenômenos sociais distinta daquela proposta pela história do Estado e da civilização. [...] Apesar de toda a crítica que possa ser feita, eles constituem quase que a única fonte de referência que permita uma reconstrução do passado.” (Ortiz, 1985, p. 17).
Em suma, a designação de arte popular é ambígua desde sua origem; refere tanto “proletários rebeldes” quanto “camponeses tradicionais”. O reconhecimento dos objetos criados entre os membros das classes populares guarda essas oscilações, porque sua história foi escrita em duas perspectivas antagônicas: na forma negativa, pela constituição do campo artístico, a definir uma arte verdadeira e uma arte menor; e na forma positiva, conforme os folcloristas. Entre as duas posições, combinaram-se posições de intelectuais críticos, que pleiteiam o caráter revolucionário da criação popular em relação à cultura dominante, e intelectuais conservadores, para os quais aquelas imagens eram registros de práticas remanescentes de tradições rurais. Particularmente, no Brasil, a tensão foi estabelecida entre a questão das lutas sociais e a ilusão acerca de uma cordialidade campestre do ser brasileiro.
Em ambos os casos, opera-se a uma distinção, pois se perde a gênese da experiência estética das classes populares e da origem das imagens fantásticas. Notadamente, na história do carteiro Cheval, encontra- se uma personagem singular que não era nem camponês, nem operário.
As décadas de 1960 e 1970 foram frutíferas para a visualização das imagens de criadores populares, capturadas em diversos lugares em arquiteturas equivalentes à de Cheval. As designações para essas construções foram tão variadas quanto as formas apresentadas. Na França, Gilles Ehrmann (1962), em um livro cuja introdução fora escrita por André Breton, referia-se aos “inspirados e suas moradias”, enquanto nos Estados Unidos Gregg Blasdel (1968) falava em “artistas de raiz”. Na década de 1970, encontram-se nomes, tais como os “habitantes paisagistas” ou os “jardins imaginários”, na importante visão de Bernard Lassus (1975), e “os inspirados de beira de estrada”, de Jacques Verroust (1978). Vertidos do inglês, são também notáveis termos como “ambientes visionários” e “arquiteturas fantásticas”.
Desde a publicação do livro de Ehrmann (1962), considera-se uma mudança na percepção de tais obras, bem como pelos escritos de Bernard Lassus (1929- ), um agente importante na preservação dessas criações efêmeras (Maizels, 2007). Uma série de fotógrafos passou a registrar esses lugares, a exemplo de Claude e Clovis Prévost (Clóvis 1940- ; Claude séc. 20- ), cujo livro seria intitulado “os construtores do imaginário”. O então jovem pintor nova-iorquino Gregg Blasdel, publicou na Art in America n. 56 (1968) um artigo intitulado “The grass-roots artist”. Ali apresentou registros fotográficos de obras de arquitetura espontânea que são, no subtítulo, comparáveis com a do carteiro Cheval e de Simon Rodia
(1879-1965). Claude Arz (1995) retomou o trabalho de catalogação e registro de autores franceses da década de 1970, para mostrar o crescente interesse por essas arquiteturas.
No Brasil, a orientação antropológica de Lélia Frota (1978) ampliou o círculo restrito das obras artísticas, considerando em seu ensaio a arquitetura popular desenvolvida de modo pessoal, como a Casa dos Cacos de Carlos Luiz de Almeida (1910-1989) no bairro Bernardo Monteiro (Belo Horizonte, MG): “um edifício de embrechados: inteiramente revestido de fragmentos de louça, formando figuras geométricas e antropomorfas, com esculturas de animais tratados pelo mesmo processo no jardim” (Frota, 1978, p. 10).
Naquele momento, era conhecida a filmagem de Carlos Augusto Calil (1951- ) revelando o Simitério do Adão e Eva, obra de Jakim Volanuk (1900-1990) nos fundos de sua casa no bairro da Mooca (São Paulo, SP), assim como a Casa da Flor, de Gabriel Joaquim dos Santos (1892-1985), realizada com aplicações de cacos e conchas sobre uma tapera em Baixo Grande (RJ). O livro coordenado por Fernando Freitas Fuão (1999), dedicado a Arquiteturas fantásticas, apresenta uma mostra importante dessas imagens. O “mundo ovo” de Eli Heil (1929- ) (Florianópolis, SC) tem figurado nessas histórias. Mais recentemente, ganhou notoriedade a casa de Estevão da Conceição (1957- ), designado o “Gaudi de Paraisópolis” (São Paulo, SP). Há relatos também do castelo de João Capão (1935-2016), em Guaranhuns (PE), do Jardim do Nego, Geraldo Simplício (1943- ), em Nova Friburgo (RJ), entre outros.
Para se manter o foco nas questões inicialmente assinaladas, dois exemplos serão citados a seguir: a
Maison Picassiette, na França, e a Casa da Flor, no Brasil.
Maison Picassiette
A primeira, foi comprada pela municipalidade de Chartres e elevada a monumento histórico, em 1981, tornando-se um museu inscrito nos guias turísticos locais. Seu autor, Raymond Isidore (1900-1964), dito Picassiette, nasceu e viveu naquela cidade francesa entre 1904 e 1964. Com os proventos do trabalho em uma usina de fundição, comprou um terreno e construiu sua modesta residência. Problemas de saúde obrigaram-no a deixar o emprego em 1937, período em que se dedicou a atividades temporárias, tais como a recuperação de pedaços de mármore, entre outros materiais, para servirem de ladrilhos. Origina- se, aí, a coleta de pedaços de faiança, louças, cerâmicas, cacos de vidro com os quais decorava a pequena casa que ele próprio construíra com sua esposa.
Com o tempo, todos os espaços da casa foram ganhando imagens em mosaicos. O piso da entrada e do corredor, as paredes da casa e os muros ao redor, ao final, também os móveis começaram a receber essa decoração; hoje, pode-se contemplar o fogão, as cadeiras, a cristaleira, a cama do casal, tudo revestido de cacos. As imagens formadas a partir da composição desses objetos inspiraram-se em cartões postais, jornais ilustrados e calendários (Maizels, 2007).
A casinha de três cômodos situa-se no centro do terreno, onde outras construções na mesma proporção foram edificadas. A vontade de enriquecimento do meio onde vivia fez com que Isidore planejasse e executasse em todos os cantos sua obra. Na entrada do terreno, cercado por uma cerca feita em flores de cimento, o piso apresenta-se inteiramente decorado com mosaicos, em formas circulares. No muro à esquerda, liso e sem flores, três imagens foram pintadas em afrescos: a do centro é a catedral de Chartres, as outras são dois castelos. Passando pelo corredor lateral, o olhar percorre toda a parede da casa. Uma cena de mulher com pássaros, a paisagem da vila de Chartres, animais, à direita, uma maquete de castelo serve de vaso. Entra-se então em um espaço que permite acesso à capela, à esquerda, e a uma saleta, à direita. Nesta última, há um penduricalho feito com bicos de bules. Estes ambientes são iluminados por clarabóias de vidro no teto. A capela está totalmente preenchida de mosaicos. Uma cruz em cimento fixada na parede marca o local do altar. Na parede oposta, uma cena sagrada. Nas paredes laterais, personagens bíblicos estão registrados.

Figura 2. Raymond Isidore, Maison Picassiette, Chartres, França. Fotografia do autor, 2003.
Prosseguindo pelo corredor, atinge-se um ambiente aberto, marcado por uma peça no centro, à maneira de uma mesa altar, e um trono à frente. Sobre essa mesa foi depositada uma maquete em cimento da catedral de Chartres; aos pés da mesa, estão gravadas as duas mãos do artista. Ali está uma escultura do casal Isidore. Todas as paredes estão recobertas de mosaicos representando fachadas de igrejas diversas.
O jardim, nos fundos da residência, dispõe várias esculturas ao visitante, das quais três são memoráveis: a escultura de sua esposa em tamanho natural; seu próprio busto; a torre Eiffel. Ao longo dos caminhos, pequenos nichos, curiosamente decorados com restos de esculturas, faces, cães. Contornando o jardim, que envolve os fundos da casa, encontra-se uma gruta, dentro da qual está um pináculo onde estão registradas as seguintes palavras do alto para baixo: “Dieu, Jesus, Marie, Joseph, (?), ici repose l’esprit”.
Estes mosaicos são realizados com cacos diversos; além dos pedaços de ladrilhos, há muitas peças de vidros verdes de garrafas, fragmentos de pratos, xícaras; em alguns detalhes vê-se restos de peças de louça, cabecinhas de estatuetas, pegadores de bules. Não são muitas as conchas, mas há algumas. Submissas aos mosaicos, estão pinturas em afresco com cenas da vida cotidiana, representação de pessoas e uma infinidade de fachadas de igrejas.
A preocupação com a simetria é marcante em todo o trabalho; a parede que apresenta os vasos, colocaos exatamente um de cada lado da janela fronteiriça. No detalhe do menino, ladeado de duas flores na porta da capela, percebe-se essa preocupação. As flores são frequentes em toda a casa, tanto na representação em mosaicos, quanto em potencial nos vários vasos. De modo mais solene, há rosáceas pelo chão e paredes. Elas remetem à arquitetura religiosa, tema central das imagens. A personagem principal é uma mulher, provavelmente sua esposa. Há uma escultura em cimento pintado em que o casal está abraçado. Além do busto em sua própria homenagem, existe um autorretrato em afresco no cômodo que antecede o jardim. Raymond era um homem magro, relativamente baixo, autorrepresentado com seu bigode negro e sempre com um chapéu. O painel da mulher com pássaros, ao lado da porta da entrada, chama a atenção, bem como uma cena de uma mulher com crianças e animais num quintal de casa rural. Nota- se, ainda, muitos barcos em cenas diversas. São vários os animais, alguns exóticos; mais visíveis são os pássaros, mas há cães, cisnes, gamos e girafas. Uma grande abelha está sobre uma das janelas da lateral; uma borboleta sobre a outra.
A principal paisagem, talvez, seja aquela realizada entre as duas janelas laterais, na qual se vê o outeiro da vila de Chartres esculpido em cimento. A igreja do alto domina a cena, seguida abaixo pelas casinhas. Desse tema maior e mais recorrente, desdobra-se a incrível quantidade de fachadas de igrejas, cenas importantes para o imaginário religioso, mas também, do mundo turístico da França. O afresco, realizado na cozinha e sala de jantar, apresenta o Monte Saint-Michel, um marco dentre as imagens francesas. Para Lommel (2004), ao trabalhar sob a sombra da Catedral, ressalta-se a humildade do construtor.

Figura 3. Raymond Isidore, Maison Picassiette, Chartres, França. Fotografia do autor, 2003.
O exemplar brasileiro foi construído por Gabriel Joaquim dos Santos (1892-1985), entre 1912 e 1923, em um terreno pertencente à família, atualmente no município de São Pedro da Aldeia, estado do Rio de Janeiro. Gabriel nascera filho de índia com ex-escravo, não frequentou escola e desempenhou trabalhos diversos, particularmente nas salinas da Região dos Lagos (RJ) (Zaluar, 1997). Ele estava quase cego quando foi entrevistado e fotografado em 1981, por ocasião dos preparativos da exposição de Arte Incomum, módulo inscrito na Bienal Internacional de São Paulo daquele ano. Os depoimentos colhidos, então, por José Augusto Varella (séc. 20- ) e José Roberto Cecato (1953- ) fornecem pistas importantes sobre o que encontraram: “Em São Paulo, no Rio, tem castelo, tudo bonito, é a força da riqueza, mas casa de caco não tem”. (como citado em XVI Bienal de São Paulo, 1981. p. 91)
A implantação, instalada em elevação do terreno, é percebida com certa delicadeza, uma forma levemente tortuosa do telhado de barro, o qual parece harmonizar com as curvas do terreno e com a esparsa vegetação local. Muito rapidamente pode-se circundar a construção, vê-la de cima, devido à posição da encosta, ter a atenção voltada para o imbricado de pedras e materiais na conformação de muretas e arrimos. Na entrada principal, ao fim de uma escadaria de pedra ladeada por vasos encrustados, depara-se com a inscrição do autor: “Casa da Flôr, 1923”. O escrito foi feito com letras em relevo, enquanto a escultura da flor emerge de cacos e barro moldado. Ao lado, uma grande flor feita em mosaico de cacos de cerâmica. Trata-se de uma pequena construção de três cômodos, edificada em pau-a-pique, pouco iluminada e de mobiliário exíguo, embora repleta de decoração modesta. Esses ornamentos estão em profusão pelas paredes, entre azulejos, cacos de cerâmica, búzios; compõem o espaço os coquetéis de lâmpadas dependurados no forro de maneira.

Figura 4. Gabriel dos Santos, Casa da Flor, São Pedro da Aldeia, RJ. Fotografia do autor, 2012.
Em 1978, Leonardo Fróes (1941- ) assinou o livreto como um dos primeiros registros da casa. As palavras do autor, em sua forma poética, informam sobre o valor estético da construção:
O espaço coberto é quase nada – parece uma casinha de anões. Os três cubículos interligados, em plena tarde, com o sol bem firme no céu puro, recebem apenas umas gotas de luz, seja por duas portas de altura irrisória ou por frestas eventuais entre as grandes telhas escuras. Desprovido de arestas, curtido pelo tempo, o telhado na verdade parece um toldo de barro, é feito de movimentos e ondas como o corpo de um bicho. (XVI Bienal de São Paulo,1981, p. 91)
Conta-nos a publicação que a história da Casa da Flor começou com um sonho de criança, em uma referência explícita ao domínio do imaginário, mas não apenas isso, há uma constante referência ao trabalho manual. Gabriel quase não utilizou ferramentas, aplicando a força das mãos. Daí o comentário de Fróes: “O caráter gestual desabrido percorre, assim, toda a obra desse pedreiro-escultor. Em seus volumes modelados com verdadeiros afagos é possível notar, então, as pulsações de uma vida; a casa tem um corpo...” (como citado em XVI Bienal de São Paulo, 1981, p. 93).
O reconhecimento da arquitetura de Gabriel dos Santos contém algumas indicações importantes para este artigo. Na matéria divulgada pelo portal do Instituto do Patrimônio Histórico Nacional, em setembro de 2016, por ocasião da inscrição da Casa da Flor no Livro do Tombo de Belas Artes, mencionou-se sua “singularidade” e “unicidade”.
Em seu parecer, o relator e conselheiro Leonardo Castriota, comparou a Casa da Flor a outras obras internacionais também reconhecidas como patrimônio cultural em seus países, como a Watts Towers, em Los Angeles (Estados Unidos) – criadas por Sabato Rodia (1879-1965), um imigrante italiano trabalhador da construção civil – e o Palais Idéal du Facteur Cheval, em Hauterives (França) – construído por Ferdinand Cheval (1836-1924), um carteiro francês
[...]
De acordo com o parecer do Iphan, entre as justificativas para o tombamento da Casa da Flor está o ineditismo criativo, que instiga ao debate sobre os processos de produção cultural. O documento destaca que “a Casa da Flor condensa esse esforço de ordenar a desordem, a fragmentação e as oposições, de acordo com um conhecimento do valor das coisas e não da sua utilidade meramente funcional.” (Iphan, 2016)

Figura 5. Gabriel dos Santos, Casa da Flor, São Pedro da Aldeia, RJ. Fotografia do autor, 2012.
O problema central deste texto reserva um domínio sociológico, em sua origem conceitual acerca da existência de um campo social, com centro e periferia, ou ainda da disputa entre grupos de profissionais de artes por posições privilegiadas face ao poder no interior desse campo. As particularidades dos criadores citados exigem um posicionamento frente ao campo artístico e ao imaginário brasileiro. De modo mais amplo, o exame dessas arquiteturas fantásticas ou fabulosas referem três termos fundamentais que fornecem indicativos para compreender os processos implicados nas imagens populares: arte, imaginação e experiência estética. Evidentemente, para cada um destes termos há significados complexos que não serão explorados aqui; o objetivo será tão somente indicar algumas vias para o conhecimento psicossocial a partir do objeto deste estudo.
A questão da arte aparece desde o início, tanto pela nomeação dirigida a tais objetos quanto pelo valor que adquirem. Observamos no início deste artigo uma tensão provocada pela sociologia de Bourdieu e os intelectuais ligados à arte bruta, assim como em relação aos proponentes do folclore, nas fronteiras de noções como arte bruta e arte incomum, ingênuos e singulares.
Jean Dubuffet (1999, p. 106) defendeu a existência de uma Art Brut em uma posição anti-cultural da história europeia. Os autores da arte bruta são pessoas que por algum motivo escaparam aos condicionamentos culturais, ao conformismo social, estranhas aos meios intelectuais, sem formação artística, ignorantes à tradição cultural, inadaptadas socialmente, indiferentes ao reconhecimento e à promoção comercial, cuja criação é solitária e clandestina, realizada com meios técnicos humildes, reveladoras de uma forte tensão mental, invenção sem freios, reinvenção das etapas do ato criador, totalmente livres e com pureza de expressão (Dubuffet, 1964, p. 3; Thévoz, 1980, p. 12; Peiry, 1997, ps. 93, 121 e 197). Dentro desses critérios, o próprio Dubuffet resistiu a considerar os construtores e suas arquiteturas fantásticas como integrantes do campo da arte bruta. Apesar de fundamentar-se em critérios muito distintos, o resultado fora o mesmo da recusa assinalada por Bourdieu; o não reconhecimento dessas construções como objeto de conhecimento social.
Mostrou-se que o reconhecimento desses criadores está demarcado por contradições, entre elas, afirmações opostas de serem meras cópias de folhetins ou obras revolucionárias. Interessa para este artigo aquilo que Thévoz (1980) registrou como um dado inquestionável; a existência do objeto. Há um fenômeno a ser observado e sua constituição pode fornecer pistas importantes sobre o conhecimento sensível tal como é vivido em membros das classes populares.
As tensões acompanham os estudos das imagens populares em todo o seu reconhecimento como “de arte”. Por exemplo, o intelectual português Ernesto de Sousa (1973) considerava a escassez de investigações mais profundas desse fenômeno e o fato de ignorarem o fator estético. Esses estudos incorriam em equívocos ao atravessarem o campo da arte, pois admitiam uma concepção estética com base na cultura erudita oitocentista, ao nomearem o objeto de “arte”, assim como a imprecisão acerca do significado da palavra “popular”. Outro ponto crítico está na distinção entre arte e artesanato, muitas vezes remetendo à oposição entre urbano e rural. Para situar sua proposta nesse campo impreciso, Ernesto de Souza (1973) designou um “complexo estético ingênuo” em contraposição à “imitação e anonimato mais pobre”: “As nossas observações levaram-nos à conclusão de que é mais fácil encontrar uma atividade desse [último] tipo na cidade do que no ambiente rural.” (Souza, 1973, p. 63). Nota, então, duas categorias, uma dedicada à atividade artesanal com liberdade criadora, outra de “verdadeiros outsiders”, “artistas ingênuos” surgidos em grande parte nas cidades, a exemplo do Douanier Rousseau e do Facteur Cheval.
O termo “ingênuo” aplicado à arte, por sua vez, abre outra problemática, sobretudo porque se caracteriza atualmente mais por uma determinada técnica (pintura de temas campestres em cores primárias) que propriamente pela origem popular do artista. Convém apenas lembrar que esse termo aparece na sociologia de Howard Becker (1983) para designar um tipo de artista. O autor propôs a configuração do “mundo da arte” não apenas baseado em um único tipo social chamado “artista”, mas “tipos” distintos organizados em quatro categorias, divididas pelo maior ou menor grau de conformidade diante dos comportamentos dominantes: 1) profissional integrado; 2) mavericks; 3) naïfs; 4) populares.
Os artistas naïfs ou ingênuos são aqueles que não conhecem os membros do mundo artístico e não possuem formação, sabem pouco sobre seu modo de expressão, suas histórias ou convenções. Os artistas populares, na definição de Becker (1983), estariam situados onde não existe nenhuma comunidade artística profissional, por isso são distintos dos naïfs, sua obra não é compreendida como de arte, mesmo se pessoas externas à comunidade encontrem ali “mérito artístico”.
Becker (1983) posicionava entre os artistas ingênuos nomes como o de Simon Rodia, construtor das Watts Towers, e o carteiro Cheval. A formulação do sociólogo de Chicago precisou dois pontos essenciais deste problema: o da solidão em que vivem os autores dessas obras e a impossibilidade da linguagem para explicá-las: “Incapazes de exprimir aquilo que fazem em termos convencionais, os artistas naïfs trabalham sós.” (Becker, 1983, p. 411).
Como mencionado acima, a extensão desse problema vai muito além da terminologia e refere-se ao conhecimento crítico da arte em sociologia, história, psicologia social, entre outras disciplinas. Embora tomado como uma evidência por muitos autores, a noção de “arte” está histórica e socialmente situada, fazendo com que as questões apresentadas diante das imagens populares assumam uma dimensão mais ampla, não apenas do reconhecimento de determinados objetos como de arte, mas da própria hierarquia social dos objetos. Recentemente, sociólogos franceses como Roberta Shapiro (2007, p. 135) têm conduzido essa discussão por meio do conceito de “artificação”: “a transformação da não-arte em arte”. Esta socióloga busca descrever processos sociais nos quais objetos cotidianos convertem-se em arte, não apenas a partir de definições de instituições e disciplinas consagradas, mas como um fenômeno que emerge em situações sociais específicas, como é exemplar o caso do hip hop.
Pierre Bourdieu elaborara sua reflexão do campo social da arte por intermédio da formação do habitus de classe, de modo a examinar as posições e determinações na percepção da arte. Por essa via, não há escapatória à conclusão de ser a “arte bruta”, “ingênua” ou “incomum”, uma invenção do olhar cultivado do intelectual. Por outro lado, percorrendo os diversos exemplares citados neste artigo, pode-se notar que o ponto central da crítica bourdiana pode ser lido em outra perspectiva. O uso de revistas de época, cartões postais, ou outras fontes iconográficas popularizadas, não retira por si só o valor dessas figurações, pois não se poderia considerar essa prática como uma submissão à ideologia. Apresentam- se, sobretudo, como elementos de um imaginário complexo em constante transformação. Nessa linha, não se quer afirmar o contrário. Ou seja, o caráter revolucionário dessas manifestações, como fizera m
Delacampagne (1989) e Lommel (2004). Trata-se de reencontrar o fenômeno dessa produção imagética como forma de conhecimento social.
Decorre daí os dois últimos tópicos a serem citados neste artigo. As manifestações artísticas populares observadas neste estudo articulam a atividade imaginativa a uma experiência sensória específica, das quais surgem imagens novas em uma dimensão material de confecção.
Há paralelos notáveis entre as descrições de muitas construções similares. Gabriel dos Santos dizia: “A escada de pedra é feita de pensamento”; “Eu sonho pra fazer uma flor de caco de garrafa, eu vou fazendo”. A mesma referência à atividade onírica aparecia em Cheval e outros. Allen Weiss (1992, p.
294) afirmou: “a profundidade incompreensível do simbólico é uma função da circunstancialidade, do local, da situação histórica”. Para esse autor, a contingência é absorvida e expressa pelo estereotipado, em símbolos culturais reinterpretados. Isso é demonstrado pelo exame da produção de artistas brutos tais como Adolf Wölfli (1864-1930), Carlo Zinelli (1916-1974) e Jeanne Tripier (1869-1944). Assim, o fechamento simbólico dessas criações sobre si mesmas não lhes tira seu significado histórico, sobretudo porque é na temporalidade de um ser social que elas se manifestam.
Para Weiss (1992), o ponto onde o simbólico ingressa na história confere o nexo em que o processo de particularização e de socialização do indivíduo relaciona-se com os eventos contemporâneos:
O corpo é o lugar dessa contingência – onde o magma do imaginário e as exigências da história manifestam sua conexão em sonhos, símbolos e atos. Embora haja sempre um significado nesse ponto inatingível, esse significado, esse nexo original, pode ser qualquer coisa; isso permanece ainda desconhecido, não porque foi reprimido, mas, porque é inelutavelmente real. [...] Talvez o único caminho para nós atingirmos verdadeiramente a trama simbólica no âmago dessas obras não seja através da nossa crítica, mas, sobretudo, nos sonhos e pesadelos que elas produzem. (Weiss, 1992, p. 294)
O fato de Raymond Isidore ou Ferdinand Cheval copiarem cartões postais ou folhetins não deveria ser um impedimento acerca do conhecimento ali emergente, mas o meio para sua interpretação nos termos que lhe são próprios. Lommel (2004, p. 171) havia observado a importância das mãos desses trabalhadores. Há uma relação com a manipulação de massas notável nos criadores que colecionou, dentre os quais estavam pedreiros e padeiros. Se por um lado, a pertinência da atividade imaginativa na tarefa desses construtores é inquestionável, por outro, ela está imbricada com um fazer próprio, das mãos, manipulando um ambiente específico. A coleta de materiais variados e a transformação do mundo vivido através do trabalho manual resultam na criação de formas novas e imagens fantásticas.
A atividade da imaginação concretiza-se através das mãos em forma de bricolagem. As referências a Estevão, o “Gaudi de Paraisópolis”, as imagens da natureza, em relevos orgânicos, remetem tanto à observação da natureza, quanto ao trato manual do ladrilho, seixos e embrechados. Michel Thévoz (1980) havia mencionado o valor da bricolagem. O bricoleur reúne fragmentos de objetos para ter a ideia do que confeccionar a posteriori. Ou seja, há uma “iniciativa do material”, uma lógica e uma contingência não previstas no pensamento criativo: “o diálogo com o material é ali determinante” (Thévoz, 1980, p. 70). Essa tarefa é realizada em um nível da experiência distinto da racionalidade do conhecimento científico. O trabalho plástico processa-se através de acidentes de execução, da significação surgida a partir das próprias formas dos fragmentos. A ambiguidade é determinante, a solicitação do material não bloqueia a atividade da imaginação, pois estabelecem um jogo de mão-dupla. Esse jogo é próprio da experiência estética e permite a aproximação de um nível fundamental do conhecimento.
A etimologia da palavra estética tem sido importante para a conceituação dos processos apresentados neste artigo. Alexander Gottlieb Baumgarten (1714-1762) forneceu, em 1750, a definição de estética como o a ciência do conhecimento sensório. Porém, devido à vinculação da categoria do belo, foi aproximado do debate das artes durante o século XIX. Não obstante, tratava-se de uma ciência que exploraria a experiência sensória; aisthesis na origem grega, dizia respeito à “percepção pelos sentidos” (Berleant, 2010, p. 26). Nesta acepção, considera-se a “estética da vida cotidiana” distinta, mas não menor que a estética circunscrita ao campo das artes. Nas palavras de Arnold Berleant (2010, p. 27):
“Reconhecendo que a estética começa e termina na experiência sensória, nós podemos ao menos a princípio considerar esteticamente qualquer objeto e qualquer experiência que pode ser sentida”
Esse filósofo fornece, então, uma contribuição decisiva: “Falando de estética, nós precisamos, portanto, ir além da beleza, precisamos ir além dos objetos que são agradáveis, e focar nossa experiência de tais objetos, pode-se tocá-los apenas através da experiência” (Berleant, 2010, p. 29). Deste ponto de vista, a estética não é uma verdade universal e imutável, mas uma forma de conhecimento que possibilita pensar a vida humana no que diz respeito à capacidade da experiência perceptiva. A percepção incorpora, além dos sentidos, as características psicológicas e culturais. A experiência estética não é pura, jamais é simples sensação; ela não é apenas mediada pela cultura, mas é inerentemente cultural (Berleant, 2010,
p. 45). O campo da experiência estética não abandona sua dimensão artística, mas expande-se pelas atividades culturais ao meio ambiente; da beleza natural ao ambiente construído da vida cotidiana.
Está colocada uma distinção entre o significado na acepção cognitiva e aquilo que se poderia chamar de experiência do significado: significado cognitivo e significado experiencial. A percepção é ocupada pelo significado e envolve a consciência do significado.
Significado experienciado é complexo e indistinto. Ele abriga tons de sentimentos, postura corporal, ressonâncias mnemônicas, associações e intimações as quais não podem ser articuladas senão por seu próprio modo, pelas artes, particularmente, talvez, literatura e música. Falando de estética, nós precisamos, portanto, ir além da beleza, precisamos ir além dos objetos que são agradáveis, e focar nossa experiência de tais objetos, pode-se tocá-los apenas através da experiência.” (Berleant, 2010, p. 29)
Nesta concepção, a experiência estética possui dois aspectos principais: o sensório, primário; e a experiência dos significados. Tema compreensível por meio da arte, na experiência de objetos ou situações, presentes ou imaginários, mas também na percepção qualitativa de processos naturais e sociais. Considera-se experiência primária aquela mais direta, imediata, ou forma pura de apreensão: “Toda experiência é estética por definição porque experienciar é equivalente a aesthesis.” (Mandoki, 2007, p. 35 como citado em Berleant, 2010, p. 35) Tal experiência pode ser positiva, negativa, ou apenas informativa. A percepção comporta a experiência sensória, as mediações formadas pelas instâncias psicológicas e culturais, os padrões de apreensão e as múltiplas forças provenientes do mundo (Berleant, 2010, p. 35).
Muitas vezes a estética tem sido referida como pré-cognitiva ou não-cognitiva. Ambas concepções resultam da história do conhecimento nos últimos dois séculos, durante a qual pensamento e pragmática estão separados. De modo esquemático, o autor propõe compreender a percepção estética como fonte do processo de conhecimento ao que designou “argumento estético em epistemologia” (Berleant, 2010, p. 54).
Esse procedimento não se reduz à elaboração teórica, pois está situado na experiência da vida, junto ao qual o processo estético é entendido como fundante da significação social e política e se organiza a partir de dois requisitos meta-cognitivos: (1) identificar, descrever, explicar tipos e variedades de construções cognitivas emergentes no tempo e no espaço, por meio da história, da sociológica, entre outras disciplinas; (2) usar a percepção e a experiência estética para considerá-los criticamente, conforme o argumento estético (Berleant, 2010, p. 5).
Neste texto, foram deixadas de lado dimensões distintas da experiência estética de gente comum, seja da organização sensória da vida cotidiana, seja contemplação do mundo, para restringir a compreensão das imagens provenientes, sobretudo, no debate concernente ás camadas populares, pobres e sem instrução formal para as artes, em referência às arquiteturas fantásticas. No processo histórico contemporâneo, emerge um campo mais complexo de produções, tal como registrou Michel Colardelle (1999), ex-diretor do Museu de Artes e Tradições Populares da França, referindo as novas experiências populares distintas do conjunto anônimo de práticas coletivas.
Madeleine Lommel (2004) trouxe a essa discussão uma dimensão histórica a ser considerada. Originalmente baseada na ortodoxia dubuffettiana, ela mesma colecionadora do que se tornou a Coleção l’Aracine, compreendia a arte bruta e todas essas manifestações singulares surgidas das mãos de pessoas comuns, sem contato com o campo artístico, incluindo o carteiro Cheval, como o ressurgimento de um impulso formativo. Tal impulso, antes desviado para práticas coletivas populares, de mestres, oficiais e artesãos, irrompe em pessoas fora do campo artístico, por vezes de modo violento, como num tipo de recalque.
Concentrando o exercício de reflexão no processo histórico, a compreensão estética contemporânea resulta de uma tensão em relação ao estatuto da experiência dos sentidos frente ao discurso de uma arte desinteressada, proveniente do campo artístico, como notou Bourdieu (1979), em noções como hierarquização e distinção. Não obstante, será necessário adotar uma postura compreensiva que solicita o reconhecimento dessa experiência sensória em sua legitimidade, como fundamento da vida social e política, na proposição mais recente de Arnold Berleant (2010).
Diante da complexidade daquelas construções, propôs-se uma distinção entre o significado cognitivo e o significado experiencial, por meio da qual a atividade imaginativa está imbricada com o fazer próprio das mãos, na manipulação do ambiente. As solicitações do ambiente não limitam a atividade da imaginação, uma vez que participam do jogo próprio da experiência estética como forma de conhecimento social.
No centro daquelas experiências, designando os “construtores do imaginário” ou os “habitantes paisagistas”, está em operação a transformação do mundo em imagens. Algumas imagens emergem do sonho, remetem à natureza ou à cultura, mas todas retomam a experiência vital do corpo no mundo. Quando se adentra a Casa da Flor ou o Palácio Ideal, não é possível sustentar o olhar objetivo, mas entrega-se a um outro olhar, ao olhar do outro. Esses criadores modestos obrigam o observador a uma dupla viagem - uma no espaço geográfico, outra no imaginativo; daí constituírem-se como os “viajantes do lugar”. Essa obra, em grande parte inominável, abre a sensibilidade para uma outra ordem de saber social, aquela resultante do processo de significação primária do contato do corpo com o mundo, mas não em oposição ao social, uma vez que o social lhe é inerente.
XVI Bienal de São Paulo (1981). Arte Incomum [Catálogo]. (pp. 93-95). São Paulo: Bienal de São Paulo. Barata, M. (1950). Conceito e metodologia das artes populares. Rio de Janeiro: MEC.
Becker, H. (1983). Mondes de l’Art et types sociaux. Sociologie du Travail, 4, 404-417.
Berleant, A. (2010) Sensibility and sense: the aesthetic transformation of the human world. Exeter (UK)/Charlottesville (US): Imprint Academic.
Bourdieu, P. (1979). La Distinction. Critique sociale du jugement. Paris: Éditions de Minuit.
Bourdieu, P. (1996). As regras da arte: gênese e estrutura do campo literário. São Paulo: Companhia das Letras.
Colardelle, M. (1999). Exist’il encore une art populare. L’Art c’est l’art. Neuchatel, 231-44. Delacampagne, C. (1989). Outsiders: fous, naïfs et voyants dans la peinture moderne (1880-1960).
Paris: Mengès.
Dubufett, J. (1964). Préface. L’Art Brut, fascicule 1, Paris, 3-5. Dubufett, J. (1999). L’homme du commun a l’ouvrage. Paris: Galimard.
Frota, L. C. (1978). Mitopoética de 9 artistas brasileiros. Rio de Janeiro: FUNARTE.
Iphan (2016). Tombamento da Casa da Flor, em São Pedro da Aldeia (RJ), é aprovado por unanimidade. Portal do IPHAN, 15 de setembro de 2016. Recuperado de: http://portal.iphan.gov.br/rj/noticias/detalhes/3809/tombamento-da-casa-da-flor-em-sao-pedro- da-aldeia-rj-e-aprovado-por-unanimidade
Lassus, B. (1975). Les habitants-paysagistes. Revue d’Esthétique, 2 (3-4), 227-249. Lommel, M. (2004). L’Aracine et l’art brut. Neuilly-Plaisance: G. Michon.
Maizels, J. (2007). Fantasy worlds. Schaewen, D. (Photos); Taschen, A. (ed.). Köln: Taschen GmbH. Ortiz, R. (1985). Cultura popular. São Paulo: PUC.
Peiry, L. (1997). L’Art Brut. Paris: Flamarion.
Ragon, M. (1983). Préface. In Boubonnais, A. (org). La fabuloserie : art hors les normes, art brut (Dicy- Yonne). (1-15). Paris: SMI.
Shapiro, R. (2007). Que é artificação? Sociedade e Estado, 22(1), 135-151.
Sousa, E. (1973). Para o estudo da escultura portuguesa. 2 ed. Lisboa: Livros Horizonte. Thévoz, M. (1980). L'Art Brut. Genève: Editions d'Art Albert Skira.
Thévoz, M. (1997). Preface. In Peiry, L. Art brut. (pp. 7-8) Paris: Flammarion.
Weiss, A. (1993). Nostalgia for the absolute: obsession and Art Brut. In Tuchman, Maurice and Eliel, Carol (orgs). Parallel Visions: modern artist and outsider art. (pp. 280-295) Exhibition organized by the Los Angeles Country Museum of Art, oct. 1992-jan. 1993. Los Angeles/Princeton: Princeton University Press.
Zaluar, A. (1997). A Casa da Flor: uma arquitetura poética. Revista do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Rio de Janeiro, 25.
https://doi.org/10.24316/prometeica.v0i17.229
PHENOMENOLOGICAL REFLEXIONS ABOUT YOUNG CONTEMPORARY ART: SURVIVAL FORMS IN INÊS MOURA’S ARTWORKS.
Juliana Froehlich1
(University of Antwerp | CAPES – Ministry of Education of Brazil)
Recibido: 10/05/2018
Aprobado: 11/07/2018
RESUMO
O presente artigo debruça-se sobre um conjunto de obras de arte da artista visual Inês Moura, a saber, duas fotografias da série Paisagens (2012), três fotografias do estudo Our relationship explained by nature #1 (2012) e a instalação e site-specific Herbarium in loco (2011). São temas e motivos das obras que encaminham este texto: muros em ruínas, uma hera que espalha suas raízes sobre um muro, a vegetação que toma uma construção, plantas, folhas e galhos que ocupam um espaço vazio de concreto. Junto à tensão entre vegetações e construções, os trabalhos apresentam as indagações sobre ser ‘jovem’ artista no circuito da arte contemporânea. Uma vez que compreendemos que Inês, pintora de formação, pensa e ‘retrata’ seus motivos, assim como, o mundo em que habita. Na forma das obras e em seus motivos encontramos indícios da margem, da tensão e da sobrevivência de organismos de modo que sobrevivência se apresenta como a noção por onde interpretamos a situação do chamado ‘jovem artista’. Refletimos aqui, portanto, sobre a forma com a qual a obra se apresenta, sobre seu conteúdo e sobre o contexto da arte contemporânea.
Palavras-chaves: arte contemporânea, fenomenologia, jovem artista
ABSTRACT
This article examines a set of artworks produced by the visual artist Inês Moura, which are two photographs from the series called Paisagens | Landscapes (2012); three photographs from the study Our relationship explained by nature #1 (2012); and the installation and site- specific Herbarium in loco (2011). The motives and themes of the artworks, such as ruins, an ivy that spreads its roots over a wall, vegetation that overcomes a construction and plants, leaves and branches that occupy a space of concrete, are the basis for the interpretations explored in this paper. Along with the tension between vegetation and constructions, this paper presents reflections about being a 'young' artist in the circuit of contemporary art. Inês, a graduated painter, thinks and 'portrays' her motives, as well as the world she lives in. In the form of works and their motives, it is possible to find vestiges of the margin, the tension and the survival of organisms. Thus, survival is a key notion present in the artworks that are
![]()
1 Juliana Froehlich é doutoranda em Film Studies and Visual Culture na University of Antwerp (Bélgica) e bolsista CAPES. Atualmente, pesquisa sobre experimentalismo, práticas de vanguarda e abstração em artes visuais e cinema. Ela publicou sobre métodos de pesquisa em arte contemporânea e apresentou em conferências sobre as relações entre artes visuais e cinema. É mestre pelo Programa de Pós- Graduação Interunidades em Estética e História da Arte da Universidade de São Paulo (2013), na Linha de Pesquisa Metodologia e Epistemologia da Arte, onde foi Bolsista CAPES. Psicóloga e Bacharel em Psicologia pela Universidade de São Paulo (2010) com intercâmbio na Université Paris 8. Tem experiência na área de Artes Visuais (artes plásticas, vídeo e cinema) com ênfase e m Crítica e Teoria das Artes Visuais. Em 2014, foi assistente do departamento de acervo e pesquisa da associação cultural Videobrasil.
the basis to interpret the situation of the so-called 'young artist'. We reflect here, therefore, on the way in which the work is presented, its content and the context of contemporary art.
Keywords: contemporary art, phenomenology, young artist


Imagem 1: Paisagens, 2012
Impressão a jato de tinta sobre papel fotográfico. 26,5 x 47 cm.
Foto: Inês Moura.

Imagem 2: Our Relationship Explained by Nature #1, 2012
Estudos para o projeto de desenho Our Relationship Explained by Nature #2 Fotos: Inês Moura
Montagem nossa



Imagem 3: Fotos de Inês Moura para a instalação Herbarium in loco (2011). Foto: Inês Moura Montagem nossa

Imagem 4: Herbarium in Loco, 2011 Instalação Site-Specific.
Vegetação do subsolo do paço das artes, caixas de madeira, fichas de papel, cadernos de anotações com desenhos em nanquim, alfinetes, pregos variados, sobre parede branca.
Dimensões variáveis.
Paço das Artes - Exposição 51 Passos.
Fotos: Inês Moura.
O presente artigo debruça-se sobre um conjunto de obras de arte da artista visual portuguesa residente em São Paulo, Inês Moura. São elas: duas fotografias da série Paisagens (2012) (Imagem 1); três fotografias do estudo Our relationship explained by nature #1 (2012) (Imagem 2); e a instalação Herbarium in loco (2011) (Imagens 3 e 4). Esta seleção é resultado da pesquisa de mestrado intitulada Juventude e arte contemporânea: indefinição e itinerância em nove obras e duas exposições de Inês Moura (Froehlich, 2013) desenvolvida entre 2011 e 2013 junto à Universidade de São Paulo. Durante 9 meses, a pesquisadora acompanhou semanalmente a artista Inês Moura em seu ateliê e, por vezes, em exposições que montara. O escopo da pesquisa pretendia desenvolver um estudo geracional a partir do pensamento visual de uma artista contemporânea e o imaginário de sua geração.
A questão que norteou a pesquisa “o que caracterizaria o imaginário de uma juventude artística entre os anos de 2009 e 2013?” reverbera neste texto ao refletirmos, a partir das descrições das obras e de seu processo de criação, sobre a manutenção do artista, dito jovem, à margem do circuito da arte. Esta indagação dialoga com a forma com que Inês, pintora de formação, ‘retrata’ seus motivos e o mundo em que habita. Refletimos, portanto, sobre a forma com a qual a obra se apresenta, sobre seu conteúdo e sobre o contexto da arte contemporânea (Cauquelin, 2005). Abordamos ‘imaginário’ como indicia Maurice Merleau-Ponty, isto é, como a visualidade invisível (Merleau-Ponty, 2011) do que se apresenta
para aquele se expressa (da Câmara, 2005) pela linguagem muda da pintura e das artes visuais (Merleau- Ponty, 2004b). Ou como aponta Osvaldo Fontes Filho (2005):
O trabalho do pintor invariavelmente subverte a sábia repartição entre o real e o imaginário. O que solicita seu olhar não é um duplo irreal do real, mas o que Merleau-Ponty chama, consciente de ser contraditório nos termos ‘a textura imaginária do real’, ou seja, o trabalho requerido da imagem para manifestar com sua iminência o aparente sem ter de ilustrá-lo. (Fontes Filho, 2005, p. 106).
Sendo o objeto geral o imaginário de artistas, por que eleger um? Partiu-se do princípio que o recorte haveria de ser feito em um momento ou outro. Assim, dado que os discursos sobre os artistas em geral dificilmente alcançam suas vivências, a escolha foi aprofundar na vivência de uma artista e suas obras. Logo, nosso caminho foi acompanhar a criação de obras de uma “jovem artista”, de forma que ela e seus trabalhos sejam pensados a partir do que eles mesmos apresentam e desvelam. “Em outras palavras, para saber o que é a subjetividade produtora, temos que partir do caso [der Fall] e não da regra ou de regras, ainda mais quando essas são abstratas e resultam de um entendimento limitado” (Werle, 2009, p. 178).
Consequentemente, não se trata, portanto, de um estudo da técnica ou da tecnologia, como a de produção de imagens fotográficas em celuloide ou digitais, ou ainda de que tipo de máquina fotográfica a artista utiliza, mas de um estudo fenomenológico dos movimentos da artista em seu processo de criação, da escolha dos motivos que dialogam com o contexto e da escolha da forma. Sendo, desse modo, um estudo de teoria e crítica da arte e de estética, e não de tecnologia, com uma abordagem fenomenológica.
Paisagens (Imagem1) e Our relationship explained by nature #1 (Imagem 2) são fotografias, ou seja, a produção visual é feita pelo olhar da artista através de uma máquina fotográfica digital e por processos digitais, pois essas fotografias são alteradas no computador. Uma vez no computador, as fotografias são manipuladas tendo em vista o tratamento que a artista considera importantes para aquele conteúdo. Por fim, ela vislumbra um tipo e tamanho específicos de impressão e um tamanho para o mesmo. Paisagens foi visto pela pesquisadora como o díptico que se apresenta aqui (Imagem1), o qual se desdobrou em um conjunto de imagens que podem ser vistas no site da artista2. Our relationship explained by nature
#1, em 2012, apresentou-se como um estudo ou um preâmbulo para a série de desenhos desenvolvidos por Inês Moura chamada Our relationship explained by nature #2, as quais também podem ser vistos em seu site. Ao final do texto, disponibilizamos imagens do diário fotográfico feito durante a pesquisa no ateliê e uma das fotos (Imagem 6) retrata Inês executando um dos desenhos desta série e em outra foto a artista executando as fotografias do estudo Our relationship explained by nature #1 (Imagem 5).
Herbarium in loco (Imagens 3 e 4) foi uma instalação e o que vemos dela são fotografias. Algumas delas constituíram a própria instalação, como registro do processo, outras são registros da instalação. Os postais, os cadernos e as fotografias constituintes da instalação ainda existem. Porém, o material orgânico exposto se desfez ao longo da própria exposição. Consequentemente, perdemos a experiência da instalação, dos desenhos, dos cadernos e das fotografias impressas. Disponibilizamos igualmente uma foto do processo de Herbarium in Loco (Imagem 7)
As obras Paisagens, Our relationship explained by nature #1 e Herbarium in Loco, que nos direcionam neste artigo, evidenciam visualmente e em seus títulos a temática da natureza, a paisagem, o orgânico e o estudo da botânica. A última obra dialoga com as ciências que chamamos “duras” (empiristas), pela sua coleta, categorização e catalogação de espécimes de um sítio específico, como estudos de botânica e a consequente domesticação da natureza em jardins e herbários (Cauquelin, 2007).
Diametralmente, nessas obras, as plantas, as folhagens, as árvores são conteúdos dominantes, assim como a construção. A forma dada pelo quadro fotográfico ou pela instalação artística evidencia a resistência de um contra o outro, ou mesmo uma tensão. A resistência dos vegetais ao concreto, material
![]()
http://cargocollective.com/imoura/Paisagens-Landscapes-1
sobre o qual se colocam, é explorada por Inês nas obras que analisamos neste artigo. São obras distintas, mas que possuem essa temática comum: a sobrevivência da vida orgânica ante a construção humana.
Na primeira imagem do díptico Paisagens (Imagem 1), vemos ao fundo uma mureta de tijolos. A mureta está no centro do quadro; o muro é contornado por fileiras de árvores. Este caminho, que parece ter sido traçado para levar à mureta, está coberto de grama.
Na foto em preto e branco há sombras que conduzem o olhar do espectador em direção ao muro. O muro de tijolos, por fim, pode ser um vestígio de atividade humana, por ser uma construção abandonada, esquecida. De um rastro a outro, nosso olhar vagueia em uma única via, porém de mão dupla: das árvores para o muro e do muro para as árvores. A tensão entre a matéria concreta e a mata se instala no olhar daquele que vê.
O muro está como que isolado do entorno ou seu entorno são as árvores. O seu isolamento e seu suposto abandono são evidenciados pelos elementos recortados pelo quadro fotográfico, pelo ponto de vista eleito pela artista. O muro, na foto, está ao longe, no ponto de fuga e tal distanciamento enfatiza o caráter de vestígio da construção. O muro está distante no quadro fotográfico, no tempo e no espaço do observador da foto. Dessa maneira, o enquadramento eleito pela artista reforça esse abandono da construção humana em meio a natureza que a consome. As árvores e a grama dominam o quadro, o conteúdo da imagem, assim como avançam sobre a construção abandonada. Há também um rastro de luz, uma iluminação indicada pela diferença de tons de cinza da foto. Esta luz clareia as folhagens e, à medida que nos aproximamos do muro, a mata adensa-se nas sombras.
A concretude do muro, daquele que se coloca na natureza como fixidez, uma vez colocado, se não houver uma ação humana que o retire, ele lá permanecerá. No entanto, abandonado pelos indivíduos que o mantêm rígido, ele é tomado pela natureza, pelas plantas, pelos animais, e pelas ações do vento, das chuvas. Ou seja, apesar do cimento e do tijolo, há a organicidade do mundo, sua flexibilidade, maleabilidade e fluidez.
Por outro lado, na segunda fotografia do par que compõe a obra Paisagens, vemos um par de muretas em primeiro plano. Elas são dadas ao olhar do espectador de imediato. Indicam uma circularidade como o bocal de um poço. As árvores o cercam, no entanto, mais distantes do que o muro, da imagem anterior, que está imerso nas árvores. O segundo poço está imerso nos musgos, na vegetação rasteira que o cobre.
As árvores traçam linhas verticais. No primeiro plano, vemos também um galho quase sem folhas que invade a abertura do poço, uma folhagem rasteira que o cerca e pequenos musgos. Portanto, as árvores não o cobrem, mas musgos e folhagens rasteiras. A construção nas duas fotografias está coberta por organismos vivos. O poço lá permanece, inerte e consumido pelo mundo orgânico que o cerca.
Este poço da segunda fotografia funciona também como um fosso entre o espectador e a floresta ao fundo. As duas fotografias de Paisagens propõem questões sobre a proximidade e a distância do objeto construído e da natureza. Qual a nossa proximidade e nossa distância em relação às coisas? Martin Heidegger (1889-1976) pode nos ajudar a iluminar a questão que vemos nos dois enquadramentos de Paisagens. No início do texto A coisa (Heidegger, 2002) o filósofo escreve: “O homem está superando as longitudes mais afastadas no menor espaço de tempo. Está deixando para trás de si as maiores distâncias e pondo tudo diante de si na menor distância” (Heidegger, 2002, p. 143)
A artista coloca o embate entre a construção abandonada e a vegetação na frente do espectador por via da fotografia. No entanto, no jogo das duas imagens (Imagem 1) entre o muro ao longe e poço próximo, Inês evidencia essa proximidade distante que mantemos de ambos, tanto da construção, quanto da natureza que lá está.
Nos termos de Heidegger (2002):
E, no entanto, a supressão apressada de todo distanciamento não lhe traz proximidade. Proximidade não é pouca distância. O que na perspectiva da metragem, está perto de nós, no menor afastamento, como na imagem do filme ou no som do rádio, pode estar longe de nós, numa grande distância. (Heidegger, 2002, p. 143)
Logo, por mais próximo de nós, observadores da imagem, que o poço ou as árvores possam estar, na concretude da experiência é a ordem de um tempo e um espaço desmedido que se coloca. As correlações entre luzes, em tons que vão dos claros aos escuros, verticais e horizontais, formas e materialidades, igualmente, introduz a atmosfera temporal.
Temos, ainda, outro jogo no par fotográfico. O observador pode se perguntar se é a natureza que resiste ao poço ou o poço que resiste à tomada da vida orgânica. As fotografias de Paisagens evocam esse olhar da natureza que sobrevive às ações dos indivíduos. De modo análogo, as marcas que alguém deixa como herança permanecem para gerações seguintes. O vestígio de construção sem autoria torna o material mais enigmático, como uma obra de arte sem autor. Essas duas fotografias possuem, portanto, um mistério. O mistério da presença a partir da ausência.
As duas fotografias de Paisagens foram eleitas por Inês em meio a muitas outras de uma viagem pelos arredores de Coimbra, em Portugal. Com seu pai guiando, Inês ia parando a cada construção consumida por plantas, em busca dessa tensão entre o orgânico e o inorgânico construído na paisagem. Como vimos, interessa-lhe o embate, que pode ser entre o novo e o antigo.
O antigo e o novo, nestas duas fotografias, são ambíguos, pois o novo pode ser a construção que foi implantada em meio às antigas plantas que habitavam o local. Por outro lado, o novo pode ser as plantas que nascem e crescem sobre o poço e o muro. Há uma tensão constante entre o novo e o antigo no próprio tema eleito pela artista. Esse embate entre os elementos distintos das imagens pode ilustrar a tensão do jovem frente ao maduro e vice-versa, pois essa oposição de materialidades (orgânico x inorgânico) ajuda-nos a compreender a resistência da juventude e da maturidade, uma em relação à outra. Este par fotográfico de Paisagens aborda algumas faces da tensão entre a matéria nova e a matéria antiga. Não sabemos o que veio antes na fotografia, a vegetação ou o muro e o poço. Notemos que não se trata de definir, mas de apontar que o novo ou o velho é uma questão de “perspectiva”. O par de fotografias proporciona pensarmos mais a tensão entre as materialidades do que toma o lugar do que.
Nesse sentido, esta tensão também figura a luta de Inês, entre outros artistas, para sobreviver de seu trabalho, de sua produção de obras de arte. A princípio, a artista, para viver de sua produção, depende da comercialização de suas obras. Para que isso ocorra, precisaria adentrar no circuito. Essa incursão no circuito se daria, em grande parte, pela constituição de um público consumidor de sua produção. O público, por sua vez, consome indo a exposições.
Inserir-se no sistema da arte é uma luta e se manter lá seria outra. Mas Inês e outros de sua geração caminham em direção a se colocar no circuito. No entanto, sendo categorizados como jovens artistas, ainda são como “marginais” do sistema da arte, são alocados marginalmente no interior de uma discussão sistemática.
Notemos que o jovem é equiparado a um marginal, mas o sendo estaria abarcando uma espécie de nicho do mercado. Inclusive por suas obras não terem ainda valor acumulado de currículo (que seria equivalente a um número de exposições, prêmios, galerias, obras em museus s). Essa veiculação “menor” do jovem garantiria um início de circulação das obras e de uma possível sobrevivência do artista a partir de sua produção. “Tenho a impressão de que o mundo da arte está recortando para si, a partir disso, um espaço de sobrevida.” (Mammí, 2012, p. 15). Isto é, ao manter o jovem na margem, ele (jovem) sobrevive, não necessariamente vive, no sentido de que o jovem artista mantém continuamente uma resistência, como as plantas sobre a construção.
A paisagem – quando não era considerada um gênero da pintura – era utilizada na composição pictórica do Renascimento como parte do enquadramento das figuras ou dos temas representados. Segundo Anne Cauquelin (2007), a paisagem é compreendida como paisagem nos estudos de perspectiva do século XV. O que ocasionaria a domesticação de uma “natureza” pelo olhar do homem que a representa. No século XV, a paisagem passará a representar o que viremos chamar de natureza, aqual é dada segundo a medida do homem. “A paisagem não é uma metáfora para a natureza, uma maneira de evocá-la; ela é de fato a natureza.” (Cauquelin, 2007, p. 39). Não à toa, uma suposta origem da paisagem remete ao momento do surgimento da perspectiva.
Dessa maneira, Inês, ao intitular Paisagens o conjunto fotográfico (Imagem 1), constituiria uma remissão conceitual e consequentemente visual ao conteúdo da pintura, segundo o que Anne Cauquelin (2007) descreve, pois não só o par de fotografias faz uso da perspectiva, como a perspectiva enquadra uma “natureza”. Portanto, a paisagem está diretamente associada a uma discussão da perspectiva clássica, que é possível ver no uso dos enquadramentos.
Ao enquadrar a paisagem, a artista a coloca em perspectiva. De maneira que as duas imagens adentram
o registro visual e conceitual da tradição da composição clássica, do homem como medida do mundo, constituintes do Renascimento (Hauser, 1995). A partir desta tradição a sua inscrição estaria no jogo das duas fotografias. Neste jogo, a artista evidencia que a medida é relativa ao ponto de vista do observador. E mesmo o título Paisagens coloca em questão o que seria a paisagem nas duas imagens.
As fotografias de Our relationship explained by nature #1 (Imagem 2) são enquadramentos de uma hera que se sustenta firmemente sobre um muro. Vemos raízes desta hera, seu tronco e suas folhas agarradas ao concreto. Há lugares da composição em que há mais folhas, outros mais raízes aparentes ou mais partes do muro sobre o qual a planta se assegura. Pelo quadro da foto, poderíamos sugerir que a máquina está próxima ao objeto a ser fotografado. E ela estava, como é possível ver nas fotografias tiradas pela pesquisadora quando Inês realizava Our relationship explained by nature #1 – (Imagem 5).
Esta série de fotografias começa nos fundos do ateliê em que Inês trabalhava. Nos fundos, havia um pequenino jardim com algumas plantas e, entre elas, a hera que dominava o muro e separava o ateliê da casa vizinha. Para fotografar essa hera, a artista estuda minuciosamente os seus movimentos no muro. Inês fotografou pedaços da planta que se sustentava no muro com a distância de pouco centímetros.
A máquina fotográfica, nas mãos da artista, funciona como o instrumento de estudo das variadas partes do objeto que examina. Investiga através de alterações de filtro, lente e luminosidade aquilo que mais se adequa ao efeito final desejado. Efeito que o ângulo de aproximação da hera e as medidas de seu instrumento de estudo produzem em conjunto. A luz do dia influencia o padrão das fotografias, o que fez com que a artista, ao longo do dia, fotografasse sob diferentes luminosidades. Este cuidado na aproximação de seu objeto de estudo evidencia a natureza própria do método. “Pensar é ensaiar, operar, transformar, sob a única reserva de controle experimental em que intervém apenas fenômenos altamente ‘trabalhados’, os quais nossos antes aparelhos produzem do que registram.” (Merleau-Ponty, 2004a, p. 13). Assim, Merleau-Ponty comenta a filosofia das ciências de seu tempo. Poderíamos compreender o processo fotográfico de Inês como esse “trabalhar” os aparelhos técnicos que mais produziriam do que registrariam. De fato, mais do que registrar, ela produz. Enquanto artista, a partir da empiria, Inês produz uma visão daquele objeto. No entanto, ao invés de um suposto distanciamento de seu objeto, a artista se aproxima não só fisicamente, mas caminha pela hera procurando seus movimentos. Ela se embrenha na planta até com ela mesclar-se, sendo que seus aparelhos, a máquina fotográfica e o computador simplesmente re-produzem essa relação. “A artista está ali, forte ou fraca na vida, mas incontestavelmente soberana em sua ruminação do mundo, sem outra “técnica” senão a que seus olhos e suas mãos oferecem à força de ver, [...]” (Merleau-Ponty, 2004a, p. 15)
Portanto, artista e investigadora, Inês estaria imersa “[...] no visível por seu corpo, ele próprio visível, o vidente não se apropria do que vê; apenas se aproxima dele pelo olhar, se abre ao mundo.” (Merleau- Ponty, 2004a, p. 16). Essa abertura visual ao mundo a interpela nas direções do olhar através da câmera. Diferente do pintor, figura a qual Merleau-Ponty faz referência, ela não mistura tintas e tampouco usa pincéis, mas regula sua máquina fotográfica usando tons, formas e volumes.
Inês disse, ao fotografar essa hera, que aquilo que lhe interessava eram os efeitos de planos que as folhas formavam e o destacamento dos galhos que formavam planos e, portanto, volumes, na bidimensionalidade da fotografia. A tensão identificada nas imagens de Paisagens pode ser igualmente reconhecida na série de Our relationship explained by nature #1, na hera que cresce sobre o muro, como a folhagem sobre e ao redor do poço. O tronco da hera sustenta-se pouco a pouco no muro. Uma vez bem fixo e espalhado sobre o concreto, o tronco lavra seus galhos. Sugerindo que, uma vez bem fixado, é possível avançar no desenvolvimento do vegetal. Nesse sentido, a tensão estaria nesta sustentação de um pelo outro, pois o muro sustenta a hera. Porém, a hera protege o muro da ação de outros fatores como a chuva e o vento. Assim, um dependeria do outro, a planta para o seu crescimento e sobrevivência e o muro para continuar inalterado por outros fatores.
A própria hera alteraria características do concreto, pois faz inserções nele para se fixar. Essas inserções da hera só podem ser vistas se a planta for arrancada da superfície em que está. Nesse âmbito, em harmonia, um complementaria o outro. Do mesmo modo que em Paisagens, a tensão entre novo e antigo coloca-se pela temática em Our relationship explained by nature #1. A hera pode ser compreendida como o elemento novo que se coloca sobre o antigo. O muro sustenta a hera, como se o antigo sustentasse o novo. Desse modo interpretamos que o novo na arte, ou seja, o jovem artista, poderia crescer e desenvolver novas proposições artísticas ao estar muito bem fixado na tradição, a qual, como delimitada anteriormente, seria todo o conhecimento disponível ao artista, do qual ele pode apropriar-se.
Nesse sentido, o jovem artista inscrever-se-ia na tradição, à qual deve se referir e se sustentar, contudo, a tradição só existe pelo próprio avanço de novas gerações. Portanto, a prática frequente do jovem, que é artista e que pretende inserir-se no circuito da arte, é partir do estudo rigoroso, atento e contínuo de produções visuais ao longo do acúmulo de história e teoria da arte. E, sobretudo, das técnicas que permitem ao iniciante e aprendiz dominar a linguagem que elege como sua.
O estudo da arte, veiculada, no caso de Inês Moura, pela universidade, ancoraria conhecimento, repertório visual e conceitual do domínio das artes visuais. Assim, as produções selecionadas por uma história e reconhecidas no sistema fariam parte da formação de Moura e alguns de sua geração. Inês Moura teve uma formação, segundo ela, “tradicional”. Formada na Faculdade de Belas Artes de Lisboa, seus conhecimentos técnicos e teóricos em pintura e desenho estariam, por essa formação, diretamente ancorados na tradição. Além do contato com a arte na faculdade, frequentava exposições assiduamente, de forma que pode compreender suas obras em relação ao que o circuito apresenta.
O contato e a volta ao passado para apontar sua produção em direção a um futuro localiza a artista e seus pares neste presente tensional. Entre o que foi e o que pode ser. Vários artistas jovens da mesma geração de Inês examinam uma vertente da tradição a fundo, tradição que os sustenta a ponto de abrir perspectivas de futuro. Isto é possível “ver” em obras de artistas atuais e jovens que trazem a discussão de um passado cultural, científico e artístico (Froehlich, 2013).
Herbarium in loco (Imagens 3 e 4) foi uma instalação desenvolvida por Inês como trabalho final de um curso que o artista e professor da UNESP3 José Spaniol ministrava no subsolo do Paço das Artes4 no segundo semestre de 2011. O curso foi composto por alguns alunos da UNESP e outros artistas de lugares distintos. Desta experiência, sob coordenação de Spaniol, resultou uma exposição dos trabalhos de seus alunos. Essa exposição foi intitulada 51 passos.
Para sua instalação, Inês desenvolveu a proposta de um herbário feito da coleta das plantas existentes em pequenos espaços no subsolo do Paço das Artes. Com tal finalidade, ela começa munida de uma máquina fotográfica digital, fichas, lápis e caixas de madeira usadas (como essas de feira para frutas e verduras) e, então, com esse material, fotografa, coleta e anota algumas observações em suas fichas. O material orgânico coletado é colocado junto às suas anotações correspondentes. Ambos, material orgânico e ficha, são guardados conjuntamente em pequenos sacos de papel feitos pela artista e colocados nas caixas de madeira. Depois da coleta e separação dos delicados objetos orgânicos ela os desenha em um caderno, também feito por ela.
Os cadernos são expostos como parte do processo de coleta, assim como as fichas catalogadas e as caixas que serviam de coleta. O conjunto de imagens do processo de criação desta instalação (Imagem 3), que apresentamos aqui, é composto por registros da instalação final (Imagem 4), do processo e da coleta do material. Inês incorporou os registros fotográficos de pesquisa à instalação.
Na exploração do local, na observação, na coleta, nas fotografias, nas fichas com observações, nos desenhos e, por fim, na montagem da instalação foram feitos registros e estudos do material orgânico recolhido no subsolo do Paço das Artes. Nesse sentido, podemos deduzir que a instalação seria como um “artigo científico visual”. Isto é, ela organiza visualmente o material que é resultado da pesquisa que fez no espaço do subsolo da instituição.
De maneira análoga a um artigo escrito, a artista dispõe para o espectador o conceito da pesquisa, o método e os resultados. O conceito estaria contido no título e na forma da instalação, sendo esta o próprio tema da pesquisa. O método seria as fotografias do material, o caderno de desenhos e as fichas. Finalmente, os resultados são garantidos pelos postais antigos de paisagens colocados em meio às plantas, folhas, galhos e caixas dispostos na instalação. A forma final, fruto de pensamento vivido, faria parte também dos resultados da investigação do espaço.
Os postais são materiais externos ao subsolo onde Inês praticou sua “botânica”. No entanto, podem ser vistos como referenciais de paisagens. Como uma composição visual do passado colocada à disposição para a discussão da pesquisa. Ela coleta, ao longo de sua vida, fotografias e postais antigos. Os postais são fotografias de paisagens, as quais provavelmente, não existem mais. Em Herbarium in loco, a artista opera, praticamente, como uma cientista. Inês escava e explora cada centímetro do local em busca de suas especificidades, das matérias esquecidas e/ou abandonadas no subsolo da instituição.
A instalação, como nas obras de Inês que discutimos antes, evidencia o embate da natureza com o concreto, como a natureza invade um espaço quase abandonado. No entanto, em Herbarium in Loco, o orgânico, as plantas, seus galhos e folhas, são cuidadosamente recolhidos e dispostos. São colocados, neste trabalho, sobre o muro.
A tensão entre o objeto construído e “natureza”, da qual falávamos há pouco, aqui não é mais mantida, pois a natureza, a paisagem em forma de herbário, é elevada ao lugar dos olhos do público. Dessa forma, o orgânico demanda a atenção do observador e a natureza é forçosamente dissecada. A artista “cuida”
![]()
Universidade Estadual Paulista “Julio Mesquita Filho”.
O Paço das Artes “foi criado em março de 1970, com o intuito de organizar e manter exposições de arte; promover conferências, cursos, palestras e audições; divulgar os assuntos ligados à área de sua especialidade e promover intercâmbios.” Disponível em http://www.pacodasartes.org.br/sobre.aspx. Acesso: 31 de janeiro de 2018.
de seu objeto de estudo aos olhos do espectador, porque o mundo natural, seu objeto, lhe é constituinte. “Visível e móvel, meu corpo conta-se entre as coisas, é uma delas, está preso no tecido do mundo, e a sua coesão é a de uma coisa” (Merleau-Ponty, 2004a, p. 17). À medida que a artista se embrenha entre concreto e folhagem, seu corpo é imerso e como que atravessado por aquele local. Condição de “uma coisa” só, ou seja, ela e seu ambiente, que é seu objeto, são um.
Nesse sentido, seria mais interessante explorar a relação inversa, na qual a artista trabalha a ciência artisticamente. A partir dos métodos científicos de compreensão do mundo empírico, do rigor, do contato direto com o objeto e das representações do passado, a artista tematiza não só a ciência, mas o próprio contato do homem com essa “natureza”. Natureza compreendida como representação.
Anne Cauquelin (2007), como vimos anteriormente, aponta para a representação da natureza na pintura de paisagem. A pintura regeria uma compreensão do mundo natural a partir de uma representação desse mundo. Teríamos, então, “uma proximidade entre arte e natureza, pois uma representa a outra.” (Merleau-Ponty, 2004a, p. 39). A natureza representada pelo homem do Renascimento estaria à medida dele.
No trabalho de Inês, isso é reposicionado, pois coloca lado a lado a paisagem fotografada do postal, as plantas recolhidas no espaço e as fotografias das plantas que fazem parte da instalação. O material orgânico e a suas imagens entram em conflito. A natureza e seu imaginário são apresentados ao espectador. Inês não utiliza somente a imagem de paisagem, mas parte de um mundo natural in loco, considerando que aquilo que há aqui de natural é igualmente questionado, visto que as plantas são parte de um ambiente controlado.
Por outro lado, Herbarium in loco, assim como Paisagens e Our relationship explained by nature #1, poderiam ser pensados como um discurso ecológico em que a “natureza” e o homem estão em conflito, pois abordam conteúdos visuais que abrangem este conflito, por exemplo, no olho ordenador que “salva” pequenos trechos de folhagem, plantas, matas e florestas (nas fotografias). Mas Inês não é propriamente uma “artista-ativista”. O cuidado na coleta de folhas, sua categorização e as fotografias de paisagens e jardins leva-nos a revisitar esse mundo natural controlado na paisagem, no jardim e no herbário, o qual faz parte do mundo atual. “Jogos com ervas, as folhagens e as formas abstratas que o paisagista pode impor como intervenção meio-artificial, meio-natural.” (Cauquelin, 2007, p. 173).
O instrumental e as ferramentas do jardim não devem ser esquecidos, como fez a artista ao colocar as caixas de coleta na instalação. Na obra Herbarium in loco, Inês, mais uma vez, assume uma tradição, seja da jardinagem, seja da construção científica, que opera como referência na discussão dos resultados. A tradição visual artística e científica não é subvertida, ou rompida por ela, mas incorporada. Mais uma vez, a tradição é assumida e rigorosamente interrogada pela forma em consonância com seu conteúdo na obra. A artista interroga esse arcabouço visual e conceitual das artes visuais e das ciências em geral, questionando, assim, seu lugar como jovem, artista e pesquisadora.
O processo meticuloso de fotografar o material orgânico, catalogar e expor faria parte de prerrogativas científicas, ou mesmo das ciências que se ocupam das artes, como fazem os museólogos. E Inês reposiciona-as. Não discute uma crise das ciências ou o que seria o estado atual das artes, mas como as disciplinas dialogam entre si. Em suma, a artista figura a interdependência entre artes e as ciências.
No trabalho de Inês, a natureza, enquanto conceito artístico e visual, é colocada à altura dos olhos. Tal configuração visual e espacial visa à discussão sobre os limites entre arte e ciência. Herbarium in loco, de Inês Moura, retoma um imaginário científico do passado que é retomado nesta época que chamamos presente pela forma de site-specific, a qual indica uma relação efêmera. Segundo Miwon Kwon (2002), “a arte site-specific inicialmente entende o sítio/local como um local efetivo, uma realidade tangível, sua identidade é composta pela combinação única de elementos físicos” (Kwon, 2002, p. 11)5. Ou seja, no
![]()
Tradução nossa. Site-specific art initially took the site as an actual location, a tangible reality, its identity composed of a unique combination of physical elements.
site-specific o espaço seria tomado como matéria para a qual o artista dá forma. Considerado em sua especificidade de matéria situada, o site-specific depende do lugar em que está e das características prévias que este local possui, sejam construídas, sejam naturais.
Por outro lado, o artista que produz e denomina uma obra “site-specific” transformaria um sítio espeíifico em um sítio especificamente artístico. Logo, além da obra ser especificamente daquele local, o próprio lugar torna-se específico da obra. Dessa forma, muitas instituições fazem uso de site-specifics. Como escreve Hal Foster (1996), “neste caso a obra site-specific pode ser utilizada para fazer esses não-espaços parecerem específicos de novo, para compensá-los como lugares fundamentados, não mais espaços abstratos, em termos históricos e/ou culturais” (Foster, 1996, p. 197)6.
Nas décadas de 1960 e 1970, o site-specific era uma linguagem que se pretendia ir em direção contrária às instituições artísticas, pois as obras eram feitas fora do circuito tradicional, como as obras de Gordon Matta-Clark (1943-1978) e Robert Smithson (1938-1973). No entanto, essa forma foi absorvida pelo sistema, que faz uso dessa especificidade. Uma instituição valoriza-se e se legitima, na atualidade por ter obras únicas feitas somente para um local.
Hal Foster (1996) alerta para o risco de artistas fazerem um trabalho com essas características dentro ou a partir de ambientes institucionais, dado que o site-specifc tornaria “não espaços” em espaços novamente. Herbarium in loco pode operar como uma revitalização do espaço do subsolo da instituição em que foi feito, a qual, por sua vez, buscaria ampliar seu potencial de locais para exposições7. No entanto, pelo fato de Inês ser considerada, até aquele momento, como “jovem artista” e a exposição ter durado poucos dias, o seu site-specific não transformaria por si mesmo o subsolo num lugar especificamente artístico. Assim, o subsolo ainda permanece com um uso restrito e o trabalho de Inês não foi institucionalizado. Ao final, ao expor as plantas que ocupam o lugar desocupado do subsolo, Inês Moura igualmente expõe o abandono e o uso marginal do espaço institucional8.
Ao ser definido como um “sítio específico”, Herbarium in Loco também se configuraria como uma obra efêmera, pois, uma vez desmontada a instalação, esta não poderia jamais ser re-visitada. A obra efêmera faz parte de um único local, o que torna aquele local ainda mais específico, uma vez que somente naquele tempo e naquele espaço foi possível ver aquela instalação de Inês Moura. “Ora, a arte contemporânea muitas vezes opera sob o signo da não–disponibilidade, apresentando-se num momento determinado” (Bourriaud, 2009, p. 41).
A efemeridade deste trabalho de Inês não corresponde apenas à forma ou ao conceito, mas aos próprios materiais utilizados. A matéria coletada, catalogada e exposta junto com seus respectivos registros, é orgânica. Isto significa que, ao longo do tempo, ela se modifica, podendo mesmo desaparecer. O subsolo, onde estava a exposição, é aberto por todos os lados e o trabalho de Inês ficou próximo a uma dessas aberturas. Sujeita a alterações climáticas, a matéria orgânica modificou-se. Por exemplo, as folhas que secaram ao longo da exposição ou passaram do tom verde para o amarelo, evidenciam a passagem do tempo nos materiais.
Portanto, Herbarium in loco é uma obra “site-specific” efêmera. Isto é, tem uma duração específica no espaço e no tempo. O que restou desta instalação foram registros fotográficos e as observações feitas, tanto em desenho, quanto em textos. Expondo os resultados da investigação do espaço, a instalação aborda o diálogo entre arte e ciência, de modo que corrobora perguntas como: “Porque o mundo é o que é, em vez de outra coisa?”(Merleau-Ponty, 2000, p. 140). Para responder questionamentos como este,
![]()
Tradução nossa. In this case site-specific work can be exploited to make these nonspaces seem specific again, to redress them as grounded places, not abstract spaces, in historical and/or cultural terms.
Curioso notar, que a instituição Paço das Artes ocupava um espaço pertencente à Universidade de São Paulo e em 2016 o Paço das Artes perdeu esta sede.
O mesmo subsolo foi usado para a feira de arte PARTE. Considerada uma feira de trabalhos recentes e, portanto, mais baratos. Muitas das
obras comercializadas nesta feira eram de novos artistas, ou os jovens da geração que tratamos aqui. Podemos associar que a esfera periférica do jovem artista sobrevive, como as plantas que sobrevivem ao concreto.
Inês parece voltar ao passado, procurando compreender a si mesma como artista em seus métodos, conteúdos e linguagens.
Ao selecionar quadros fotográficos que nos dão a ver plantas que nascem sobre muros, ou ao elevar sobre os muros de uma exposição as plantas que avançam em um subsolo, Inês nos possibilita vislumbrar nessas obras um embate entre organismos flexíveis (vegetação) e material rígido (concreto). Vemos, a partir das imagens, esse embate e sobrevivência dos artistas na tentativa de expor, dar “vida” a suas obras aos olhos de um público. Como as plantas que sobrevivem no concreto, que nele se agarram, o abraçam, envolvem e ocupam. O muro e o concreto também resistem à ocupação de novas formas de vida, podendo ser compreendido como ponto de ancoragem e de lastro.
A presença de obras artísticas que circulam no sistema da arte ou que fazem parte da história e a ausência de seus produtores, dos artistas que as criaram, é análoga à presença de pedaços de construção que vemos em Paisagens. A presença da ausência perpassa igualmente esses trabalhos, nos quais o quadro fotográfico foca o rastro da presença humana, como um poço esquecido ou um muro escondido sob uma hera. Como uma planta que nasce sobre o concreto, o jovem que é artista depara-se com tudo que existe antes dele, ou seja, com uma “tradição” de produção visual, de arte e de obra.
O recurso fotográfico garante o registro pontual, de um momento no tempo e no espaço, podendo indicar um passado. Logo, ocasiona uma experiência de nostalgia deveras frequente. A nostalgia estaria na própria escolha da técnica e na evocação de um rastro humano, como a construção, que está frequentemente envolta pela matéria orgânica nessas obras. Aquilo que chamamos natureza, vida, organismos estaria em embate com aquilo que chamamos construções humanas. Estas construções seriam como vestígios de outras pessoas, que talvez não existam mais. A construção seria a presença da ausência da figura humana nas fotografias.
As obras aqui abordadas aparentam resgatar o passado, de forma que isso lhe sustente para um avanço em direção ao seu futuro. O passado e os limites das disciplinas do conhecimento são colocados insistentemente à prova, como se existisse algo da cultura visual a ser constantemente revisitado. Apesar das tecnologias disponíveis, a artista supostamente não as explora enquanto tais, pois se serve delas como meios para explorar outras linguagens; para pesquisar a pintura, o desenho, a escultura e a fotografia na busca de seu estado mais puro. Depurando o passado e suas linguagens e depois misturando-as, Inês aponta para uma volta ao passado em signos sutis em conteúdo e forma, para refletir sobre o devir. Portanto, a tradição não é estranha ou oposta, e sim constituinte de seu imaginário. Ela faz parte do repertório da geração de alguns jovens artistas ou, como coloca Rancière (2009), “o regime estético das artes é, antes de tudo, um novo regime da relação com o antigo” (Rancière, 2009, p. 36). Este novo regime se apresentaria como uma tentativa de inserção nessa mesma tradição, em novas constelações de signos que a artista explora.
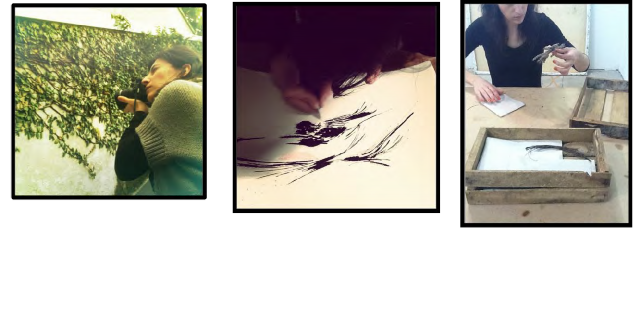
Imagem 5 - Inês Moura fotografando a hera para o estudo Our relationship explained by nature #1
Foto: Juliana Froehlich
Imagem 6 - Inês Moura em desenho da série Our relationship explained by nature #2
Foto: Juliana Froehlich
Imagem 7 - Inês Moura preparando material para instalação Herbarium in loco
Foto: Juliana Froehlich
Bourriaud, N. (2009). Estética Relacional. São Paulo: Martins Fontes.
Cauquelin, A. (2005). Arte contemporânea : uma introdução. São Paulo: Martins Fontes. Cauquelin, A. (2007). A Invenção da paisagem. São Paulo: Martins Fontes.
Costa Pinto, S. http://cargocollective.com/sofiacostapinto.
da Câmara, J. M. B. (2005). Expressão e Contemporaneidade: A arte moderna segundo Merleau-Ponty.
Lisboa: Imprensa Nacional - Casa da Moeda.
Fontes Filho, O. (2005). Merleau-Ponty e a" obscuridade moderna" segundo a arte. ARS (São Paulo), 3(6), 102-121.
Foster, H. (1996). Return of the real the avant-garde at the end of the century. Cambridge: MIT Press.
Froehlich, J. (2013). Juventude e arte contemporânea: indefinição e itinerância em nove obras e duas exposições de Inês Moura. (Master Master), Universidade de São Paulo, Programa de Pós- graduação Interunidades em Estética e História da Arte.
Hauser, A. (1995). História social da arte e da literatura: Martins Fontes.
Heidegger, M. (2002). A coisa. In M. Heidegger (Ed.), Ensaios e conferências. Petrópolis: Vozes. Kwon, M. (2002). One place after another. Site-specific art and locational identity. Cambridge, London:
The MIT Press.
Mammí, L. (2012). O que resta: arte e crítica de arte. São Paulo: Companhia das Letras. Merleau-Ponty, M. (2004a). O olho e o espírito. São Paulo: Cosac & Naify.
Merleau-Ponty, M. (2011). Le monde sensible et le monde de l'expression. Cours au Collège de France.
Notes, 1953. Genève: Metis Presses.
Merleau-Ponty, M. ( 2004b). A linguagem indireta e as vozes do silêncio. In M. Merleau-Ponty (Ed.),
O olho e o espírito (pp. 65-119). São Paulo: Cosac & Naify.
Moura, I. http://cargocollective.com/imoura.
Rancière, J. (2009). A partilha do sensível: estética e política. São Paulo: EXO experimental org; Editora 34.
Werle, M. A. (2009). Subjetividade artística em Goethe e Hegel. In P. F. Galé & M. A. Werle (Eds.),
Arte e filosofia no idealismo alemão. São Paulo: Editora Bacarolla.
Cine y Ciencia
https://doi.org/10.24316/prometeica.v0i17.230
THINKING CINEMA. THE NARRATIVE OF FILMS AND TV SERIES AS A METHODOLOGICAL MATRIX FOR THE TREATMENT OF COMPLEX PROBLEMS
Irene Cambra Badii
(CONICET – Universidad de Buenos Aires)
Recibido: 06/06/2018
Aprobado: 11/07/2018
RESUMEN
En este artículo presentamos los avances del proyecto de investigación de la Universidad de Buenos Aires que busca puntualizar la indagación sobre la articulación entre Cine y Psicología, proponiendo la formalización de un método de investigación en psicología a partir del formato audiovisual. Nuestro punto de partida coincide con la consigna del filósofo francés Alain Badiou, quien propone “pensar el cine”, es decir, no sólo analizar los conceptos asociados con el dispositivo cinematográfico, sino más bien pensar los conceptos a través del cine. En primer lugar presentamos una indagación conceptual del Estado del arte sobre los tres grandes campos de estudios sobre el cine que resultan antecedentes ineludibles para poder adentrarnos en la temática: los estudios tradicionales sobre cine en relación con la historización de sus posibilidades técnicas y sus manifestaciones artísticas, los diferentes géneros cinematográficos, y los recursos técnico-estilísticos utilizados; el estudio de la narratividad, es decir, en los aspectos ligados al relato y a la argumentación que se esgrime en la estructura narrativa del film o de la serie; y la utilización del cine como herramienta didáctica, considerando distintos filmes como “ejemplos” y como aplicaciones conceptuales de la discursividad social en el campo fílmico. En segundo lugar, proponemos dar un paso más, integrando las tres corrientes antes mencionadas e incluyendo un movimiento suplementario a partir de la lectura de Deleuze y Badiou: considerar al cine como una vía de acceso conceptual a problemáticas complejas del campo de la subjetividad. Esto implica que el cine permite estructurar nuevos modelos metodológicos de comprensión o incluso de creación de problemas complejos en el marco de la psicología, en un equilibrio que incluye tanto a la deliberación sobre los conceptos como la experiencia estética y artística de la narrativa audiovisual.
Palabras clave: cine, psicología, metodología de la investigación.
ABSTRACT
In this article, we present the advances of the University of Buenos Aires research project that seeks to clarify the inquiry about the articulation between Cinema and Psychology, putting forward the formalization of a research methodology in psychology based on
audiovisual format. Our starting point coincides with French philosopher Alain Badiou’s key principle, as he proposes "thinking cinema", that is, not only analyzing the concepts associated with the cinematographic device, but rather thinking about the concepts through cinema. First, we present a conceptual inquiry into the state of art on the three major fields of studies on cinema that are unavoidable antecedents to be able to study the subject thoroughly: traditional studies on cinema in relation to the historization of its technical possibilities and its artistic manifestations , the different film genres, and the technical- stylistic resources used; the study of narrativity, that is, the aspects linked to the story and the argumentation that is developed in the narrative structure of the film or the series; and the use of cinema as a didactic tool, considering different films as "examples" and as conceptual applications of social discourse in the film field. Secondly, we propose to go a step further, integrating the three currents mentioned above and including a supplementary movement based on the reading of Deleuze and Badiou: considering cinema as a conceptual access to complex problems in the field of subjectivity. This implies that cinema allows the structuring of new methodological models of understanding or even the creation of complex problems within the framework of psychology, keeping both the deliberation about concepts and the aesthetic and artistic experience of audiovisual narrative in balance.
Keywords: cinema, psychology, methodology
Nuestro punto de partida coincide con la consigna del filósofo francés Alain Badiou (2004), quien propone la acción de “pensar el cine”, ya que lo entiende no sólo como arte sino también como experimentación de pensamiento. ¿Qué significa esto? Que el cine no es sólo un fenómeno artístico, cuyo fin puede ser el entretenimiento o la transformación subjetiva del espectador, sino que también se convierte en una usina de pensamiento, en una posibilidad de pensar conceptos nuevos a través del cine mismo.
Desde la Psicología y las demás ciencias sociales, frecuentemente nos planteamos diversos problemas y tensiones conceptuales. Estos puntos de interrogación no sólo tienen que ver con el campo profesional (por ejemplo, respecto del rol del psicólogo, sus responsabilidades y competencias; lo cual también puede pensarse para la sociología, el trabajo social, la historia, entre otras disciplinas…) sino también con el campo conceptual, con el despliegue del marco teórico a partir del cual se desenvuelve el trabajo cotidiano.
El foco central de este trabajo radica en la propuesta de entender al cine como una posibilidad de acceso privilegiada a estas tensiones conceptuales, mediante un análisis que incluya tanto las cuestiones técnico- estilísticas del film como la historia narrada.
Los estudios sobre cine son tan amplios como las disciplinas con las cuales dialoga: la comunicación, la sociología, la psicología, la educación, entre otras.
Consideramos que existen tres grandes campos de estudios sobre el cine que resultan antecedentes ineludibles para poder adentrarnos en la temática.
Podemos ubicar, en primer lugar, los estudios tradicionales sobre cine en relación con la historización de sus posibilidades técnicas y sus manifestaciones artísticas, los diferentes géneros cinematográficos, y los recursos técnico-estilísticos utilizados (Aumont y Marie, 2006; Casetti y Di Chio, 1994; Casetti y Gromegna, 1989; Chion, 1993; Metz, 1972). Los análisis toman en cuenta la
representabilidad fílmica, sus reglas, los dispositivos utilizados y los condicionamientos técnicos, otorgándoles un sentido.
La historización del cine y sus posibilidades técnicas (con las transformaciones que conlleva el paso del cine mudo al cine sonoro, por ejemplo) resulta interesante en función de comprender cómo la imagen proyectada se sirve de determinados recursos técnico-estilísticos para el desarrollo de una historia, o para producir distintas reacciones en el espectador.
Las técnicas del cine han sido estudiadas por infinidad de teóricos. Morin (2001) incluye la movilidad de la cámara, la sucesión de los planos, la persecución del elemento emocionante, la aceleración, la música, la asimilación de un medio y de una situación por aprehensión, las envolturas (movimientos y posiciones de la cámara), ralentissement y condensación del tiempo, fascinación macroscópica (primer plano), iluminación (sombras, luces), ángulos de encuadre (picado, contrapicado, etc.).
Dentro de los recursos técnico-estilísticos, el montaje se ubica en un lugar privilegiado. Ya desde los estudios clásicos sobre la imagen cinematográfica se considera al montaje como una técnica suprema, porque el tiempo del cine “pone de acuerdo los fragmentos temporales según un ritmo en particular que no es el de la acción, sino el de las imágenes de la acción” (Morin, 2001, p. 57).
Sel y Gagioli (2002) señalan que la técnica del montaje puede ser analizada desde dos grandes tendencias, que resuenan en distintos efectos: una que sigue a Serguei Eisenstein y considera que cada toma existe como una representación particular de un film organizado como un “todo” a la vista del espectador, a quien se dirige hacia determinado objeto o movimiento; y otra, representada por André Bazin, que desvaloriza el montaje como tal y considera que no es más que la representación realista del film, transparente frente al espectador, y que por lo tanto se debe dejar que éste elija qué mirar. Vemos entonces que no solamente se enfocan en en la técnica cinematográfica en sí, sino más bien en los efectos que suscitan en el espectador.
Esta temporalidad nueva del cine a través del montaje configura una experiencia acelerada o ralentizada, donde es posible incluso la reversibilidad (a través del flash back y del cut back) enfatizando una vez más el efecto que produce la técnica: se trata de un tiempo psicológico, es decir, subjetivo, afectivo, en palabras de Bergson (2016): en un vivido indefinible de pasado, presente y futuro. Lo mismo opera con la espacialidad: el film permite transportar al espectador a cualquier punto del tiempo y del espacio (Morin, 2001).
Morin (2001) da un paso más y señala que, en la historización del cine, a la metamorfosis espaciotemporal se suma el universo de la ficción en el cine como un aspecto de radical importancia para su análisis. Esto implica, esencialmente, el contar una historia.
Ubicamos entonces una segunda tradición investigativa, que se centra en el estudio de la narratividad del cine (Barthes, 1970; Bajtin, 1982; Betettini, 1984; Gaudreault, Jost y Pujol, 1995), es decir, en los aspectos ligados a la narración, a la descripción de la historia y a la argumentación que se esgrime en la estructura narrativa del film.
Las narrativas han sido, desde tiempos inmemoriales, una vía directa de transmisión e interrogación de experiencias, emociones y saberes. Su fecundidad radica, justamente, en que la vida misma tiene una estructura que podríamos llamar narrativa (Ricoeur, 2006) y también podemos acercarnos a distintas experiencias por la vía de relatos -literarios, musicales, cinematográficos.
Evidentemente, esta línea de estudio del cine se basa en los aportes teóricos de la crítica literaria. Por ejemplo, Gerard Genette (1989) propone distinguir la historia, el relato y la narración dentro del texto narrativo (que puede ser tanto literario como fílmico). La historia está definida como el contenido narrativo, es decir, la sucesión de acontecimientos narrados. El universo en el que transcurre la historia ficcional es llamado diégesis. El relato, por otra parte, es el enunciado narrativo, el discurso en el cual se materializa la historia –las imágenes, la música… “significantes organizados en función del estilo,
género, orden y ritmo” (Triquell, 2012, p. 41). La narración, por último, se refiere al acto narrativo productor de relato, es decir, a la enunciación.
Estas instancias teóricas no son independientes de los recursos técnico-estilísticos. De hecho, Francois Jost (2002) considera que la posibilidad de reconocer la presencia de una instancia enunciativa (es decir, reconocer los deícticos, que en una narración escrita pueden ser a través de los adverbios, por ejemplo: aquí, ahora, yo) se produce fundamentalmente a partir de determinadas opciones de encuadre: el primer plano, el descenso del punto de vista por debajo del nivel de los ojos, la representación de una parte del cuerpo en primer plano, la sombra del personaje, entre otras cuestiones. Esta percepción de la instancia enunciativa varía según el espectador, su conocimiento del lenguaje cinematográfico, y la época.
Sin embargo, la atención de los enfoques narratológicos está puesta en EL relato y sus formas de manifestarse, en los factores estructurales de la historia, que pueden entenderse como los acontecimientos y sus transformaciones, tanto a nivel de las situaciones como de los personajes, su punto de vista y focalización, entre otras cuestiones.
Según Casetti y Di Chio (1994), la literatura relativa únicamente a la dimensión narrativa del cine parece haber sido desestimada poco a poco, básicamente por dos confusiones: por un lado, porque las formas de no-narratividad son bastante reducidas y además el cine siempre ha contado historias; y por otro lado, no resulta claro que la dimensión narrativa pertenezca a los contenidos de la imagen, o al modo en que éstas se organizan, relacionan y presentan, es decir, al relato o a su forma de presentación.
El tercer campo de estudio sobre el cine es aquel que lo define como herramienta didáctica en múltiples disciplinas.
El cine, las series televisivas y otros soportes audiovisuales han sido utilizados en distintas situaciones de enseñanza y de aprendizaje, con el fin de instalar la reflexión y el pensamiento crítico, o bien con el objetivo de ilustrar mediante ejemplos los contenidos teóricos de determinados cursos de las ciencias sociales, exactas y naturales (Perales Palacios, 2006; Hernández Figaredo y Peña García, 2015).
Frente a las iniciales resistencias, que consideraban al cine y a la televisión como meros “distractores” en la hora de clase (Calvert, Casey, Casey, French y Lewis, 2007), que incluso pueden degradar el pensamiento simbólico (Sartori, 1998), la incorporación pedagógica del cine de ficción por parte de los docentes fue in crescendo en las últimas décadas, lo cual produjo una defensa de las ficciones cinematográficas como dispositivos de aprendizaje (Mateus, 2017).
Las estrategias didácticas que utilizan el cine consideran que constituye un recurso flexible capaz de complementar los métodos docentes clásicos (Dark, 2005). Las imágenes y las historias relatadas aportan elementos que generan entusiasmo, a la vez que amplían el conocimiento conceptual y fomentan las capacidades críticas de los estudiantes ya sea en su capacidad emocional (Ferres, 2014) o cognitiva (Piscitelli, 2012).
También posibilitan el diseño de prácticas educativas que promueven la crítica, la observación, la reflexión e incluso la investigación (García Borrás, 2008). Una escena cinematográfica puede actuar como elemento motivador, para introducir de cierta discusión y al mismo tiempo, como detector de preconcepciones, además de servir para el desarrollo del espíritu crítico y la actitud científica, lo cual ha llevado al análisis de las prácticas con películas en el aula y los supuestos acerca de las posibilidades pedagógicas de las imágenes (Benasayag, 2017).
En esta investigación pretendemos dar un paso más, integrando las tres corrientes antes mencionadas, y proponiendo además un movimiento suplementario: considerar al cine como una vía de acceso conceptual a problemáticas complejas del campo de la subjetividad. Esto implica que pensar el cine
permite estructurar nuevos modelos metodológicos de comprensión o incluso de creación de problemas complejos en el marco de la psicología, en un equilibrio que incluye tanto a la deliberación sobre los conceptos como la experiencia estética y artística de la narrativa audiovisual.
Entendemos el término “subjetividad” en una acepción amplia, definiéndolo como formas sedimentadas de relacionarse con el mundo, organizadas según los modos de decirlo y al mismo tiempo de significarlo (Dalmasso, 2005). Este concepto permite contemplar la pluralidad de discursos y prácticas que regulan la producción sociocultural de sentido, entendiendo que se trata de un proceso complejo que incluye un entramado de representaciones socio-culturales, prejuicios, temores, fantasías inconscientes.
El cine, que ha sido catalogado como una síntesis de las artes precedentes (Canudo, 1914; Badiou, 2004), se presenta asimismo como una forma privilegiada para acceder a un recorte singular a través de un fragmento de pocos minutos de duración que nos permite pensar cuestiones complejas de la subjetividad.
¿A partir de qué autores podemos emplazar conceptualmente esta cuestión?
Gilles Deleuze ([1983]1984, [1985]1987) resulta sin lugar a dudas uno de los antecedentes imprescindibles a la hora de estudiar al cine como concepto. En sus obras célebres Cine 1: la imagen- movimiento y Cine 2: La imagen-tiempo, estudia y clasifica los dos tipos de imágenes que dan título a sus libros. Deleuze analiza las composiciones de imágenes y signos por parte de los grandes autores del cine, proponiendo como hipótesis central que el pensamiento opera con los signos ópticos y sonoros de la imagen-movimiento, y también de una imagen-tiempo más profunda, para producir a veces grandes obras. La pregunta “¿qué pasa en el cine?”, sobre la ontología de la imagen cinematográfica, configura así un campo de estudio original para el cual toma los aportes de Henri Bergson para introducir la cuestión de que la imagen no es una copia de la realidad ontológica exterior:
Es falso reducir la materia a la representación que tenemos de ella, falso también hacer de ella una cosa que produciría en nosotros representaciones pero que sería de otra naturaleza que estas. La materia, para nosotros, es un conjunto de “imágenes”. Y por “imagen” entendemos una cierta existencia que es más que lo que el idealismo llama representación, pero menos que lo que el realismo llama una cosa, una existencia situada a medio camino entre la “cosa” y la “representación” (Bergson, 2006, pp. 25-26)
La imagen, entonces, queda ubicada en un plano intermedio, y evoca un contenido de pensamiento bajo una forma más fluida y menos abstracta que el concepto (Vollet, 2006).
Por su parte, en la escena latinoamericana, Julio Cabrera aúna en Cine: 100 años de filosofía (1999) sus dos grandes pasiones: el cine y la filosofía. Partiendo de la base de que la filosofía no debe presuponerse como algo perfectamente definido antes del surgimiento del cine, sino como una disciplina que puede modificarse a través de ese mismo nacimiento, Cabrera analiza en este libro, su tesis doctoral, distintas películas elegidas cuidadosamente para reflexionar sobre una cuestión filosófica central. Su aporte conceptual central dialoga con la propuesta deleuziana y propone que existen conceptos-imagen, que son un tipo de “concepto visual” con una estructura radicalmente diferente a los conceptos tradicionales utilizados por la Filosofía escrita (denominados por Cabrera como conceptos-idea).
Los conceptos visuales se instauran y funcionan dentro del contexto de una experiencia, que lleva a una comprensión logopática, que combina el Logos y el Ethos, es decir, que es racional y afectiva al mismo tiempo:
La racionalidad logopática del Cine cambia la estructura habitualmente aceptada del saber, en cuanto es definido sólo lógica o intelectualmente. Saber algo, desde el punto de vista logopático, no consiste solamente en tener “informaciones”, sino también en haberse abierto a cierto tipo de experiencia, y en haber aceptado dejarse afectar por alguna cosa desde dentro de ella misma, en una experiencia vivida (Cabrera, 1999, pp. 18-19).
Tanto Deleuze como Cabrera coinciden entonces en la propuesta del cine como concepto. En la misma línea, Badiou enuncia la pregunta:
¿Es posible comprender un pensamiento acerca del cine a partir de la noción de imagen? ¿De imagen en movimiento? ¿De lo que Gilles Deleuze llama precisamente la imagen-movimiento? Me parece que el punto esencial es sostener que lo real del cine son los filmes, son las operaciones convocadas en algunos filmes. Así como hay poesía sólo en la medida en que primero hay poemas, del mismo modo solo hay cine en la medida en que hay filmes. Y un filme no es la realización de las categorías, incluso materiales, que en él se suponen: categorías como imagen, movimiento, marco, fuera de campo, textura, color, texto, y así sucesivamente. Un filme es una singularidad operatoria, ella misma captada en el proceso masivo de una configuración de arte (Badiou, 2011, p. 19).
Esta singularidad operatoria será una de las categorías ineludibles para pensar el estudio de la subjetividad en una metodología que articule el Cine y la Psicología, tal como veremos más adelante.
Aumont y Marie (2006) señalan que la Psicología puede articularse con los estudios sobre cine en múltiples niveles:
El estudio de los films como producciones sintomáticas de su director.
El estudio de la obra en sí misma, en el nivel de sus temas manifiestos.
La investigación clínica del comportamiento de los personajes en el seno de la obra
La investigación del conjunto del material fílmico, independientemente del argumento manifiesto, como algunas figuras visuales recurrentes (por ejemplo, el fundido encadenado, la fragmentación del montaje, la elipsis).
El estudio de los grandes regímenes discursivos que caracterizan a la institución cinematográfica: la división entre films narrativo–representativos y films no narrativos, la división en géneros con su lógica narrativa interna, la verosimilitud.
El estudio del dispositivo fílmico en general, como condición particular de captar imágenes como “significante imaginario”.
El estudio del espectador de cine y sus reacciones psíquicas frente a la realidad proyectada en el film.
Tal como vemos, se pueden ubicar aspectos ligados a la psicología y al psicoanálisis, distinción que excede los límites de este trabajo. Sin embargo, es interesante puntualizar en una cuestión: el interés que el cine tiene para el campo de la psicología y, podríamos agregar, para las demás ciencias sociales.
En este punto, un antecedente teórico e histórico ineludible, aunque poco conocido, es la pequeña carta que escribió la psicoanalista Lou Andreas-Salomé en 1913, luego de haber ido al cine:
¿Cómo es posible que el cine no suponga lo más mínimo para nosotros?; no es ésta la primera vez que me lo pregunto.
A los muchos argumentos que podríamos esgrimir en favor de esta cenicienta de la concepción estética del arte, corresponde añadir también un par de consideraciones puramente psicológicas. Una hace referencia a que la técnica cinematográfica es la única que permite una tal rapidez en la sucesión de las imágenes que se corresponde más o menos a nuestras propias facultades de representación, imitando en parte su carácter caprichoso. Una parte del cansancio que nos invade en las representaciones teatrales no proviene del noble afán que exige la contemplación artística, sino del esfuerzo de adaptación impuesto por la pesadez del movimiento aparente de la vida en la escena; en el cine, sin un esfuerzo semejante, se libera gran parte de nuestra atención permitiéndonos que nos rindamos más espontáneamente a la ilusión.
La segunda consideración concierne al hecho de que, aunque se puede hablar de una simple satisfacción superficial, ésta obsequia a nuestros sentidos con una profusión de formas, imágenes e impresiones de modo totalmente particular y, tanto para el trabajador enmudecido por la estrechez de su vida cotidiana, como para el intelectual aferrado al trajín de su profesión o de su pensamiento, significa ya de por sí un rastro de vivencia artística de las cosas. Ambos argumentos obligan, por lo tanto, a una reflexión sobre lo que el futuro del cine puede llegar a significar para nuestra constitución psíquica, la pequeña zapatilla dorada de la cenicienta de las artes (Andreas-Salomé, [1913] 1977, pp. 101-102).
Este hermoso pasaje, que no tiene aún demasiada difusión como antecedente en los estudios sobre cine y psicología (salvo en los escritos de Zimmerman, 2000; y Michel Fariña y Gutiérrez, 1999), es sin dudas nodal para esta articulación, y puede encontrarse en relación tanto con los estudios de Deleuze y Cabrera, como los de Badiou.
En efecto, las imágenes proyectadas en la pantalla tienen un carácter movilizador, y esta modificación del carácter a partir de la experiencia cinematográfica sin dudas tiene correlato con la vivencia de la batalla, del cuerpo a cuerpo, que señala Badiou (2004) respecto de la implicación del espectador en aquello que ve en la pantalla, pero vive como experiencia propia, sumergiéndose en la escena.
Mediante mecanismos psíquicos tales como la identificación, la proyección, etc., el espectador se vincula con los personajes y las situaciones planteados, y en algunos casos, se produce la interpelación: ¿Qué haría yo en su lugar? ¿Qué me pasa a mí con lo que está siendo relatado en el film? ¿Qué pasaría si…? Sin lugar a dudas, este proceso vivencial es subjetivo.
La pregunta por lo subjetivo en la experiencia cinematográfica durante mucho tiempo ha versado sobre la identificación, si bien se trataba de un uso vulgar, bastante amplio e impreciso del término. Según Aumont, Bergala, Marie y Vernet (2011) se utilizaba para designar la relación subjetiva que el espectador puede mantener con este o aquel personaje del film, es decir, esa experiencia del espectador que consiste en colocarse en su lugar o “tomarse momentáneamente por él”. Si bien el fenómeno identificatorio efectivamente ocurre, es importante notar que también “el espectador se identifica con su propia mirada y se experimenta como foco de la representación, como sujeto privilegiado, central y trascendental de la visión” (Aumont, Bergala, Marie y Vernet, 2011, p. 264), lo cual se conoce como identificación primaria en el cine -concepto que difiere de lo que se entiende por identificación primaria en el psicoanálisis-. Esta noción explica que no es indispensable que en un film aparezca la imagen de los demás, del semejante, para que se produzca este tipo de experiencia en el espectador. Entonces, podría pensarse que se trata de algo estructural, que no depende del guion o los personajes, sino que, en palabras de Georges Bataille, “poco más o menos, todo hombre se implica en los relatos, en las novelas, que le revelan la verdad múltiple de la vida” (citado en Aumont et al, 2011, p. 266-267).
En efecto, el proceso de identificación del espectador con los personajes y el contenido del film favorece su involucración afectiva e intelectual, y permite elaborar cuestiones mediante el mecanismo de proyección: identificando en el personaje reacciones, sentimientos, emociones, puede ir desplegando ese camino en el propio proceso, implicando una proyección del mundo y no sólo de la experiencia vivida como espectador.
Si nuestra participación como espectadores de un film o de una serie es de implicación e incluso de identificación, pudiendo aunar en un mismo acto la empatía con una situación o con los personajes que la representan, y la aprehensión de una cierta lógica que articula la contingencia, las cuestiones azarosas, con la coherencia del sentido y la causalidad, entonces debemos tomar esta cuestión como central en nuestros estudios. Esto implica, desde ya, superar la vieja dicotomía de la objetividad versus subjetividad, dado que no existe un visionado imparcial de un film, pero a su vez es esa implicación la que permite una mirada singular del film.
Todos los puntos detallados anteriormente respecto de la articulación entre cine y psicología (Aumont y Marie, 2006) forman parte de corrientes interpretativas que redundan en aportes para ambas disciplinas, aunque pueden encuadrarse dentro de los juicios indistinto y diacrítico mencionados por Badiou (2011).
El filósofo francés señala tres modalidades para el visionado y la apreciación de una obra cinematográfica, estudiadas asimismo por Eduardo Laso (2018).
En la primera de ellas, denominada juicio indistinto, se produce una evaluación del film en base a si la experiencia de su visionado fue agradable o desagradable. Las respuestas se organizan en pares de oposiciones: me gustó/no me gustó, me divirtió/me aburrió.
En la segunda, llamada juicio diacrítico, el foco está puesto en el conocimiento acerca de la película, el director y la historia del cine. La evaluación se convierte en “un juicio cinéfilo en el que se mide el valor estético en función de un saber más o menos consagrado (que, por supuesto, envejece pronto)” (Laso, 2018, p. 10). Esta adecuación –o no– a los cánones cinematográficos de una época también da como resultado una opinión que a menudo puede dividirse como bueno/malo, a favor/en contra.
La tercera, el juicio axiomático, se refiere a la posibilidad de pensar un film-idea: “hablar de un film es examinar las consecuencias del modo propio en que una idea es tratada así por ese filme” (Badiou, 2011,
p. 30). Tal como señala Laso (2018, p. 10):
El juicio axiomático se basa en el film en sí mismo en tanto objeto estético que vehiculiza una idea y abre a la pregunta por sus efectos a nivel del pensamiento. ¿Cómo llega a ser tratada la idea en función de la cual se hizo la película? ¿Qué consecuencias tiene el modo de tratamiento? Este abordaje trasciende el gusto inmediato y el juicio erudito, para centrarse en el problema de si el film es justo –en el sentido de ajustado y de verdadero- respecto de lo que intenta transmitir. Un buen film se vale de sus especiales recursos para introducirnos en problemas y llevarnos a sentirlos y también pensarlos. Hace pensar, en tanto transmite ideas encarnadas en situaciones y personajes. Y si ofrece alguna solución, dado que ésta es singular y relativa a la historia que relata, no alcanza nunca a ser una respuesta definitiva (como tampoco aspira a hacerlo).
Es a partir de esta tercera modalidad que planteamos la posibilidad de trabajar con el cine en una metodología rigurosa el estudio de la subjetividad, en una retroalimentación de conceptos con la Psicología.
Por supuesto, nuestra metodología de análisis puede entenderse desde las bases del enfoque cualitativo, que incluye en su comprensión epistemológica una perspectiva centrada en el sentido, en la comprensión y en el significado (Taylor y Bogdan, 2013); y está sostenida por métodos de análisis y explicación que abarcan la comprensión de la complejidad, el detalle, el contexto, y que incluyen lo singular (Mason, 1996).
Asimismo, para este abordaje metodológico del cine seguimos el método clínico-analítico de lectura de filmes (Michel Fariña, 2015), que se basa en el paradigma indiciario de Carlo Guinzburg y el método abductivo de Charles Peirce.
El paradigma indiciario de Carlo Guinzburg (2008) propone una tarea de pesquisa e indagación pormenorizada, detección de datos marginales y privilegio de detalles poco perceptibles a primera vista, a la manera de un cazador o detective. Por otra parte, el método abductivo de Charles Peirce trabaja generando hipótesis para dar cuenta de hechos que nos sorprenden y que no tienen una explicación a partir de reglas generales. La lógica de la abducción incluye así a la creatividad y a la sorpresa (Pulice, Zelis y Manson, 2007).
Michel Fariña (2015) propone esta innovación metodológica en la articulación entre cine y psicología considerando que el análisis debe estar circunscrito a los personajes y al relato del film, y resaltando el valor del detalle leído como una singularidad en situación, y la posibilidad de establecer una conjetura o hipótesis clínica al respecto (Michel Fariña y Gutiérrez, 1999; Michel Fariña y Solbakk, 2012; Michel Fariña, 2015; Cambra Badii, 2016; Michel Fariña y Tomas Maier, 2016).
Asimismo, nuestra propuesta radica en dar un paso más sobre este desarrollo, y tomar en cuenta no sólo la narrativa del film, sino también los recursos técnico-estilísticos. Esta construcción del espectador, definitivamente singular y novedosa, se basa en los datos experimentales del film (la obra existe, en efecto) pero incluye elementos ligados a las intuiciones, a la espontaneidad, y a la lectura singular misma. Esta operación conceptual, producida a partir de la experiencia propia como espectador, pero también
en conexión con los saberes previos e intuiciones sobre el tema, es de vital importancia y requiere ser revalorizada en el estudio del cine y las ciencias sociales, y a psicología en particular. Implica, asimismo, la interrogación acerca de qué nos enseña, a los psicólogos, la experiencia del cine (Michel Fariña, 2012).
Esta pregunta, de vital importancia, implica invertir el estudio de la obra cinematográfica en los términos planteados por Aumont y Marie (2006), tan difundidos hasta nuestros días. Un ejemplo paradigmático de este modo de lectura en el ámbito psi es la del filósofo esloveno Slavoj Zizek (1994a, 1994b, 2000), cuyo talento se despliega en innumerables escritos y aportes de articulación entre cine y psicoanálisis, que aplican los conceptos del psicoanálisis lacaniano a distintas obras de la cinematografía moderna.
Desde nuestro punto de vista metodológico, se trata de hace justamente del movimiento contrario: el desafío está en poder introducir la cuestión de poder pensar conceptualmente a partir de lo que el cine trae a la disciplina psicológica como forma de interrogarla y de crearla, y no al revés, interpretando todos los contenidos como si fueran conceptos acabados.
El cine no solamente actúa como ejemplificaciones o ilustraciones de contenidos ya existentes, sino que muchas veces permiten estructurar nuevos modelos metodológicos de comprensión o incluso de creación de problemas complejos, en un equilibrio que incluye tanto a la deliberación sobre los conceptos como la experiencia estética y artística de la narrativa audiovisual.
En las investigaciones anteriores (UBACyT 2011-2014 y 2014-2017) nos hemos preguntado si a través de un recorte o fragmento cinematográfico puede ampliarse el conocimiento sobre una situación determinada, estudiada previamente desde el conocimiento disponible en el estado del arte. Hemos planteado la posibilidad de que las emociones provocadas por las imágenes y la experiencia misma del cine, a través de conocer las relaciones interpersonales entre los personajes implicados, luego de observar sus reacciones e involucrarse con ellos, al producirse en el espectador nuevos pensamientos y sentimientos suscitados por la situación, producen un singular acercamiento a los conceptos, e incluso la posibilidad de pensar conceptos nuevos a partir de la experiencia cinematográfica.
Teniendo en cuenta los antecedentes estudiados en relación con la Psicología, podemos señalar que así como la narrativa cinematográfica nos permite indagar vías de acceso a la clínica con los pacientes (por ejemplo a través de la cineterapia analítica, Cambra Badii et al, 2017), se convierte también en una vía privilegiada para estudiar los dilemas de nuestra práctica cotidiana como psicólogos, ya que al mostrar nuevos problemas o presentarlos en una complejidad insospechada despierta distintos afectos, que después pueden ponerse en palabras.
Por otra parte, considerando que el formato audiovisual no sólo permite acercarse a situaciones novedosas, problemas y dilemas de nuestro campo profesional, sino que también permiten elaborar conceptos nuevos en relación a ellos (Cabrera, 1999), podemos preguntarnos: ¿de qué manera el cine modela el pensamiento psicológico? ¿Cómo surgen conceptos nuevos a partir de la narrativa cinematográfica? ¿Cómo pueden integrarse en una matriz metodológica (Samaja, 2004) que nos permita pensar en el cine como registro del mundo contemporáneo, pero también como creador de sus representaciones?
Los modelos metodológicos que buscaremos sistematizar representan una nueva forma de trabajar con las narrativas audiovisuales, constituyéndolas científicamente en esquemas reconocibles y replicables en distintas áreas y disciplinas científicas. Evidentemente, la cuestión social de producción del conocimiento a través del cine permite repensar en distintos escenarios y modelos para las ciencias sociales y humanas.
Para poder pensar los modelos metodológicos, nos basamos en la conceptualización de los modelos mentales, es decir, representaciones internas de los objetos o fenómenos, que poseen características internas comunes, a la manera de analogías funcionales (Johnson-Laird, 1983). Estas analogías funcionales tienen un carácter más abstracto que la información del objeto o fenómeno, pero son
presentadas como “análogas estructurales del mundo” (Moreira, 1998, p. 5). Desde nuestra concepción, en estos modelos metodológicos encontramos un paso más, una co-construcción, que podríamos ubicar entre la narrativa audiovisual y el acto del espectador, que modifica el film de acuerdo con un acto de lectura. Es decir, no es una fotocopia o una analogía estructural del film, sino que en el acto de lectura del film hay un aspecto subjetivo del espectador.
Estos modelos metodológicos trascienden entonces el modelo didáctico de las herramientas de aplicación e interrogación, para interesarse por las formas de construcción activas de los espectadores. Para ello, es necesario tomar en cuenta la dimensión singular del formato audiovisual. Esta es una de las dos manifestaciones de lo audiovisual, que se incluye en un doble movimiento: por un lado, lo particular (lo común a un determinado momento socio-histórico, las normativas, los códigos grupales compartidos), y por otro, lo universal-singular, la singularidad en situación, es decir, aquellas coordenadas precisas que tiene una situación que la diferencian de las demás y que, en algunos casos, amplían el universo conocido previamente (Michel Fariña, 2001; Michel Fariña y Solbakk, 2012). Consideramos que es a través de esta singularidad que el espectador puede empatizar con el contenido de la narrativa, ya que visualiza elementos de la dimensión subjetiva –detalles de la vida de los personajes y de la trama, que permiten hacer puentes con elementos comunes con su vida profesional y cotidiana, y a su vez identificarse con estados de ánimo, actitudes o acciones llevadas a cabo por los personajes.
El abordaje de las singularidades situacionales que mencionamos es, a su vez, un sistema epistemológico diferente a la intención generalizante que suele utilizarse en algunos contextos científicos. Cada una de las analogías cinematográficas analizadas, puede pensarse a la manera de un paradigma de la singularidad. Tal como señala Giorgio Agamben, cuando se configura un paradigma, esto:
implica el abandono sin reservas del particular-general como modelo de la inferencia lógica. La regla (si aún puede hablarse aquí de regla) no es una generalidad que preexiste a los casos singulares y se aplica a ellos, ni algo que resulta de la enumeración exhaustiva de los casos particulares. Más bien es la mera exhibición del caso paradigmático la que constituye una regla, que, como tal, no puede ser ni aplicada ni enunciada (Agamben, 2010, p. 10).
Esta posibilidad de pensar al cine en relación con la construcción de una singularidad en situación permite desplegar, a partir de recortes de pocos minutos de duración, una verdadera ocasión de pensamiento donde se despliega la subjetividad de los personajes y del propio espectador, atravesado por la escena.
1. Las ideas ya no se escriben en papel. Se escriben en pantallas. (Ray, en Gimeno, 2010)
Habiendo establecido una sistematización del estado del arte respecto del estudio sobre cine para su articulación con la Psicología, hemos propuesto pensar en la posibilidad de crear modelos metodológicos para su estudio, que contribuya a la comprensión de problemas complejos de la Psicología y que tengan en cuenta los efectos que se generan en el espectador, los fenómenos de comprensión del contenido y los conceptos que se representan en el interior de la narrativa cinematográfica, así como también la dimensión subjetiva del discurso cinematográfico.
Esto implica jerarquizar el valor singular de la propia lectura del espectador en relación con su experiencia cinematográfica, dejándose transformar por lo que allí acontece, y poniendo en tensión aspectos conceptuales que no son universos cerrados.
Para el futuro de la investigación, conjuntamente con la delimitación de estos modelos metodológicos, consideramos necesario volver a preguntarnos por las distintas modalidades del formato de la narrativa audiovisual, ya que en la actualidad consideramos sumamente interesante el estudio del cine y de las series.
Desde hace dos décadas, las series se constituyen como formatos narrativos audiovisuales privilegiados: diariamente, millones de personas siguen distintos géneros y formatos (desde la tradicional sitcom hasta miniseries de escasos episodios y un formato similar al cinematográfico) desde la pantalla de su celular, tablet o notebook. El espectador se independiza de la sala de cine y de las fechas de estreno de las películas, sumergiéndose de lleno en el ritmo de las series, que atrapan con sus lanzamientos por temporadas completas mediante un simple click en plataformas como Netflix o Amazon. Por la potencia de su difusión, las series se han constituido como un relevo del cine para el público masivo. Esto no se debe únicamente a las múltiples posibilidades y dispositivos que las nuevas tecnologías brindan, sino que, en una sociedad permanentemente instalada en la hiperactividad y esclava de la falta de tiempo, la vida actual exige entretenimientos cortos y accesibles (Bort Gual, 2010).
Entendemos, junto con Gèrard Wajcman, que la serie americana funda una gramática nueva y singular que rompe con las formas del relato propias del cine, la novela o la pintura, e instituye un “relato del mundo” que da cuenta de la época. Nuestro mundo, entonces, estaría estructurado como una serie americana (Wajcman, 2010).
Las series constituyen plataformas narrativas que nos permiten acceder a las representaciones actuales como indicadores privilegiados de una determinada cultura de época, con ritmos distintos a los de las producciones cinematográficas. Entenderlas no sólo como fenómeno de consumo sino más bien en su dimensión semiótica (Lotman, 2000) posibilita utilizarlas como fuente de información en un análisis cualitativo de su contenido, que nos permite emplazar, una vez más, la pregunta metodológica: ¿qué nos enseña, a los psicólogos, la experiencia de la narrativa cinematográfica? (Michel Fariña, 2012).
Tal como señala Carrión (2014) las series vienen a reemplazar al cine, así como el cine ha reemplazado a la literatura de los siglos XIX y XX como forma de relato predominante en términos de consumo, “amplificando la percepción o el sentido de las otras modalidades discursivas” (Carrión, 2014, pp. 49- 50).
Asimismo, resulta interesante adentrarnos en los estudios que combinan la semiótica y el análisis de consumos culturales, ya que se entiende a las series no sólo en su dimensión narrativa, sino que incorpora el análisis de los espectadores, denominados usuarios. Henry Jenkins (2003) y Carlos Scolari (2013) proponen el estudio de las narrativas transmedia haciendo énfasis en la colaboración de los usuarios en la expansión del relato literario en su traspolación al cine y a las series, y la transformación a través de distintas plataformas virtuales tales como blogs, Twitter, entre otras.
El cine trasciende sus fronteras originales y se incorporan nuevos aspectos y conceptos a través de las series y de conceptualizaciones nuevas, que requieren ser reelaborados, repensados, resignificados, en nuevos avances científicos sobre esta disciplina en conexión con la psicología y otras ciencias sociales.
Este trabajo fue realizado en el marco de la Práctica Profesional y de Investigación 823 de la Facultad de Psicología, Universidad de Buenos Aires (Prof. Titular Juan Jorge Michel Fariña) y el proyecto de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad de Buenos Aires (UBACyT) 20020170200229BA “Pensar el cine. La narrativa de películas y series como matriz metodológica para el tratamiento de problemas complejos”.
Agamben, G. (2010). Signatura rerum. Sobre el método. Buenos Aires: Adriana Hidalgo. Andreas-Salomé, L. ([1913] 1977). Aprendiendo con Freud. Barcelona: Laertes.
Aumont, J., Bergala, A., Marie, M., y Vernet, M. (2011). Estética del cine. Espacio fílmico, montaje, narración, lenguaje. Buenos Aires: Paidós.
Aumont, J., y Marie, M. (2006). Diccionario teórico y crítico del cine. Buenos Aires: La Marca Editores. Badiou, A. (2004). El cine como experimentación filosófica. En Yoel, Gerardo, Pensar el cine 1:
imagen, ética y filosofía (pp.23-35). Buenos Aires: Manantial.
Badiou, A. (2011). Imágenes y palabras. Escritos sobre cine y teatro. Buenos Aires: Manantial
Bajtin, M. (1982). El problema de los géneros discursivos. En Estética de la creación verbal. México: Siglo XXI
Barthes, R. (1970). El efecto de realidad. En Lo verosímil (95-101). Buenos Aires: Tiempo Contemporáneo
Benasayag, A. (2017) La hipótesis de la cinefilia docente. El cine de ficción en la escuela media argentina. Revista Digital do LAV, 10(2), pp. 56-78
Bergala, A. (2007). La hipótesis del cine. Pequeño tratado sobre la transmisión del cine en la escuela y fuera de ella. Barcelona: Laertes.
Bergson, H. (2006) Materia y memoria. Ensayo sobre la relación del cuerpo con el espíritu. Buenos Aires: Cactus.
Bergson, H. (2016). Memoria y vida. Madrid: Alianza
Bettetini, G. (1984). Tiempo de la expresión cinematográfica: la lógica temporal de los test audiovisuales. México: Fondo de Cultura Económica.
Bort Gual, I. (2010) Nuevos paradigmas teóricos en las partículas narrativas de apertura y cierre de las series de televisión dramáticas norteamericanas contemporáneas. En Memorias II Congreso Internacional Latina de Comunicación Social. Universidad de la Laguna.
Cabrera, J. (1999): Cine: 100 años de filosofía. Una introducción a la filosofía a través del análisis de películas. Barcelona: Gedisa.
Calvert, B., Casey, N., Casey, B., French, L., y Lewis, J. (2007). Television studies: The key concepts.
London: Routledge.
Cambra Badii, I. (2014) La narrativa cinematográfica como Vía de Acceso a la Complejidad en Bioética.
Tesis de Doctorado en Psicología, Universidad del Salvador, Buenos Aires, Argentina, Inédita.
Cambra Badii, I. (2016). Psicología, Bioética y Narrativa cinematográfica: un análisis cualitativo de producciones de estudiantes sobre conflictos bioéticos relacionados con la identidad. Revista Latinoamericana de Bioética, 16, 31-2, pp. 16-39.
Cambra Badii, I., Mastandrea, P., Paragis, P., Tomas Maier, A., González Pla, F., Michel Fariña, J. J. (2017). Cine aplicado a la Psicología: el abordaje ético-clínico de las Tecnologías de Reproducción Humana Asistida. En Premio Facultad de Psicología (pp. 11-39), Buenos Aires: Universidad de Buenos Aires.
Canudo, R. (1914). Manifiesto de las siete artes. En: Textos y Manifiestos del Cine. Estética. Escuelas.
Movimientos. Disciplinas. Innovaciones.
Carrión, J. (2014). Teleshakespeare. Las series en serio. Buenos Aires: Interzona
Casetti, F., y Di Chio, F. (1994) Cómo analizar un film. Madrid: Cátedra Casetti, F., y Gromegna, A. G. (1989). El film y su espectador. Madrid: Cátedra.
Chion, M. (1993). La audiovisión. Introducción a un análisis de la imagen y el sonido. Barcelona: Paidós.
Dalmasso, M.T. (2005) Reflexiones semióticas. Estudios, 17, 11-20.
Dark, M. L. (2005). Using science fiction movies in introductory Physics. The Teacher Physics, 43, 463- 465.
Deleuze, G. (1984) Estudios sobre cine 1. La imagen – movimiento. Barcelona: Paidós. Deleuze, G. (1987) Estudios sobre cine 2. La imagen – tiempo. Barcelona: Paidós.
Ferres, J. (2014). Las pantallas y el cerebro emocional. Barcelona: Gedisa.
García Borrás, F. J. (2008), Bienvenido Mister cine a la enseñanza de las ciencias. Revista Eureka sobre Enseñanza y Divulgación de las Ciencias, 6(1), 79-91.
Gaudreault, A., Jost, F., y Pujol, N. (1995). El relato cinematográfico: cine y narratología. Barcelona: Paidós.
Genette, G. (1989). Figuras III. Barcelona: Lumen
Gimeno, S. (2010). Series cum laude. Madrid: El País del 10 de abril de 2010.
Ginzburg, C. (2008). Indicios. Raíces de un paradigma de inferencias indiciales. En Mitos, problemas, indicios. Morfología e historia. Barcelona: Gedisa.
Hernández Figaredo, P., Peña García, F. (2013). El cine como herramienta en la docencia de Psiquiatría.
Revista Humanidades Médicas, 13, (1), 244-265.
Jenkins, H. (2003): “Transmedia storytelling: Moving characters from books to films to videogames can make them stronger and more compelling”. Technology Review. Disponible en:
<http://www.technologyreview.com/biotech/13052>
Johnson- Laird, P. (1983). Mental Models. Towards a Cognitive Science of Language, Inference, and Consciousness. Cambridge: Harvard University Press.
Jost, F. (2002). El ojo cámara: entre el film y la novela. Buenos Aires: Catálogos. Laso, E. (2018). El ojo maravilloso. Buenos Aires: Rojo
Lewkowicz, Ignacio (2002). Particular, Universal, Singular. En Michel Fariña, J. J. Ética: un horizonte en quiebra (pp. 57-63). Buenos Aires: Eudeba.
Lotman, Y. (2000). El lugar del arte cinematográfico en el mecanismo de la cultura. En La Semiosfera III (pp.123-137), Madrid: Frónesis Cátedra.
Mason, J. (1996). Qualitative Researching. Londres: Sage.
Mateus, J.C. (2017) Las teleseries también educan. Una defensa de las ficciones televisivas como dispositivos de aprendizaje. En: Cappello, G. (ed.) Ficciones cercanas. Televisión, narración y espíritu de los tiempos. (pp. 179-195) Lima: Universidad de Lima. Fondo Editorial.
Metz, C. ([1972]2000). Ensayos sobre la significación en el cine. Buenos Aires: Paidós
Michel Fariña, J.J. (2001). La ética en movimiento. Fundamentos en Humanidades. Facultad de Ciencias Humanas de San Luis, 1(2), 13-20.
Michel Fariña, J.J. (2006). El doble movimiento de la ética contemporánea: una ilustración cinematográfica. En Salomone, G. Z. y Domínguez, M. E., La transmisión de la ética. Clínica y deontología. Vol. I: Fundamentos (pp. 19-26). Buenos Aires: Letra Viva.
Michel Fariña, J. J. (2012) Un abordaje (bio) ético: lo que el cine nos enseña sobre la tartamudez. En Michel Fariña, J. J. y Solbakk, J. H. (2012): (Bio)ética y Cine. Tragedia griega y acontecimiento del cuerpo (pp.151-159). Buenos Aires: Letra Viva.
Michel Fariña, J. J. (2015). Ética y cine: el método clínico-analítico de lectura de películas y sus aportes a la psicología. Tesis de Doctorado en Psicología, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina, Inédita.
Michel Fariña, J.J, y Gutiérrez, C. (1999). Ética y Cine. Buenos Aires: JVE Ediciones / Eudeba.
Michel Fariña, J. J., y Solbakk, J. H. (Comps.) (Bio)ética y cine. Tragedia griega y acontecimiento del cuerpo. Buenos Aires: Letra Viva.
Michel Fariña, J.J, y Tomas Maier, A. (2016). ¿Cómo leer un film? La formación ética a través del cine y la virtualidade. Informática na Educação: teoria e prática, 19 (1), pp. 69-83.
Moreira, M. A. (1998). Mental models. Investigações em Ensino de Ciências, 1 (3), p. 193-232. Morin, E. (2001). El cine o el hombre imaginario. Barcelona: Paidós
Perales Palacios, F.J. (2006), Uso (y abuso) de la imagen en la enseñanza de las ciencias. Enseñanza de las ciencias, 24(1), 13–30
Piscitelli, A. (2012). Video TV, ergo sum. Cuando la cultura audiovisual también sirve para pensar(se) y hacer pensar. En G. Orozco (coord.), TVMorfosis: la televisión abierta hacia una sociedad de redes (pp. 98-107). México: Universidad de Guadalajara / Tintable.
Pulice, G., Zelis, O., y Manson, F. (2007). Investigar la subjetividad. Buenos Aires: Letra Viva. Ricoeur, P. (2006). La vida: un relato en busca de narrador. Ágora, 25 (2), 9-22
Salomone, G. Z. (2013). Responsabilidad profesional: Las perspectivas deontológica, jurídica y clínica. En Discursos institucionales, lecturas clínicas. Dilemas éticos de la psicología en el ámbito jurídico y otros contextos institucionales (pp. 94-107), Buenos Aires: Dynamo.
Samaja, J. (2004). Proceso, diseño y proyecto en investigación científica. Buenos Aires: JVE Editores. Sartori, G. (1998). Homo videns. La sociedad teledirigida. Madrid: Taurus.
Scolari, C. (2013). Narrativas transmedia. Cuando todos los medios cuentan. Barcelona: Deusto
Sel, S., y Gagioli, L. (2002). A propósito de ‘Reflexiones sobre una estética del cine’ (1913), Coloquio Georgy Lukács, UBA, Cedinci.
Taylor, S.J. y Bogdan, R (2013). Introducción a los métodos cualitativos de investigación. Barcelona: Paidós.
Triquell, X. (2012). Contar con imágenes: Una introducción a la narrativa audiovisual. Córdoba: Brujas
Vollet, M. (2006). Imágenes, percepción y cine en Bergson y Deleuze. Eidos: Revista de Filosofía de la Universidad del Norte, 5, pp. 70-93
Wajcman, G. (2010). Tres notas para introducir la forma ‘serie’. Revista del Departamento de Estudios Psicoanalíticos sobre la Familia – Enlaces, 12, 15. Buenos Aires: Grama Ediciones
Zimmerman, D. (2000). Contornos de lo Real. La verdad como estructura de ficción. Buenos Aires: Letra Viva.
Zizek, S. (1994a). ¡Goza tu síntoma! Jacques Lacan dentro y fuera de Hollywood. Buenos Aires: Nueva Vision.
Zizek, S. (1994b). Todo lo que usted siempre quiso saber sobre Lacan y nunca se atrevió a preguntarle a Hitchcock. Buenos Aires: Manantial
Zizek, S. (2000). Mirando al sesgo: una introducción a Jacques Lacan a través de la cultura popular.
Barcelona: Paidós.
https://doi.org/10.24316/prometeica.v0i17.231
CONTATO (1997): A IMAGINAÇÃO E O CONHECIMENTO CIENTÍFICO
CONTACT (1997): IMAGINATION AND SCIENTIFIC KNOWLEDGE
Ivy Judensnaider
(Doutoranda no PECIM-Unicamp e docente na UNIP - Universidade Paulista),
Fernando Santiago dos Santos
(Professor Associado do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, campus São Roque
e Professor Colaborador do PECIM-Unicamp)
Recibido: 07/05/2018
Aprobado: 10/06/2018
RESUMO
O “fazer científico” moderno pauta-se, invariavelmente, em um esquema procedimental que se articula à observação e à experimentação, negando formas de conhecimento que não atendam a seus princípios epistemológicos e de racionalidade metodológica. Criação e imaginação são campos raramente discutidos entre a comunidade científica, sendo, até, considerados inadequados. A crise da pós-modernidade coloca em xeque, até certo ponto, esta hegemonia da racionalidade e do conhecimento matematizável, coluna de sustentação da abstração dos fenômenos da natureza. Propomo-nos a discutir, com base no filme Contato (1997), de Zemeckis, que a imaginação e a experiência pessoal da protagonista, a cientista Ellie, podem ser elementos importantes – e por que não fundamentais? – da construção do conhecimento científico. A narrativa e a trama desta obra fílmica fazem-nos refletir sobre três argumentos plausíveis: prova da mentira, prova da verdade e prova da impossibilidade. Afinal, faz-se ciência somente com base em fatos observáveis, ou também é possível fazer ciência com base na imaginação? Este artigo tenta discutir esta possibilidade.
ABSTRACT
The modern scientific approach invariably resides upon a procedural scheme that is articulated with observation and experimentation, commonly denying knowledge buildup not subjected to its epistemological and methodological rationality. The scientific community seldom discusses creation and imagination in science, being these attributes considered inappropriate. The post-modernity crisis challenges, to a certain extent, the hegemony of rationality and mathematically-based knowledge, which is the sustaining column for natural phenomena abstraction. We propose to debate, based on Zemeckis’ movie – Contact (1997) –, that its protagonist, the scientist Ellie, brings us essential (and why not fundamental?) elements for scientific knowledge buildup, that is, imagination and personal experience. Both the narrative and the plot of this film work drive us into a reflection of three plausible arguments: proof of the lie, proof of truth, and proof of impossibility. After all, is science made only on the track of observable facts, or is it also built from imagination? The present article tries to discuss such a possibility.
Em Contato (1997), o discurso científico-ficcional produzido pelo cinema narra a trajetória de uma cientista que produz um discurso a respeito do qual não se pode afirmar sua origem – se gerado pela imaginação formal ou pela imaginação criadora –, mas que abre novas possibilidades de apreensão da realidade e oportunidades para a discussão da importância epistemológica dos processos da imaginação e da criação na construção da ciência. Como filme de ficção, é criação sem compromisso com a realidade, mas que produz um discurso com força de verdade por meio de uma linguagem que dá origem a novos mundos que se alimentam do real e emulam o real, de forma lógica e racional, “livre de diferentes manifestos, sejam epistemológicos, filosóficos, sociológicos e/ou científicos" (Gomes-Maluf e Souza, 2008, p. 275). Complementando este raciocínio sobre a ficção científica e sobre seus mitos assim apresentados, também podemos citar Atlan (1994, p. 286): “(...) a ambiguidade do indizível que, no entanto, se diz, daquilo que é apenas implícito, mas que explicitamos largamente, é claramente suspensa, pois o caráter de verdade daquilo que assim se diz é imediatamente eliminado, sem deixar lugar a qualquer perigo de ser tomado como objeto de crença. Esta complementaridade só pode ser expressa de uma forma tal que não possamos acreditar nela; é precisamente esse o papel da ficção científica”.
Neste artigo, pretendemos investigar a narrativa científico-ficcional do filme Contato (1997). As questões a que nos propomos a responder são: (i) Quais são os caminhos que essa narrativa nos apresenta para o “fazer científico”?; e, (ii) Como o discurso fílmico coloca a imaginação como elemento-chave para a criação científica? Para respondermos a essas perguntas, deslocamo-nos, então, para o campo da fenomenologia: é a partir dessa perspectiva que as experiências narradas podem ser compreendidas, mesmo porque é dessa forma que a personagem principal consegue apreender os fenômenos que são colocados à sua frente. Percorrer os caminhos ocultos do pensamento, refazer os passos e desvendar os mistérios da experiência vivida constituem método fenomenológico que permite a "investigação daquilo que é genuinamente possível de ser descoberto e que está potencialmente presente, mas que nem sempre é visto através de procedimentos próprios e adequados. É o encontro com as coisas mesmas" (Lima, 2014, p. 13). Assim, propomo-nos a investigar a experiência intelectual e existencial no campo do conhecimento do fenômeno em si mesmo, que só pode ter sua essência desvelada no mesmo campo que o gestou: a imaginação.
O filme Contato, de 1997, foi produzido e dirigido por Robert Zemeckis com base em obra homônima de Carl Sagan e Ann Druyan. Nele, Ellie3 (astrônoma especializada em radiotelescópios) consegue identificar sinais de inteligências extraterrestres emitidos de Vega, depois de anos de trabalho. Ellie é interpretada pela atriz norte-americana Jodie Foster, formada em Literatura pela Universidade de Yale e ganhadora de dois prêmios Oscar - em 1989, por seu trabalho em Os Acusados (1887) e, em 1992, pelo filme Silêncio dos Inocentes (1991). Os eventos narrados pelo filme têm lugar, supostamente, na década de 1990, já que o presidente Bill Clinton (no Governo de 1993 a 2001) interage com outros personagens por meio dos efeitos especiais.
Ellie desenvolveu uma bem-sucedida carreira acadêmica: é formada pelo MIT (Massachusetts Institute of Technology) e tem doutorado no CALTECH (California Institute of Technology). Seu local de trabalho é o SETI4, na estação de Arecibo, em Porto Rico. Para Ellie, sua pesquisa tem como fundamento uma proposição lógica: o ser humano não pode ser a única espécie existente em um universo tão infinito5.
Ao longo de sua jornada para provar a existência de inteligências extraterrestres, Ellie interage com dois homens: Palmer Joss (escritor e teólogo, cuja área de estudo inclui os efeitos da tecnologia no Terceiro Mundo) e Drumlin (seu cético e aético chefe). Embora preterida no processo inicial que seleciona o cientista que deverá viajar a Vega, é Ellie quem acaba sendo transportada na aeronave construída a partir
das informações enviadas pelos extraterrestres. A viagem através de vários atalhos de tempo e espaço encerra-se quando Ellie chega a um lugar cujo cenário reproduz um antigo desenho feito por ela quando criança. Nesse lugar, o extraterrestre tem as feições de seu pai, já falecido. É ele o responsável por confirmar a Ellie a existência de inúmeras outras civilizações. Ao voltar para a Terra, e sem ter como provar as experiências pelas quais passou, o depoimento de Ellie é recebido com ceticismo. No entanto, o final do filme sugere que esse relato pode ser verdadeiro: embora as câmeras de televisão mostrassem que Ellie havia permanecido na nave apenas alguns momentos, a unidade de vídeo da máquina em que fora transportada havia funcionado durante 18 horas. Em outras palavras: embora não fosse possível confirmar a narrativa de Ellie, não havia como negá-la de maneira conclusiva.
O conflito entre Drumlin e Ellie envolve diferentes concepções a respeito do “fazer científico”. Drumlin materializa o cientista arrogante e manipulador: para ele, a ciência só alcança o conhecimento seguro quando pautada pela indução; assim, a experiência e a observação são os métodos mais adequados para a pesquisa científica. Mais: esta pesquisa é valorada em função dos resultados práticos preconizados pelos modelos tecnocráticos e positivistas (Winckler, 1999) e, de acordo com esta perspectiva, as sentenças que não atendem aos critérios de verificabilidade estão excluídas do campo da investigação científica (Gewandsznajder e Alves-Mazzoti, 1998).
Embora algumas correntes positivistas admitam a importância da imaginação e da criatividade quando da formulação hipotética, a postura de Drumlin é extremamente ortodoxa: em sua opinião, Ellie é brilhante e esforçada, mas obcecada por um campo de estudo que ele considera um suicídio profissional. Por isso, sua ironia em relação ao objeto de investigação de Ellie é explícita: para Drumlin, Ellie procura por “homenzinhos verdes” e apenas espera a ligação telefônica de um ET. Ao cortar as verbas da pesquisa de Ellie, Drumlin acredita estar fazendo um favor à colega: ela é uma cientista promissora demais para desperdiçar tempo com bobagens. De acordo com a concepção de ciência de Drumlin, a busca por outras formas de inteligência não merece o estatuto de trabalho científico. Inteligências extraterrestres não devem ser levadas a sério, nem mesmo como hipóteses de trabalho. Para ele, não há distinção entre o contexto da descoberta, associado ao processo criativo de formulação de hipóteses, e o contexto da justificação, concernente ao processo de validação dos achados e das construções teóricas. Para Drumlin, uma boa pesquisa científica não pode ter origem em algum processo lógico ou alheio às formas a partir das quais o cientista deve agir ou pensar. Em outras palavras, a descoberta e a justificação devem ter como base os mesmos princípios ontológicos e epistemológicos.
Ellie, em princípio, acredita no que pode ser comprovado por meio de evidências empíricas; é a ausência destas, inclusive, que a levam a não acreditar na existência de Deus. Complementarmente, porém, Ellie atribui à ciência a função de descobrir a finalidade da existência humana.
Ellie - Desde que eu me entendo por gente, eu venho procurando alguma coisa, uma razão do porquê estamos aqui, o que estamos fazendo, o que somos... E se essa é uma chance de descobrir mesmo que uma parte dessa resposta, eu acho que vale (Zemeckis, 1997, minuto 78).
Esta concepção finalista da ciência associa-se a um particular modo do fazer científico de Ellie. Assim, ao retornar de sua viagem e diante da desconfiança de todos, Ellie assume que a veracidade de seu relato só pode ser comprovada mediante termos que não os da validação empírica. Ellie admite que os cientistas, algumas vezes, trabalham a partir de construções teóricas que não foram – ou não podem ser
– ratificadas pela experiência. Este é, por exemplo, o caso dos “buracos de minhoca”, as pontes de Einstein-Rosen que ela imagina ter atravessado durante sua viagem.
No processo de construção do conhecimento, Ellie faz uso da imaginação para a compreensão do real; ela assume as limitações impostas pelo rigor da ciência, mas não se furta a debater as questões metafísicas associadas aos objetos e aos fenômenos investigados. Para Ellie, no contexto da descoberta, temas como inteligências extraterrestres são legítimos objetos da investigação científica. Por sua vez, no contexto da justificação, a imaginação e a criatividade são capazes de criar teorias justificáveis, corroboráveis ou não, refutáveis ou não: a descoberta é, também, trabalho científico6.
Em Contato (1997), Ellie descobre novas formas de inteligência e outras civilizações. Mais: ela descobre que há esperança para a espécie humana e que somos capazes de construir um mundo melhor.
Contato (1997): a imaginação como forma de acesso ao conhecimento sobre o espaço
Buscando comparar as dimensões poéticas e científicas, Granger (1998, p. 7) definiu a imaginação como processo de criação de objetos num sistema simbólico que remete “a significações situadas para além dos conteúdos imediatos dados em sua percepção”. Por sua vez, a criação diria respeito aos objetos não preexistentes “enquanto tais na natureza ou no espírito do espectador” (idem). Para Granger (1998), a imaginação, essencial na criação poética, cumpriria apenas uma função auxiliar na criação científica; nesta, a representação do mundo sensível encarregar-se-ia de associar pensamento e objetos abstratos, priorizando os elementos formais.
Para o autor, na imaginação poética, e distintamente do que ocorre na imaginação científica, a ligação entre os objetos criados e o mundo sensível faz surgir emoções e sentimentos. Na criação poética, a imaginação cumpre a tarefa de subverter os dados captados pelos sentidos; na criação científica, em contrapartida, a imaginação coloca-se a serviço da representação dos dados sensíveis com o propósito de facilitar a apreensão das elaborações teóricas, especialmente daquelas que dependem de um elevado grau de abstração para a sua compreensão e para a sua aplicação (Granger, 1998). Ainda, é necessário considerar que, se a imaginação poética pode ou não se submeter a regras (as quais, arbitrárias ou não, funcionam como vetores para a criatividade), a submissão às normas ditadas pela lógica, na imaginação científica, é condição sine qua non.
Neste cenário, é natural que as necessárias vias racionais do conhecimento sejam percebidas como imperativas de uma ciência que pretende investigar as coisas naturalmente dadas, não inventadas. Para apreender o mundo que já está ali, é requisito que o processo de construção do conhecimento esteja associado ao possível, ao real, ao pensado como real. Em consequência, ao se assumir post hoc ergo propter hoc, fortalece-se a concepção equivocada de que o conhecimento científico – racional e produzido de acordo com as rígidas regras impostas pela comunidade científica – deva ser fruto de procedimentos também racionais e lógicos. Elege-se “um discurso como sendo o legítimo, o científico e o verdadeiro, [esquecendo que] (...) há outros discursos, outras maneiras também racionais de se falar da verdade” (Pessanha, 1993, p. 16). A perspectiva tradicional impõe, assim, o atributo de racionalidade e empiria como atributos indispensáveis do fazer científico, inclusive subestimando o papel da imaginação7.
Essa abordagem, que preconiza os parâmetros da racionalidade e do fazer científico livre de impurezas e subjetividade, no entanto, cria inúmeras dificuldades, especialmente no campo da reconstrução histórica da ciência: como compreender (ou categorizar) o trabalho de Leonardo da Vinci (1452-1519)? De onde poderiam ter surgido todos aqueles extraordinários e visionários artefatos mecânicos, hidráulicos e de engenharia, senão dos recantos mais recônditos de uma mente livre para imaginar? Segundo Rossi (2001, p, 76), a análise dos manuscritos e desenhos de Da Vinci nos coloca “diante de um limiar: isto é, estamos diante daqueles homens e daquele ambiente em que aquela aproximação e aquela compenetração (para nós impossível e ilusória) entre ciência e arte não só pareceram reais, mas se configuraram como reais”.
E, se Da Vinci for por demais polímata para que o tomemos como exemplo, vejamos o caso daquele que é considerado o paradigma da construção do conhecimento a partir da experiência e dos fatos: Galileu Galilei (1564-1642). Segundo Koyré (2006, p. 81), Galileu teria descoberto “montanhas na Lua, novos ‘planetas’ no céu, novas estrelas fixas em número tremendo, coisas que nenhum olho humano jamais havia visto e que nenhuma mente humana havia concebido antes”. Teria ele imaginado tudo isso antes mesmo de apontar o perspicullum para a Lua? Caso acreditasse que os olhos nus eram capazes de tudo enxergar, para que, então, construir algo que permitisse “transcender a limitação imposta pela natureza
– ou por Deus – aos sentidos e ao conhecimento humano” (idem)? Para Stengers (1990), Koyré (um dos mais respeitados historiadores da ciência a investigar o trabalho do filósofo e inventor florentino) foi
quem retirou Galileu do panteão dos cientistas que se curvaram aos fatos, atribuindo a ele outra posição de igual importância: distante da figura do sujeito que experimenta – e a partir daí, conclui – Galileu não teria se submetido aos fenômenos. De acordo com Koyré (2006, p. 20) 8, “Galileu sabe a priori o que a experiência deve ser, e a rigor, ele não precisa fazer a experiência, ele a apresenta como se a tivesse feito”. Para Koyré, de forma distinta daquela realizada pelos seus predecessores, Galileu “funda a matemática justamente porque [...] não se submete aos fenômenos, e sim os julga em nome de uma ideia a priori, segundo a qual a essência dos fenômenos é matemática” (Stengers, 1990, p. 19).
Será essa a matematização da realidade que, posteriormente, receberá a contribuição decisiva de Descartes (1596- 1650): o cogito cartesiano é capaz de representar matematicamente a realidade, observadas de perto as regras da lógica e da correspondência analógica9. No entanto, vale ressaltar que isso tudo é representação por meio do uso da razão: mas representação, portanto fruto da imaginação e da intuição. Ou seja, é atividade criadora do pensamento racional, condicionada “pela inteligibilidade dos ‘objetos’ que são propostos à sua compreensão e a seus julgamentos” (Paty, 2001, p. 156), mas, ainda assim, exercício do pensamento e da criação. Supondo-se ou não as categorias apriorísticas de Kant de tempo e espaço, temos aqui uma experiência livre do pensamento. Afinal, o que é a matematização, senão “a passagem, por meio da criação, do particular ao geral” (Paty, 2001, p. 171)? O que é analogia, senão um "movimento do pensamento que escapa à simples comparação e à indução empirista, para ‘inventar livremente’” (idem)?
Para Paty (2001), e tomando como base os pressupostos epistemológicos de Einstein e Poincaré, as ideias científicas são construídas de forma livre pelo pensamento: nem sempre induzidas de maneira lógica e compulsória com base nos dados da experiência, tampouco inscritas no pensamento de maneira inata ou a priori, elas teriam lugar no livre espaço da criação do trabalho científico e da descoberta. A invenção emergiria da atividade inconsciente e, sob o signo do livre arbítrio do pensamento, permitiria a combinação de ideias que, posteriormente, seriam oferecidas ao pensamento consciente. Ainda, os signos (as palavras) associados aos conceitos – perceptíveis aos sentidos e possíveis de serem reproduzidos – só se fariam necessários quando da comunicação, sendo dispensáveis quando do processo inconsciente do pensamento (Paty, 2001). Em consequência, as teorias, longe de explicarem o mundo natural dado (mas ainda não identificado), poderiam ser construídas no campo da criação e da invenção, inclusive na contramão daquilo que os sentidos e a experiência empírica admitiriam como prováveis ou possíveis (Paty, 2001)10.
Contato (1997) analisa as diferentes possibilidades de compreensão do mundo e “restitui à ciência uma dimensão poética esquecida nestes tempos de legitimação pela eficácia” (Winckler, 1999, p. 171). A imaginação de Ellie permite que ela acesse a poesia do cosmos e da existência humana. Da mesma forma como a beleza do evento celestial visto no exterior da nave só pode ser descrita em termos poéticos, sua experiência intelectual e existencial só pode ser compreendida no campo do conhecimento do fenômeno em si mesmo. Afinal, esta experiência “desorganiza toda a sua experiência anterior, estabelece um novo começo, que somente um poeta seria capaz de nomear pela imaginação” (Winckler, 1999, p. 174).
Não há evidências que corroborem o relato de Ellie; exceto pelos sinais emitidos a partir de Veja (i.e., os sinais da linguagem matemática que reproduzem os números primos), tampouco há como provar a existência de outras civilizações. No entanto, há o contato direto com o que ela supõe ser a essência da existência humana e, também, há o vivido que se torna o ponto de partida para a compreensão do universo infinito e de suas incomensuráveis possibilidades. Para ela, “resta a memória da experiência vivida e a vivacidade de seu relato, que somente a poesia, poder da imaginação, como diria Bachelard, poderia resgatar em sua inteireza e singularidade” (Winckler, 1999, p. 172); sobra o devaneio profundo que se entranha no próprio ser e se transforma em realidade, mesmo que primeva e remota.
O devaneio não conta histórias. Ou, pelo menos, há devaneios tão profundos, devaneios que nos ajudam a descer tão profundamente em nós mesmos que nos desembaraçam da nossa história. Libertam-nos do nosso nome. Devolvem-nos, essas solidões de hoje, às solidões primeiras. Essas solidões primeiras, essas solidões de criança, deixam em certas almas marcas indeléveis. Toda a vida é sensibilizada para o devaneio poético, para um devaneio que sabe o preço da solidão. A infância conhece a infelicidade pelos homens. Na solidão
a criança pode acalmar seus sofrimentos. Ali ela se sente filha do cosmos, quando o mundo humano lhe deixa a paz (Bachelard, 1996, p. 94).
Por isso, diante das maravilhas com as quais se depara ao atravessar os túneis de tempo, Ellie conclui que apenas um poeta seria capaz de descrever sua experiência.
Ellie - Estou passando por um tipo de túnel. Tem uma fonte luminosa à frente, azul e branca. Resíduo de radiação? É uma estrela, eu devo ter passado por um túnel do tempo. É Vega. Eu estou em outro túnel agora. Uma série deles. Isto parece com um tipo de sistema de trânsito, como o metrô. Tudo bem, tenho que continuar falando. É um triplo, não, um sistema quádruplo. É lindo. Deve ser outro túnel, muito mais violento. É um evento celestial. Não, não há palavras para descrever isso. Poesia. Deveriam ter mandado um poeta. É tão lindo, é tão lindo. Eu não fazia ideia. Eu não fazia ideia... eu não fazia ideia (Zemeckis, 1997, minuto 115).
Não há outra forma de representar o que Ellie viu, senão a da poesia. O fenômeno só pode ter sua essência desvelada no campo da imaginação, acionada como requisito para a sobrevivência, e que estabelece ordem e sentido ao que é experimentado (Winckler, 1999, p. 173). Por isso, a orfandade provoca o devaneio infantil de Ellie que faz emergir o desejo de acabar com a solidão. Para Bachelard (1996, p. 98), a alma que sonha é uma consciência de solidão e, na solidão feliz, a criança acessa o devaneio cósmico que nos mantém ligados ao mundo. Se o impossível é obstáculo intransponível, a imaginação criadora e a vontade resistem à realidade, colocando-se em oposição à materialidade do universo e das coisas (Silva, 2009, p. 4).
Outras formas de inteligências podem – e devem ser – encontradas. Para Ellie, esse propósito é concretizado quando ela chega ao lugar de onde foram transmitidos os sinais para a Terra, o mesmo lugar que, quando criança, idealizou. A imaginação – formal ou criativa – contempla as possibilidades que a realidade ignorou e o devaneio traz consigo a consciência de bem-estar. “Numa imagem cósmica, assim como numa imagem da nossa casa, estamos no bem-estar de um repouso” (Bachelard, 1996, p. 170), como se atingíssemos um estado de absoluta perfeição. Pensacola é como ela havia imaginado e quem fala sobre um futuro repleto de esperanças é seu pai: não é apenas a sua solidão que tem fim, mas a da espécie humana que viaja pelo imenso e infinito universo, buscando respostas para a própria existência. “De fato, nós e nossas máquinas apenas molhamos os pés no oceano cósmico que se estende para além da Terra” (Silva, 1999, p. 5).
Não há como provar, tampouco como negar: a imaginação de Ellie traz “a marca da subjetividade, estabelece[ndo] uma crítica contra o modo excessivamente racionalista e materialista de conceber o homem e o mundo” (Silva, 2009, p. 2). Não há sequer como tornar a narrativa crível do ponto de vista do tempo e do espaço; no entanto, os devaneios de Ellie têm força de verdade, têm seu curso legitimado nas profundezas do ser sem qualquer compromisso com a realidade e com a empiria. Por isso, ela assim se explica aos que a interrogam:
Ellie – Não posso provar, não posso explicar, mas tudo o que eu sou como ser humano, tudo me diz que foi real. Foi uma coisa maravilhosa, uma coisa que me mudou para sempre. Uma visão do universo que nos diz, inegavelmente, como todos nós somos pequenos e insignificantes, e como somos raros e preciosos. Uma visão que nos diz que pertencemos a uma coisa que é maior do que nós mesmos, e que não estamos, nenhum de nós está sozinho (Zemeckis, 1997, minuto 116).
São esses os termos por meios dos quais Ellie tenta, inutilmente, justificar seu relato. O que resta a Ellie é propor que a racionalidade e a experimentação dividam terreno com a imaginação, permitindo que esta alcance o que é inalcançável; em outras palavras, ela propõe que a imaginação organize cognitivamente o mundo, apesar e além dos dados imediatos (Gomes-Maluf e Souza, 2008). É por meio deste processo que Ellie torna cósmica a lembrança de um tempo remoto: na experiência vivida, estão todos os elementos do desenho feito quando era apenas uma criança, estão ali os seus sonhos de infância tornados realidade, está ali o seu pai garantindo que há um sentido maior na vida, está ali a resposta à pergunta sobre quem somos e qual o sentido da nossa existência.
Para Atlan (1994), o trabalho de Sagan – inclusive a série e o livro Cosmos – não pode ser considerado científico: Sagan trabalha no terreno da ficção científica. Essa não é uma crítica solitária: para vários cientistas, Sagan teria incluído, no campo da ciência, temas como inteligência extraterrestre e fenômenos paranormais, confundindo, dessa forma, as esferas do cientificamente comprovado e da especulação descompromissada (Morrison, 2009). Curiosamente, esse cenário emula o embate entre Ellie e Drumlin no que diz respeito à escolha dos objetos e das hipóteses passíveis de teste e análise científica, e à elaboração de explicações para os fenômenos da natureza.
Ao retornar de sua viagem, os congressistas, os cientistas e a sociedade dizem à Ellie: “prove ser verdade”. Caso Ellie conduzisse sua abordagem nos termos popperianos, seria razoável que ela redarguisse, em sentido contrário: “provem-me ser mentira”. Afinal, embora sua viagem parecesse não ter acontecido, a unidade de vídeo de sua nave gravara sinais de estática durante 18 horas, o que coloca a corroboração e a refutação fora do alcance de Ellie e dos que a ela se opõem.
Contato (1997) nos sugere outra possibilidade: materializando o discurso científico-ficcional de Sagan, Ellie bem poderia ter proposto outro desafio aos que a interrogavam: “provem-me ser impossível”.
Atlan, H. (1994). Com Razão ou Sem Ela: Intercrítica da Ciência e do Mito. Lisboa: Piaget.
Bachelard, G. (1996). A poética do devaneio. Trad. Antônio de Pádua Danesi. Martins Fontes: São Paulo.
Gewandsznajder, F. & Alves-Mazzotti, A. J. (1998). O método nas Ciências Naturais e Sociais. São Paulo: Pioneira.
Gomes-Maluf, M. & Souza, A. (2008). A ficção científica e o ensino de ciências: o imaginário como formador do real e do racional. Ciência & Educação (Bauru), 14(2), 271-282. Disponível em http://www.redalyc.org/html/2510/251019505006
Granger, G. G. (1998). Imaginação poética, imaginação científica. Discurso, (29), 7-14. Disponível em http://www.periodicos.usp.br/discurso/article/view/62635/65439
Koyré, A. (2006) Do mundo fechado ao universo infinito. Rio de Janeiro: Forense Universitária.
Lima, A. B. M. (Org.) (2014). Ensaios sobre fenomenologia: Husserl, Heidegger e Merleau-Ponty.
Ilhéus: Editus.
Monteiro, R. H. (2007). Contato: Afinal, estamos sozinhos? In: Oliveira, B. J. de (Org.), História da Ciência no Cinema 2 – O Retorno (pp. 131-143). Brasília: CAPES; Belo Horizonte: Argvmentvm.
Morrison, D. (2009). Carl Sagan’s Life and Legacy as Scientist, Teacher, and Skeptic. Skeptical Inquirer, 2007-11. Disponível em https://www.csicop.org/si/show/carl_sagans_life_and_legacy_as_scientist_teacher_and_skeptic/ &q=carl+sagan+biography&sa=X&ei=3zUQUIjNNoam0AWf8IDABw&ved=0CDIQFjAF
Paty, M. (2001). A criação científica segundo Poincaré e Einstein. Estudos Avançados, 15(41), 157-192.
Disponível em http://www.scielo.br/pdf/ea/v15n41/v15n41a13.pdf
Pessanha, J. A. (1993). Filosofia e modernidade: racionalidade, imaginação e ética. Educação & Realidade, 22 (1). Disponível em http://www.seer.ufrgs.br/educacaoerealidade/article/download/71454/40538
Rossi, P. (2001). O nascimento da ciência moderna na Europa. Bauru: Edusc. Sagan, C. (1996). Pálido ponto azul. São Paulo: Companhia das Letras.
Seti (2018). Our Scientists: Jill Tarter. Disponível em https://www.seti.org/users/jill-tarter
Silva, A. N. B. da (2009). Imaginação criadora e educação: considerações sobre o pensamento de Gaston Bachelard. Disponível em http://www.cchla.ufrn.br/humanidades2009/Anais/GT32/32.1.pdf
Silva, H. C. (1999). As imagens do espaço no filme Contato. Ciência e Ensino, 6, 5-10.
Skibba, R. (2017). Astrobiology: Hunting aliens. Nature, 546 (7660), 596. Disponível em https://www.nature.com/articles/546596a.pdf
Stengers, I. (1990) Quem tem medo da ciência? - ciências e poderes. Trad. Eloísa de Araújo Ribeiro.
São Paulo: Siciliano.
Winckler, C. R. (1999) Imaginação, poder e ciência: considerações acerca do filme Contato Extraterrestre. Revista FAMECOS, 6(10), 171-175. Disponível em http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/revistafamecos/article/view/3041/0
Zemeckis, R. (Dir.) (1997). Contato. Título original: Contact. Com Jodie Foster e Matthew McConaughey. DVD. Cor. 150 min. Warner-Bros Brasil.
1 Doutoranda no PECIM-Unicamp e docente na UNIP (Universidade Paulista), ivynaider.unicamp@gmail.com.
3 A personagem Ellie Arroway foi parcialmente inspirada em Jill Tarter (Skibba, 2017). Engenheira física pela Cornell University, com mestrado e doutorado pela University of California, Berkeley, Jill Tarter trabalhou no SETI e tem tido papel de destaque na busca de financiamentos privados para projetos científicos (Seti, 2018).
4 O SETI é um programa de colaboração acadêmico-científica que busca sinais de inteligência extraterrestre por meio da análise de dados radiotelescópicos (Seti, 2018).
5 Essa questão está longe de ter sido resolvida. Ainda nos dias de hoje, “tudo o que se disse sobre vida extraterrestre é mera especulação. Mas a Terra já foi considerada o centro do sistema solar e o centro do universo, a nossa galáxia era tida como a única... O desenvolvimento da astronomia tem mostrado que não ocupamos qualquer posição privilegiada no tempo e no espaço” (Monteiro, 2007, p. 142). Esta foi uma das crenças que Sagan defendeu com afinco: em Pálido ponto azul, o autor descreve a imensidão do universo em oposição ao nosso tamanho ínfimo. Nas suas palavras, “a Terra é um palco muito pequeno em uma imensa arena cósmica” (Sagan, 1996, p. 10).
6 De forma alguma Ellie defende o anarquismo metodológico preconizado por Feyerabend. Segundo este, “se ensinam-se ciências, se ensina-se Galileu nas escolas secundárias, é preciso ensinar também a mitologia X, nem mais ou menos ‘retórica’, nem mais ou menos relativa a um contexto de referência indemonstrável. [...] Portanto, a educação deveria ser neutra em relação às ciências como ela o é hoje em dia em relação à religião” (Stengers, 1990, p. 21). Embora inclua alguns temas não ortodoxos no rol daqueles passíveis de investigação científica, Ellie sabe diferenciar ciência de não-ciência (ou, de algum modo, de pseudociência). Sua relação com experiências que não se submetem à empiria está mais próxima do espanto e da angústia do cientista diante das limitações impostas pela hegemonia metodológica da modernidade: “(...) chegamos ao século XX com essa angústia. É a angústia que o neopositivista expressa e que passa para todo mundo. A encruzilhada parece ser esta: ou a clareza, e aí a ciência no sentido mais pleno, o epistêmico no sentido mais luminoso, ou então a impossibilidade da clareza e, por que não, o obscurantismo, o emocionalismo, o simples arrepio, a simples intuição, questões que hoje estão voltando à moda com muita insistência” (Pessanha, 1993, p. 23). Ellie sabe (ou intui) que é possível fazer ciência sem que seja obrigatório “manter-se no nível da razão analítica e da prova coagente” (Pessanha, 1993, p. 26).
7 Segundo Pessanha (1993, p. 22), a ciência moderna amparou-se em dois grandes modelos científicos: o matemático e o indutivo. Mais do que apenas alimentar a produção científica, esses modelos também teriam o objetivo de alimentar “o próprio imaginário do homem a respeito da humanidade”.
8 Para Stengers (1990), a leitura que Koyré faz de Galileu não está isenta de controvérsias. Embora admitindo a reduzida respeitabilidade de outro importante historiador da ciência, Pierre Duhem, Stengers acha relevante lembrar que, para este, Galileu não havia realizado nada que já não tivesse sido concretizado por qualquer outro filósofo medieval e escolástico. Duhem, físico francês e católico, defendeu, em oposição a Koyré, que a física de Galileu era, na verdade, de essência católica, e que já havia sido pensada pelos predecessores do filósofo florentino. Assim, o caso de Galileu não teria relação com a experiência, tampouco com a imaginação ou com a invenção: tratar-se-ia tão somente de um conhecimento cumulativo que, para formular as leis do movimento, só precisava de um “pequeno empurrão”.
9 Para Paty (2001, p. 159), Descartes teria estabelecido o que, para ele, “deveriam ser as condições da inteligibilidade; elas incluíam as condições da invenção (que a seu ver eram sobretudo da ordem da descoberta), já que toda compreensão por parte de um sujeito é, em certa medida, reinvenção”. Segundo Pessanha (1993, p. 16), Descartes, “em meio às suas pesquisas, nas noites dos idos de 1660, começa a ter certos sonhos que o levam a uma espécie de êxtase intelectual. São sonhos de alumbramento, de luminescência, em que toda a pesquisa matemática de alguma forma se configura e se propõe diante dele. Descartes descobre que tudo pode ser explicado através de números. Na verdade, redescobre como ocidental uma premissa que vem da Antiguidade grega, sobretudo dos pitagóricos”.
10 Assume-se, então, que o conhecimento científico vai além de seus conteúdos seguros, compreendendo, “em suas dimensões o próprio trabalho do pensamento que o estabelece” (Paty, 2001, p. 157). Em relação a Einstein, Paty (2001, p. 171), inclusive, conclui que “esse trabalho de criação utiliza o raciocínio (que não encerra apenas dedução, mas é também construtivo ao constituir os objetos) tanto quanto a intuição, termo pelo qual designamos aqui uma percepção (intelectual) sintética de um complexo de conceitos”. Ainda para este autor, “Inventar é ver [... e o] desenvolvimento dessa intuição permite a capacidade de inventar e de ser criador” (Paty, 2001, p. 175). Assim, será por meio da imaginação criativa que os objetos do pensamento se transformam em representações do mundo, importando, também, “saber como os elementos do conhecimento surgem com a novidade daquilo que, até então inexistente, é, num certo momento, inventado e criado” (idem, p. 183).
Virtualidad y Espacios de Interacción Digital
https://doi.org/10.24316/prometeica.v0i17.228
THE SELFIE-GESTURE. COULD THE SELFIE BE A ‘NACHLEBEN DER ANTIKE’?
Leão Serva
(Pontifícia Universidade Católica de São Paulo)
Norval Baitello Jr.
(Pontifícia Universidade Católica de São Paulo)
Recibido: 07/05/2018
Aprobado: 10/06/2018
RESUMO
A epidemia do selfie no século 21 pode ser apenas a continuidade, potencializada por uma tecnologia nova, de movimentos humanos presentes desde a Antiguidade. Gestos arcaicos considerados tanto no âmbito do desejo de expressar a identidade do autor de imagens diversas (como são os casos das mãos impressas em paredes de cavernas por autores de pinturas rupestres), quanto no repertório propriamente da gestualidade humana expressiva de emoções. Este é o caso dos gestos de expressão do pathos vitorioso, por exemplo, como definiu o pensador alemão Aby Warburg (1866-1929) na transição do século 19 para o 20. Warburg dedicou-se a detectar a presença continuada de elementos da cultura antiga nos tempos posteriores, nos jogos infantis, nos mitos renovados, na composição pelos artistas do Renascimento de obras que usam imagens idênticas a outras, tantas gregas ou romanas, entre outras formas de manifestação que ele denominou Nachleben der Antike ou vitalidade das formas antigas. O conceito de Warburg parece encarnar-se no gestual da pessoa contemporânea que faz um selfie quando se vê a antiga estátua de Apolo, no Museu do Louvre, em que ele parece produzir um selfie depois de alcançar a vitória sobre a serpente Píton.. Warburg também inspira perguntas, como a que dá título a este texto: Será o selfie um Nachleben? Será que o movimento que fazemos para produzir uma autofotografia digital é uma manifestação da presença continuada de um gesto ancestral?
Palavras-chave: Aby Warburg; selfie; Nachleben der Antike; Vitalidade das formas antigas; autorretrato, gesto
![]()
A palavra alemã Nachleben significa literalmente pós-vida. Usada por Aby Warburg na expressão “Nachleben der Antike” (pós-vida da antiguidade) ela expressa uma continuidade vital ou a permanência de uma vitalidade. Torna-se portanto um conceito específico do pensamento de Warburg aplicado às Ciências da Cultura e a seus estudos da imagem. Giorgio Agamben traduziu-a como “vida póstuma” e Georges Didi-Huberman a traduz como “sobrevivência”.
ABSTRACT
The epidemic of the selfie in the 21st century may only be the continuity, with new technology, of human movements present since antiquity. Archaic gestures both in the ambit of the desire to express the identity of the author of several images (as are the cases of the hands printed on walls of caves by authors of ancient rock paintings) and in the repertoire proper of expressive human gestures of emotions. This is the case of the gestures of expression of the Pathos of Victory, for example, as defined by the German writer Aby Warburg (1866-1929). Warburg was dedicated to detecting the continued presence of elements of ancient culture in later times, in children's games, in renewed myths, in the composition by the Renaissance artists of works that use images identical to others Greek or Roman, among other forms of manifestation of what he called Nachleben der Antike or vitality of the Antique. The concept of Warburg seems to embody itself in the gesture of the contemporary person who makes a selfie as one sees the ancient statue of Apollo in the Louvre Museum in which he seems to produce a selfie after achieving victory over the serpent Python. Warburg also may inspire questions, such as: could the selfie be a Nachleben der Antike? Is the movement we make to produce a digital self-photograph a manifestation of the continued presence of an ancestral gesture?
Keywords: Aby Warburg; selfie; Nachleben der Antike; Vitality of the Antique; self-portrait, gesture

Figura 1: “Apolo vence a serpente Píton”: escultura italiana do começo do século 18, no Museu do Louvre
A epidemia do selfie no século 21 pode ser apenas a continuidade, associada a uma nova tecnologia, de movimentos humanos presentes desde tempos antigos, tanto no âmbito do desejo de expressar a
identidade do autor da obra (desde as mãos impressas em paredes de cavernas por autores de pinturas rupestres), quanto no repertório propriamente dos gestos humanos significativos de emoções, de “pathos vitorioso”, por exemplo, para usar a expressão criada por Aby Warburg na transição do século 19 para o 20. Essa constatação resulta imediatamente da visão de uma antiga estátua de Apolo no Museu do Louvre em que o deus grego parece produzir um selfie depois de alcançar a vitória sobre a serpente Píton. Warburg também inspira uma pergunta, que levamos ao subtítulo deste texto: será o selfie um Nachleben? Será que o gesto que fazemos para produzir um autorretrato digital é uma manifestação da presença continuada de um gesto ancestral?
O conceito de Pathosformel (ou “fórmula de emoção”) foi concebido por Aby Warburg quando o estudioso alemão identificou em um desenho de Albrecht Dürer (1471-1528) exatamente o mesmo gesto e uma composição muito semelhante à de uma gravura atribuída a Andrea Mantegna (1431-1506) ou seus discípulos. O renascentista alemão baseou-se no trabalho do também renascentista italiano, que por sua vez havia se inspirado em uma antiga imagem grega já, então, desaparecida.
Em uma conferência datada de 1905, Warburg (2013) atribuiu a repetição exata do gesto em imagens separadas no tempo por tantos milênios ao fato dele ser a expressão de uma emoção, capaz de reconhecimento imediato e universal.
A morte de Orfeu aparece também em outras obras de arte de caráter bem distinto, como, por exemplo, no caderno de desenhos da Itália setentrional (propriedade de lorde Rosebery), nos pratos de Orfeu da coleção Correr, numa placa do Museu de Berlim e em um desenho (Giulio Romano [?]) no Louvre. Todos eles demonstram, em concordância quase perfeita, a vitalidade com a qual a ‘fórmula de pathos’ arqueologicamente fiel, inspirada numa representação clássica de Orfeu ou Penteu, se instalara nos círculos artísticos. (Warburg, 2013: 436)
Como tal, disse Warburg (2013), o gesto é uma “fórmula de emoção” perfeitamente preservada como um fóssil (“arqueologicamente fiel”, foi sua expressão). Ao encontrar a imagem formatadora antiga, Warburg (2013) entendeu a matriz antiga de um gesto mais recente. Então, percebeu que o que poderia parecer fortuito aos olhos de outros observadores coincidia em artistas de diferentes épocas, oriundos de lugares distantes da Europa. Não era uma coincidência, mas um elemento significante usado para a criação de imagens expressivas por seus autores.
Warburg (2015) encontrou o sentido desse elemento, dessa fórmula sintética de representação de emoção, como os etimologistas encontram o sentido profundo das expressões idiomáticas contemporâneas de diferentes línguas em sua origem comum.
O mesmo sentimento que o estudioso alemão sentiu ao detectar a presença de um gesto antigo em uma imagem renascentista, e que Warburg (2015) classificou como um “fóssil perfeitamente preservado”, pode ser percebido quando vemos o gesto que identificamos como perfeitamente atual aparecer na imagem antiga. Então, quer dizer que aquele movimento que assistimos como se tivesse sido criado nesta geração faz parte do gestual humano há mais tempo, em todos os tempos? Está gravado em nosso repertório gestual como um engrama?2
São perguntas que vêm à mente de quem se depara com o gesto que uma pessoa realiza para fazer um selfie - a mão fechada para segurar o objeto retangular, que se intui ser um smartphone, o braço esticado à frente e acima do rosto, o peito estufado e o rosto projetado em posição que transparece orgulho e realização - presente em uma escultura em estilo clássico, fortemente influenciada pelo Renascimento, que, por sua vez, retrata uma cena da mitologia grega: “Apolo vence a serpente Píton”. A obra é apresentada no Museu do Louvre, em uma ampla sala com obras do renascentismo italiano. Trata-se de uma escultura em mármore sem autor conhecido, datada da primeira metade do século 18.
![]()
Engrama: conceito criado originalmente pelo cientista alemão Richard Semon (1859-1918), em seu pioneiro estudo sobre memória Die Mneme para denominar o registro que uma experiência deixa marcado de alguma forma no tecido humano. É a unidade básica de memória. Warburg emprestou o conceito de seu contemporâneo e deu a ele uma dimensão cultural. Certas experiências arcaicas são registradas pela cultura na memória coletiva das gerações de povos.
Apolo parece fazer um selfie como que para preservar para sempre o momento da vitória sobre o monstro; parece antecipar em três séculos o gesto contemporâneo, que a nós, contemporâneos, aparenta ter se estabelecido apenas depois e por decorrência do surgimento dos celulares inteligentes com duas câmeras. Essa aparição de um elemento do presente em uma imagem arcaica ou, inversamente, a possível manifestação continuada de um gesto arcaico em nosso dia-a-dia, remete a outro conceito de Warburg: o de Nachleben der Antike, que buscou em um autor anterior, Anton Springer (1825-1891), mas para o qual atribuiu um sentido peculiar. Em sua “Biografia Intelectual” sobre Warburg, Ernst Gombrich (1992) classifica a questão consubstanciada no conceito Nachleben der Antike como a “principal preocupação de Warburg” (Gombrich, 1992, p. 28).
Diversos estudiosos que serviram de fonte para o pensamento de Warburg procuraram apontar, entender e explicar a continuidade em seu presente de elementos culturais identificados como típicos do passado, dos antigos. Gabriela Reinaldo (2015) narra a trajetória do termo e sua compreensão em um estudo no qual descreve que Springer cunhou a expressão “Nachleben”, que, literalmente, quer dizer “pós-vida”, mas que ele próprio compreendia como “influência continuada”; Springer influenciou o estudioso do Renascimento Jacob Burckhardt (1818-1897), que se referia ao mesmo termo como “redespertar da Antiguidade” e, também, Johann Joachim Winckelmann (1717-1768), que o interpretou como “imitação dos antigos”.
Na biografia que escreveu sobre Warburg, Gombrich (1992) afirma que “a melhor maneira de definir seu problema, seria dizer que se preocupava com a contínua vitalidade do legado clássico na civilização ocidental” (Gombrich, 1992, p. 27-28). Ou seja, não se trata de algo que reaparece ou sobrevive depois de ter morrido ou de sofrer uma ruptura: para Warburg, trata-se de perceber elementos da cultura que são constantes, formadores permanentes da cultura, manifestam uma “contínua vitalidade”, como salientado por Gombrich.
À primeira vista, há uma aparente indistinção entre os conceitos de Pathosformel e Nachleben usados por Warburg. Contudo, Felipe Charbel Teixeira (2010) destaca a tensão entre os dois termos no título de um artigo “Aby Warburg e a pós-vida das Pathosformeln antigas” que enquanto afirmação salienta, por si mesmo, a diferença. “Nachleben” é o efeito de sobrevivência de elementos culturais antigos em manifestações do presente (superstições; elementos lúdicos; histórias infantis; expressões linguísticas; tradições antigas, como uso de cores específicas em roupas de festas ou datas especiais; memórias de lendas ou mitos). Dentre esses elementos, há na iconografia umas tantas imagens recorrentes, remetendo, especificamente, a gestos expressivos de emoções, que reproduzem tão fielmente imagens arcaicas, que Warburg classificou o fenômeno de “arqueologicamente fiel”. Ao serem vistas, transmitem ao observador, por empatia, o sentimento expresso pelo personagem retratado na imagem. O Pathosformel tem, portanto, um Nachleben, uma “vitalidade continuada”, embora seja um elemento específico da cultura, imagem que tem a capacidade de transmitir com imediatez o sentimento expresso por um gesto universal, enquanto, contrariamente, outros elementos que podem ser definidos como Nachleben não são necessariamente Pathosformel.
O selfie é o gênero fotográfico mais característico deste início do século 21, uma prática de produção de imagens específica quanto aos recursos técnicos que utiliza, ao conteúdo que trabalha e à estética que adota, podendo, por essa multiplicidade de especificidades, constituir-se realmente como um gênero imagético peculiar.
Saltz (2014) define o selfie como um “novo gênero visual, um tipo de autorretrato formalmente distinto de todos os outros na história. O selfie tem sua própria autonomia estrutural”. E completa: “Este é um grande momento para a arte. O surgimento de novos gêneros é relativamente raro”.

Figura 2: Parmigianino (1503-1540), chamada Autorretrato em um Espelho Convexo
O texto procura estabelecer as origens desse gênero na História da Arte, a começar por uma pintura de Francesco Mazzola, o Parmigianino (1503-1540), chamada “Autorretrato em um Espelho Convexo” (1523-24), a qual Saltz apresenta junto à pergunta: “Seria o primeiro selfie?”.
O impacto do surgimento desse novo gênero, que logo atingiu uma posição dominante, resultou em inúmeras tentativas de estabelecer sua história e sua posição específica no universo da arte, mas não apenas nela, pois sua presença nas interações mediáticas também tem sido avassaladora. Estudos recentes e mesmo brincadeiras populares (“memes”) têm apontado a presença de “proto-selfies”, por assim dizer, em gestos e fotogramas anteriores ao surgimento dos telefones celulares (ou smartphones). A Internet está cheia de referências a possíveis gestos semelhantes em imagens da antiguidade, mas frequentemente são montagens irônicas sobre aparentes coincidências.
Nesse cipoal de reações ao selfie destacam-se as tentativas de interpretação histórica que tentam colocar o selfie em perspectiva na tradição da autoimagem. Além de Saltz (2014), um ensaio de natureza histórica do francês André Gunthert (2015), destaca como ícone do selfie anterior aos telefones celulares, a cena em que as amigas Thelma e Louise fazem uma fotografia com uma câmera Polaroid no início da viagem que é tema do filme de Ridley Scott (1991).

Figura 3: Selfie pré-celular em cena de Thelma & Louise, de Ridley Scott (1991) – Reprodução
Mas, de acordo com Gunthert (2015), muito antes de “Thelma e Louise”, a fotografia já viabilizava uma intensa atividade narcisista, iniciada com a criação dos primeiros mecanismos de disparo retardado do obturador (timer), a partir de 1902, que passou a permitir que o fotógrafo pressionasse o obturador e corresse para aparecer na foto. Contudo, esse gesto representa o tempo do autorretrato, propriamente dito, não da epidemia do século 21, o selfie.
Buscando definir a especificidade do selfie dentro da longa trajetória do autorretrato na história da fotografia, Gunthert (2015) observa que a explosão da fotografia de si mesmo com a disseminação dos telefones digitais gerou um desejo na ciência de estabelecer “uma história do selfie”:
Essas observações nos permitem colocar questões para refinar a definição e a história do ‘selfie’. O sucesso do gênero incentivou pesquisas sobre os antecedentes que rapidamente alimentariam uma “história do selfie”, algumas das quais parecem recapitular a história inteira do retrato. Essa abordagem me parece questionável uma vez que o termo ‘selfie’ surgiu a partir de 2002, referindo-se claramente a uma versão digital da auto-fotografia. Mais até, a introdução do termo refere-se a uma mudança de escala, a uma evolução de suas funções e suas marcas na cultura. É sempre perigoso aplicar um crivo interpretativo recente a uma prática antiga. Falando em senso estrito, qualquer prática anterior a 2000 não deve ser chamada ‘selfie’. (Gunthert, 2015, p. 6)
O autor evidentemente analisa a questão da auto-fotografia digital, com tantas especificidades, que justificam, segundo ele, o uso exclusivo da palavra “selfie” para imagens produzidas após o ano 2000. O selfie seria, então, uma exclusividade do século 21.
No entanto, como entender uma estátua renascentista no Museu do Louvre, que retrata uma cena mítica grega antiga, em que o personagem parece exatamente posar para o selfie que fará com o celular que tem em sua mão elevada acima do nível da cabeça?
Há, no entanto, uma questão eclipsada no ensaio de Gunthert (2015), e, frequentemente, entre estudos sobre arte e imagens, que é o gesto. Não se pode conceber a obra de Jackson Pollock (1912-1956) sem analisar os gestos que ele usava para arremessar a tinta sobre a tela, criando uma nova técnica de pintura, o dripping; ou, voltando ainda mais no tempo, pensar a obra de Paul Cézanne (1839-1906) como indissociável dos movimentos que fazia ao manipular a espátula. Da mesma forma, o “selfie” não existe sem o gesto necessário para que uma pessoa consiga fotografar a si mesma com um aparelho telefônico celular digital com duas câmeras embutidas. O corpo impõe limitações - a extensão do braço só permite uma foto com grande angular que deixa em foco apenas a parte superior do corpo do personagem, o plano americano, como objeto dominante do quadro; a cabeça é muito grande e competirá com o ambiente da foto, ao fundo. O rosto assume um primeiro plano quase exclusivo, retirando da paisagem o papel de protagonista da fotografia, como que dizendo “meu rosto é a medida do mundo”. Considere- se, contudo, que há algo em posição superior ao meu próprio rosto: é o meu rosto na tela elevada do celular!
No mesmo sentido, poder-se-ia apontar como o gesto corporal de produzir um selfie é, ao mesmo tempo, determinado pelas condições do equipamento e determinante para sua concepção e o design desse gadget. Ou seja, a câmera dupla é decorrência das dificuldades iniciais dos usuários para fazer as próprias fotos sem se verem; a segunda câmera, voltada no mesmo sentido da tela, permite que a pessoa preveja a imagem antes de disparar o obturador.
Se pesquisarmos no Google Imagens a expressão “gestos de vitória” ou “gesto vitorioso” vamos constatar várias cenas, históricas ou recentes, de comemorações com o braço estendido sobre a cabeça, algumas com o “V da Vitória” celebrado por Winston Churchill (1874-1965), mas outros apenas com o punho cerrado, a mão estendida como um aceno, movimentos que nos levam a associar o braço estendido como expressão de orgulho, mesmo quando não segura o celular.

Figura 4: Neymar e Marcelo (Seleção Brasileira atual) e Pelé. Todos comemoram gol.

Figuras 5, 6 e 7: Retratos do Almirante Barroso ao comemorar a vitória na batalha de Riachuelo, por Vitor Meirelles (esq.) e José Otávio Corrêa Lima (dir.); À dir., Usain Bolt e seu gesto
de comemoração: se escondermos sua a mão, parece fazer o gesto de um selfie.
Nesse sentido, poderíamos supor que o gesto arcaico de expressão de emoção orgulhosa (“pathos vitorioso”) tenha determinado a posição da câmera frontal dos smartphones e até o formato de sua estrutura, melhor se adequando à empunhadura humana, e assim o “selfie” possa ser a realização fotográfica digital de um movimento antigo, que está presente no gestual de Apolo na escultura no Louvre.
Gombrich, E. H. (1992). Aby Warburg: una biografía intelectual. Madri: Alianza Editorial.
Gunthert, A. (2015). La consécration du selfie. Une histoire culturelle in Etudes photographiques, n° 32, Primavera. Disponível em: http://etudesphotographiques.revues.org/3495 .
Reinaldo, G. (2015). A Paixão Segundo A.W. Anais do XXIV Compós (Encontro Anual da Associação Nacional dos Programas de Pós-Graduação em Comunicação). Disponível em: http://www.compos.org.br/biblioteca/identificado2202_3089.pdf .
Saltz, Jerry. “Art at arm’s length: A history of the selfie”. New York Magazine 47.2 (2014): 71-75.
Disponível em: http://www.vulture.com/2014/01/history-of-the-selfie.html,
Teixeira, F. C. (2010). Aby Warburg e a pós-vida das Pathosformeln antigas. In História da Historiografia, #5, p. 134-147. Ouro Preto.
Warburg, A. (2015). Histórias de Fantasma para Gente Grande. São Paulo: Companhia das Letras. Warburg, A. (2013). A Renovação da Antiguidade Pagã. Rio: Contraponto/Museu de Arte do Rio.
Reseñas
https://doi.org/10.24316/prometeica.v0i17.232
A ARTICULAÇÃO DO PENSAMENTO POR MEIO DO ESPAÇO EXPOSITIVO
“FLUSSER E AS DORES DO ESPAÇO”:
THE ARTICULATION OF THINKING IN THE EXHIBITION SPACE
Cássia Takahashi Hosni
(Universidade de São Paulo)
Recibido: 16/03/2018
Aprobado: 08/06/2018
RESUMO
A exposição Flusser e as dores do espaço, apresentada no SESC Ipiranga, São Paulo, trouxe para o espaço expositivo reflexões pertinentes a trajetória do filósofo e sua relação com a imaterialização da imagem técnica. A curadoria de Norval Baitello Junior e Camila Garcia concentrou-se em trazer o pensamento flusseriano de modo lúdico, explorando as relações com instalações artísticas, registros videográficos, documentações e eventos paralelos.
Palavras chaves: Flusser e as dores do espaço; Vilém Flusser; Exposição.
ABSTRACT
The exhibition “Flusser e as dores do espaço”, presented at SESC Ipiranga, in São Paulo, draws our attention to the relevant trajectory of the philosopher and its relation to the immaterialization of the technical image. The curatorship of Norval Baitello Junior and Camila Garcia highlighted Flusserian thinking in a ludic mode, exploring relationships through artistic activities, videographic records, documentations and events.
Keywords: Flusser e as dores do espaço; Vilém Flusser; Exhibition.
A exposição Flusser e as dores do espaço ocorreu de 10 de outubro de 2017 a 28 de janeiro de 2018, no Serviço Social do Comércio - SESC, unidade Ipiranga, em São Paulo. Dedicada a explorar de modo lúdico o pensamento de Vilém Flusser, filósofo tcheco naturalizado brasileiro, teve a curadoria de Norval Baitello Junior e Camila Garcia. Junto à curadoria, a equipe do SESC concebeu nove espaços expositivos e uma programação paralela que envolvia aulas-caminhadas, aulas-performances, performances, cursos, apresentações artísticas.
A exposição é a segunda dedicada à produção filosófica de Flusser e foi realizada a partir da cooperação entre o Arquivo Flusser de Berlim e do Arquivo Flusser em São Paulo. A primeira exibição, Without Firm Ground - Vilém Flusser & the Arts: an exhibition, aconteceu no ZKM Center for Art and Media, em Karlsruhe, e posteriormente na Academia de Artes de Berlim, Alemanha, em 2015.
Para a exposição paulistana, o fio condutor escolhido foi a alegoria flusseriana da “escada da abstração” ou “escalada da abstração”, em que há gradativa perda de referência espacial em relação ao homem e o mundo. Assim, de acordo com a divulgação da exposição, “para Flusser, o descer da escada reflete a operação humana na cultura, que se distancia do concreto da sua existência no mundo ao encontrar meios de apreendê-lo e representá-lo de forma cada vez mais abstrata.” Diante da perda da materialidade, em favor da imaterialidade, como escrito no texto de parede, os curadores utilizam a frase “Espaço – aqui estão as minhas dores!” para ecoar um resumo do pensamento do filósofo.
As dores do espaço de Flusser podem ser compreendidas a partir das três grandes catástrofes: a primeira catástrofe ou hominização; a segunda catástrofe ou civilização; e a terceira catástrofe, a qual estamos vivendo e que ainda não tem nome. Instigante nos modos de apresentação dos conceitos, a exposição propunha pensar a filosofia de Flusser em movimento com o espectador, junto aos diversos módulos que foram criados no SESC.
Diferentemente de um museu ou um centro cultural, as unidades do SESC são conhecidas por serem lugares em que as atividades culturais estão integradas às práticas esportivas e de lazer para o público de diferentes faixas etárias. A circulação de pessoas é intensa e não é raro ver algumas crianças correndo e brincando entre os diferentes ambientes expositivos.
Ter um primeiro contato com o pensamento flusseriano na exposição ou percorrê-la como um connaisseur dependia do intuito do espectador, na qual um dos convites era vaguear e “voltar para contemplar elementos já vistos” (Flusser, 2011, p. 22), como bem disse o filósofo sobre o olhar circular na imagem. A respeito das dores do espaço, Baitello Jr. (2005) diz que é como se fosse um “aleph borgeano”, que se desdobra em infinitas possibilidades. Propondo um possível modo de percorrer a exposição, de modo a imbricar as inúmeras leituras e percepções do espaço expositivo:
Os infinitos são os espaços do nosso entorno e os transfinitos são os (nossos) infinitos interiores. Ambos são insondáveis e enigmáticos: só nos encontramos em seus meandros quando nos perdemos em suas entranhas. Este é o único programa possível para compreender a estratégia da imagem em Flusser: perder- se nos caminhos transfinitos que ele percorre. (Baitello Jr., 2005, p. 3)

Figura 1. Entrada da Exposição. Crédito: Cássia Hosni
Localizada na entrada da unidade, o primeiro módulo, “Sem chão”, era constituído por pequenas portinholas e gavetas com números sustentadas no interior de uma parede em arco. A cenografia era uma introdução a biografia do filósofo e cada quadrado, retângulo, chamava o espectador para a abertura das portas de diferentes tamanhos. Cada uma das 60 portinholas abrigava fotografias, textos de jornais de sua autoria, cartas, objetos como computadores, disquetes, máquina de escrever e convites sensoriais, como uma gaveta que continha pedaços de lixa com os dizeres “sinta o exílio”. Ao lado da parede, uma ficha fornecia informações sobre o significado ou a história por trás de cada objeto. No texto informativo do módulo, ressaltou-se o aspecto da vida de Flusser, partindo de Praga e permanecendo em São Paulo por 30 anos. As mudanças constantes, a falta de chão, sua consequente recusa e a desconfiança diante da pátria e das bandeiras.
Na área de convivência, foi instalado em círculo “O vento e a fuga” com vídeos, depoimentos e entrevista de Flusser com Miklós Peternák, como Imagem da televisão e espaço político à luz da revolução romena (1990); Sobre a escrita, a complexidade e a revolução técnica (1988); Sobre imagens técnicas, possibilidade, a consciência e o indivíduo (1991); Sobre religião, memória e imagem sintética (1990), em parceria com Lásló Beke). Além dos monitores/tablets, nos quais o público poderia assistir a fala de Flusser, havia cabines com obras que possuíam interferências na imagem, utilizando sobreposições de vídeos, fotos, sons e a escrita. O aspecto cênico do módulo envolvia uma leve cortina que sobrevoava pelo espaço. Como no espaço anterior, o exílio de Flusser é novamente mencionado, sendo também evidenciado o seu interesse pelo vento, deuses e a mitologia, a areia do deserto e a observação partindo do acúmulo de grãos, tão importantes para a criação de sua teoria sobre os pixels da imagem eletrônica.
Na parte externa da unidade, da fachada para o jardim, hospedaram os desenhos de Louis Bec para o livro Vampyroteuthis Infernalis. Um painel identificava os desenhos e apresentava um compilado das características que foram abordadas por Flusser na publicação.
Para o espectador que caminhava na parte externa, o muro do deck encontrava-se coberto de QR Codes, aplicados de modo sinuoso na parede. A instalação e o módulo “O concreto e a areia ou o mundo das não-coisas”, de Renato Sass, era composta por cerca de 70 links de internet codificados em barras QR. Ao dirigir o celular com um leitor de QR Code ativado, um link redirecionava para sites externos, como para a pintura Saturno devorando seu filho (1819–1823), de Francisco Goya. No texto curatorial, a ênfase de que "uma das consequências da linha e do pensamento que se esconde por detrás da linha é abstração. A abstração é capaz de reduzir a espacialidade de um objeto ao transformar a sua tridimensionalidade em unidimensionalidade.”

Figura 2. A parede de QR Codes. Crédito: Cássia Hosni.
Na parte externa foi instalada o módulo-contêiner, a instalação sonoro-visual “Casa furada”, realizada por Rodrigo Gontijo e Simon Fernandes. As paredes do contêiner foram compostas por muitos espelhos de interruptores de tomada, nos quais sons eram emitidos. Em uma das paredes, uma câmera mirava o espectador e projetava no televisor a sua frente. A instalação faz referência a terceira grande catástrofe, na qual após a hominização, a civilização e a domesticação, o ser humano retorna ao nomadismo porque "nossas habitações tornaram-se inóspitas e inabitáveis. O lugar onde acreditávamos estar protegidos, agora perfurado, é invadido pelo vento hostil das informações".
O módulo “Celeiro das ideias”, localizado no galpão externo, faz referência aos Seminários Internacionais do Celeiro, realizados na pequena cidade alemã de Weiler, e dos quais Flusser participou. Na exposição, o lugar foi ambientado com madeira e feno, concentrando fotografias, vídeos, matérias de jornal escritas pelo filósofo e também outros segmentos como vídeos de artistas e correspondências entre Flusser e outros pensadores e artistas, a sua relação com a Bienal de São Paulo, o projeto A Casa Cor, entre outros.
Na parede entre as galerias, foi montado o módulo de “O gesto e a escrita”. Formado por letras, símbolos e linhas, o espectador era convidado para formar agrupamentos de letras ou palavras na parede. Enfatizando a aproximação de que o gesto do espectador criaria linhas, em consonância com o conceito do pensamento linear e histórico.

Figura 3. Parede de letras e palavras. Crédito: Cássia Hosni
A “Seção dos artistas” fazia referência à escrita de Flusser para os suplementos culturais dos jornais O Estado de S. Paulo e a Folha de São Paulo. A galeria mostrava sua relação com os artistas e continha 22 obras e 19 textos expostos na mesa de luz, dentre eles Gabriel Borba, Mira Schendel, Niobe Xandó e outros artistas notáveis.
De apelo sensorial, uma das últimas salas era o ambiente chamado “Caixa preta”, em referência ao livro Filosofia da caixa preta - Ensaios para uma futura filosofia da fotografia. A sala era composta por um ambiente totalmente escuro, onde o espectador caminhava com as mãos na parede, tateando diversos aparelhos e objetos, como antigas câmeras fotográficas, aparelhos como fax e rolos de filme fotográfico.
No Brasil, o livro Filosofia da caixa preta foi uma das obras mais conhecidas do filósofo por estudantes e críticos que se interessavam pela questão arte e comunicação na década de 1980. Originalmente publicada em 1983 na Alemanha, recebeu o título de Por uma filosofia da Fotografia (Fur eine Philosophie der Fotografie), na qual obteve tradução similar para outras línguas. Já a publicação brasileira teve o título alterado para a Filosofia da caixa preta e foi lançada em São Paulo em 1984, já com alterações significativas do original e inserindo os debates e as argumentações que ocorreram no período que a obra foi inicialmente lançada.
Arlindo Machado (1999) menciona que a versão brasileira teve o prefácio refeito, a inserção de novos termos no glossário e capítulos inteiros reescritos, sendo que “para ser realmente fiel ao pensamento de Flusser, a versão em língua portuguesa (e não a alemã) é que deveria ser tomada como o texto definitivo da Philosofie e, por consequência, ela é que deveria estar sendo utilizada como base para a tradução a outras línguas” (1999, p. 133).
Desse modo, é interessante observar que sua obra mais conhecida tenha sido reformulada em alguns aspectos para a edição brasileira. Flusser, em muitas de suas cartas, sentia uma carência na interlocução dos debates filosóficos no Brasil, algo que foi apontado no prefácio de Filosofia, “Submeto-o, pois, à apreciação do público brasileiro. Faça-o com esperança e com receio. Esperança, porque, ao contrário dos demais públicos que me lêem, sinto saber para quem estou falando; receio, por desconfiar da possibilidade de não encontrar reação crítica” (Flusser, 2011, p.14). Talvez por essa e inúmeras outras razões seja interessante reavivar o pensamento flusseriano, trazendo questões até então ainda não debatidas.
Propor o conceito da "escada da abstração" para a exposição, na qual cada degrau dessa escada significa uma perda espacial, certamente é um desafio ao pensar em imagens e suas formas de representação. A filosofia de Flusser trata da perda da tridimensionalidade para a bidimensionalidade das imagens e a consequente passagem para a escrita linear e o funcionamento dos aparelhos que produzem imagens técnicas. Além disso, outros conceitos como o gesto e a escrita, dentre outros temas foram expostos de modo que o público geral tomasse conhecimento da importância e originalidade da obra de Flusser, elencando os modos de produção da imagem contemporânea.
Embora a melhor forma de compreensão do pensamento de Flusser ainda esteja em suas publicações textuais, a exposição foi um esforço em trazer importantes discussões filosóficas para o espaço. As obras artísticas, como a parede de QR code, e os eventos paralelos, como as performances que trouxeram realidade virtual, fizeram uma atualização necessária, principalmente no que se refere a quanto o filósofo antecipou as questões diante da imaterialidade das imagens e das suas relações na sociedade.
Baitello Junior, N. (2005). Vilém Flusser e a Terceira Catástrofe do Homem ou as Dores do Espaço, a Fotografia e o Vento. Flusser Studies 03. Recuperado de http://www.flusserstudies.net/sites/www.flusserstudies.net/files/media/attachments/terceira- catastrofe-homem.pdf
Bernardo, G.; Mendes, R. (Ed.). (1999). Vilém Flusser no Brasil. Rio de Janeiro: Relume Dumará. Flusser, V. (2011). Filosofia da caixa preta: ensaios para uma futura filosofia da fotografia. São Paulo:
Annablume.
Machado, A. (1999). Atualidade do pensamento de Flusser. En Bernardo, G.; Mendes, R. (Ed.). (1999).
Vilém Flusser no Brasil. Rio de Janeiro: Relume Dumará.
Ensayo Fotográfico
https://doi.org/10.24316/prometeica.v0i17.233
THE SKY AND THE NOTHINGNESS:
ON THE REALITY THAT SOLELY EXISTS WHEN WE LOOK AT IT
Bruna Queiroga1
(Escola de Comunicações e Artes - Universidade de São Paulo)
Recibido: 05/05/2018
Aprobado: 10/06/2018
MEMORIAL DESCRITIVO
Este ensaio fotográfico foi motivado por alguns assuntos surgidos a partir de pesquisas no campo teórico da filosofia e da comunicação e, também, da prática de experiências óticas. Imagem, imaginação, tempo, espaço e vazio são alguns temas muito estudados nessas áreas do conhecimento. A partir desse aporte teórico, investigamos uma técnica fotográfica contemporânea que pudesse contribuir com a discussão proposta pela temática do número especial de Prometeica – Imagem e Conhecimento.
Foi observando o céu que o ser humano, desde as civilizações mais antigas, iniciou a busca por conhecimento de sua própria história. Olhando para o vazio do Universo e para a movimentação das estrelas, o homem deu origem a diversas áreas do conhecimento. O cálculo2 surge dessa observação. Etimologicamente, tem origem no latim, calculus, pequenas pedras que eram empregadas para fazerem contas. Esse conhecimento teve como consequência imediata imagens e códigos que originaram calendários, mapas e controle da agricultura, além de todo conhecimento voltado para a própria sobrevivência humana.
Vilém Flusser, em “O mundo codificado”3, aborda “um mundo que se tornou codificado pela imaginação tecnológica” (Flusser, 2007, p.137). A nova imaginação, segundo o autor, “promete-nos vivências, representações, sentimentos, conceitos, valores e decisões”. (Idem, p.177). Outro trecho importante para a produção das imagens deste ensaio é o texto sobre forma e material, em que o autor afirma que vemos a imaterialidade pela forma e a forma é o que faz o imaterial aparecer. Informar é, segundo Flusser (2007), impor formas à matéria. Antes a questão era distinguir as informações verdadeiras, cujas formas eram descobertas, das falsas, aquelas que eram ficções, distinção que perde o sentido quando consideramos as formas como modelos. (Idem, p.31).
![]()
Doutoranda no Programa de Pós-Graduação em Meios e Processos Audiovisuais, da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo.
Procedimentos dedutivos capazes de efetuarem inferências sem recorrerem a dados de fato. In: ABBAGNANO, Nicolla. Dicionário de
Filosofia. São Paulo: Martins Fontes, 2007.
FLUSSER, Vilém. O mundo codificado: por uma filosofia do design e da comunicação. São Paulo: Cosac Naify, 2007.
Em “Filosofia da Caixa Preta”4, Flusser (2002) levanta questionamentos a respeito da automação do gesto fotográfico, mas afirma que a fotografia experimental pode ser uma saída para decodificar uma imagem dentro dessa nova imaginação.
Essas duas obras serviram de base para nosso ensaio fotográfico sobre o vazio. Um equipamento substituto a câmera para fotografar o céu, um espaço que foi o início da criação humana segundo diversas mitologias, essas um conhecimento pré-científico. E sob a observação desse mesmo céu a ciência se desenvolveu como a conhecemos hoje. “É bem verdade que Demócrito já o suspeitara, no entanto somente Plank pôde prová-lo: tudo é quantizável. Eis por que os números convêm ao mundo, mas as letras não. O mundo é calculável, mas indescritível.” (Flusser, 2007, p.81).
![]()
FLUSSER, Vilém. Filosofia da caixa preta. Rio de Janeiro: Relume Dumará, 2002.







Entrevistas
https://doi.org/10.24316/prometeica.v0i17.234
ENTREVISTA COM DON IHDE
por Galit Wellner (Universidade Tel-Aviv | Israel)
Recibido: 10/05/2018
Aprobado: 11/07/2018
![]()

Don Ihde1 is Distinguished Professor of Philosophy at the State University of New York at Stony Brook and the Director of the Technoscience Research Group in the Philosophy Department. The study of technoscience examines cutting-edge work in the fields of the philosophies of science and technology, and science studies; it also emphasizes the roles of our material cultures and expertise. Ihde also lectures and gives seminars internationally. while developing a new perspective on technology that tries to get closer into contact with concrete technologies. Because Classical philosophy of technology tended to reify ‘Technology’, treating it as a monolithic force, Ihde, by contrast, shuns general pronouncements about ‘Technology,’ fearing to lose contact with the role concrete technologies play in our culture and in people’s everyday lives. He sets himself the task of exploring this very role of technologies.
![]()
Galit Wellner, PhD., is a senior lecturer at the NB School of Design Haifa, Israel. She is also an adjunct professor at Tel Aviv University. Galit studies digital technologies and their inter-relations with humans. She is an active member of the Postphenomenology Community that studies the philosophy of technology. She published several peer-reviewed articles and book chapters. Her book 'A Postphenomenological Inquiry of Cellphones: Genealogies, Meanings and Becoming' was published in 2015 in Lexington Books. She translated to Hebrew Don Ihde’s book Postphenomenology
and Technoscience (Resling, 2016).
***
In August 2017, in parallel to the 4S conference in Boston, I interviewed Don Ihde for the Special Issue of Prometeica on "Image and Knowledge." I have had many conversations with Don in the last few years, starting with my dissertation for which Don was my advisor, and later on, as we met in conferences and workshops. Don is a talented storyteller who knows how to weave many stories into one coherent theoretical framework. His talks are always fun and at the same time informative and thought-provoking. This interview is no exception.
![]()
1 (© Bozatski, Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Don_Ihde.jpg)
GW: In today's culture a central role is attributed to vision and image. How far back in history can we trace this primacy? Can we identify some key milestones in this historical process?
DI: As a post-phenomenologist, I attribute primacy to the whole body. In contrast to the 18th-century concept of five senses, I see many more. We are all synesthetic. Some of the recent examples are computer games like Nintendo, in surgery laparoscopy capabilities, and in astronomy the Mars Explorer
- all requiring eye-hand coordination for their successful operation.
Recently science has become acoustic. The Cassini space probe was sent to be crashed on Saturn and on its way it transmitted the ping sounds of dust hitting the spacecraft. As Cassini came nearer to the planet, one could hear the sand hitting it not only in the rings but also all the way between the rings and the planet. Such a finding was not feasible through sight.
GW: Let’s discuss the role of images in the production of scientific knowledge. Did Galileo need an image of the moon to generate scientific knowledge? Of the sunspots? Can we extend these insights beyond astronomy to other scientific fields and ask if Boyle's vacuum needed an image?
DI: I claim that science has always been techno-science, a human experience that is related to scientific instruments. However, my notion of science is not necessarily Western. Every major human culture knew, for example, about the lunar cycle, and developed technologies for these scientific observations. First, recording technologies. Signs were marked on reindeer antlers and stones aged 25,000 years back depicting the moon phasing. Astronomy, therefore, can be dated back to the Ice Age. Another example is standard technologies for viewing solstices requiring the measurement of the viewing angle each time, again dating back to the Ice Age.
Image technologies ARE science itself. My Ice Age examples demonstrate how the current master narrative of Western dominance is false. Indeed, those who have a robust infrastructure can scientifically view and explore the phenomena. However, in the Ice Age, the technologies were available to everyone. From 40,000 BP to 10,000 BP everybody could participate in astronomy.
GW: Can we restore such a democratic approach to science?
DI: In the Ice Age there were hunters and gatherers and this society dramatically changed with the domestication of animals and plantation 10,000 years ago. Such a situation led to the emergence of an agricultural society and later developed into cities. The challenge is to restore this accessibility in the cities. However, it is complicated. The agrarian society was patriarchal and produced surplus. The Industrial Revolution changed society due to the use of fossil fuel and the production of even more surplus. Everything became gigantic. Today, however, we see a shift to microscopic and nano processes. Even big data (despite its name) is based on small particles of data. This fact is a great opportunity for us to restore astronomy and other sciences as accessible to the masses.
GW: In postphenomenological terms, can an image be understood as occupying the in-between of embodiment and hermeneutics? Can we think of the image as a mediator between the "I" and the "world"? In modernity, images are understood as passive. Was it always so? Should we re-conceptualize their activeness? How different is the “post-modern” activeness vs the primitive one?
DI: The Navaho Native American in the Southwest refused to be pictured due to their animistic approach. Other Native American cultures who were less religious like the Hopi did not want to be photographed just because others were making money from their pictures.
Back to postphenomenology, embodiment and hermeneutic relations are part of the same continuum. Embodiment relations are those in which technologies extend the body scheme and senses, so the "I" and the "technology" experience the world as one whole. Hermeneutic relations are unique because they
take the capacity to read the world and interpret it so that the world and the technology are perceived as one whole. Peter-Paul Verbeek now reworks background relations towards environmental studies.
When driving a car, there are embodiment relations as well as hermeneutic relations for reading the speed gauge, for instance. Besides, sometimes people refer to their vehicles as a quasi-other thereby bringing about alterity relations. While the relationships are different from each other, there is still overlap in the experience.
Images are heavily hermeneutic. I learn a lot from a project I run now with an Anthropologist from the UK. We have opposing attitudes: he is cognitivist, and I am anti-cognitivism. I am what can be termed a "body guy." For me, science is culturally visual, and this influences our everyday beliefs. We are saturated with images. Think of emojis as a good example of condensing a lot into an image. Indeed a picture is worth a thousand words. Cartoons on TV and other media are yet another example. Kids find it easy to understand in almost every culture. Same goes for music, of course.
There are interesting relations between image and music. In Science magazine, I recently read that the scientists in the supercollider in CERN plan to turn data into music. They can take a run of colliding particles as data and turn it into music. In fact, all data can be either visual or acoustic.
GW: This reminds me of a set of examples you use that includes Otzi the Iceman and your brain's CT scans. Images can be found in the scientific exploration but also on Otzi's body as tattoos.
DI: Yes, Otzi was seriously ill three times during his last year of life. This fact was discovered from his nails through spectroscopy. His tattoos were on his joints, marking his pain points of arthritis. It is assumed that these are acupuncture signs. All these are in my terms “material hermeneutics” – letting things tell us without text.
GW: Do you see a link or dependencies between image and imagination?
DI: Imagination always exceeds material images. I did a lot of phenomenological experiments on this. For example, if we compare the field shape of visual perception versus auditory, we find that the visual field is "forward oriented." If I move my hand to the side, I cannot see it. Auditory is surrounding. This classification changes when we consider imagination. Try to imagine a green fly buzzing around this bottle of wine. Now imagine it flying behind you. The imaginary field is more like the auditory than the visual. However, all this is old-fashioned phenomenology. Postphenomenology would absorb classical phenomenology and add multiple perspectives. This what I used to do in my classes. I asked the students to imagine something they would like to do but never did. Almost all of them did some variations on flying, like parachuting. Usually, the class was divided into those who saw the earth coming closer to them, felt the winds, versus those who maintained a disembodied position and saw themselves as an object. Interestingly, the ratio between the two groups has changed over time. In the earlier years the majority held an embodied position, and later more students took the disembodied position. I explain this shift by the rising screen time, first TV, then computers and today cellphones.
GW: My last question invokes your postphenomenological notion of multistability. Do images block multistabilities? Do they prevent imagination?
DI: The human imagination has no constraints. We can imagine a lot of things that did not happen and even things that could not have happened. Art is a field that does this. Early modern art like Dada or the works of Marcel Duchamp was about the imagination of things that do not exist. Nobody could see it perceptually, but you can depict it in an artistic image. I like to paint because I find myself when I paint. Sometimes my painting runs counter to my intentions. When I painted the philosopher Ed Casey as part of my philosophers series, he said: "you got my soul." Also, Evan Selinger commented on that painting that the painting overcame Ed’s intense gaze and captured him correctly.
(1990) Technology and the Lifeworld: From Garden to Earth. Indiana University Press, Bloomington. (1998). Expanding Hermeneutics: Visualism in Science. Northwestern University Press, Evanston. (2002). Bodies in Technology. University of Minnesota Press, Minneapolis.
(2007) Listening and voice: Phenomenologies of sound. Suny Press, Albany.
(2010) Heidegger's technologies: Postphenomenological perspectives. Fordham University Press, New York.
(2015) Acoustic Technics. Rowman & Littlefield, New York.
(2016) Husserl's Missing Technologies. Fordham University Press, New York.
https://doi.org/10.24316/prometeica.v0i17.235
ENTREVISTA COM RICARDO NASCIMENTO FABBRINI
por Fernanda Albuquerque de Almeida
(PGEHA-USP)
Recibido: 10/05/2018
Aprobado: 11/07/2018
![]()

![]()
Fernanda Albuquerque de Almeida é curadora e pesquisadora na área de arte contemporânea. Doutoranda em Estética e História da Arte pela Universidade de São Paulo (PGEHA-USP), com
pesquisa sobre imagens de tempo nas poéticas tecnológicas.
FAA: É possível diferenciar imagens científicas, imagens artísticas e imagens midiáticas (ou de entretenimento)?
RNF: É possível, sim, pensar a existência de modalidades de imagens. A imagem científica não é uma representação objetiva da realidade dada, como se poderia pensar inicialmente, mas um construto mediado pelas codificações dos aparelhos que visa ao conhecimento da relação entre os fenômenos da natureza. Não se pode tomar a imagem científica como um espelho veraz do mundo – o que não significa dizer que ela não opere, muitas vezes, como sua representação – porque há nela uma dimensão irredutível de abstração ou formalização. É importante destacar, assim, que as imagens científicas possuem pressupostos instrumentais e conceituais, porque estão impregnadas não apenas pela técnica, mas por teorias, que condicionam sua interpretação. A imagem científica é funcional. As imagens artísticas são aquelas que possuem algo de inacessível, misterioso, ou irrevelado, que, no entanto, nelas se manifesta. São imagens de uma beleza difícil ou inquietante, que permitem “pensar o impensado” como dizia Michel Foucault. São imagens disruptivas, porque rompem com o horizonte do provável, interrompendo toda organização performativa, toda convenção dominável por um convencionalismo. Numa palavra, são imagens que detêm algum segredo, mistério ou recuo. São imagens enigmas, em suma. As imagens de entretenimento são os “clichês”, no termo de Gilles Deleuze; ou os “simulacros”, na expressão de Jean Baudrillard. São imagens planas (ainda que HD ou 3D); epidérmicas; peliculiares; sem recuo; sem relevo; sem perspectiva, sem enigma, sem mistério; sem face oculta; sem outro lado. São imagens que não indiciam uma alteridade, mas, ao contrário, reenviam à realidade existente. Evidentemente, no entanto, as fronteiras entre essas três modalidades de imagens não são, na maioria das vezes, bem marcadas, mas porosas ou esbatidas. Um desenho de anatomia de Leonardo da Vinci, por exemplo, pode ser considerado como uma imagem, simultaneamente científica e artística, assim como dada imagem astronômica da NASA que circula atualmente pela rede digital pode ser tida, ao mesmo tempo, como científica e de entretenimento. Por isso perguntava Deleuze, ao final de Cinema 1: Imagem-Movimento:
“Do conjunto dos clichês deve sair uma imagem. Com que política e com que consequências?; afinal: o que é uma imagem que não seria um clichê? Onde acaba o clichê (ou imagem de entretenimento) e começa a imagem (a imagem enigma)?”
FAA: Qual o papel do contexto em que a imagem está inserida para a sua interpretação?
RNF: Pode-se pensar o contexto da imagem em dois planos. O primeiro plano é o da materialidade da mídia, enquanto suporte de uma imagem. Neste caso, uma pintura de Manet, por exemplo, visualizada na rede, tem como suporte a imaterialidade própria às imagens digitais, enquanto a mesma pintura observada no museu tem como suporte o óleo sobre tela estendida em um chassi; com todas as consequências que daí decorre para a percepção sensível dessa imagem. O segundo plano é o contexto da circulação das imagens e das relações que elas estabelecem entre si. A pintura de Manet que circula na rede digital em meio à ciranda sem fim de imagens clichês, de entretenimento ou publicitárias, acaba em grande medida sendo por elas neutralizada. Desse segundo aspecto decorre a seguinte questão: em que medida no contexto da cadeia estonteante das imagens da rede digital, na qual uma dada imagem meramente conduz até a próxima, é possível destacar uma imagem (enigma) que ainda suscite um olhar apreensivo, com um pouco de ansiedade senão temor? É interessante lembrar, a propósito, voltando a Deleuze, que o problema do espectador face à saturação de imagens no presente deve ser: “o que há para ver na imagem que temos diante de nós?”; e não mais a pergunta habitual, movida pelo hedonismo ansioso: “o que veremos na próxima imagem?”. Em resumo: nesse contexto de saturação de imagens que nos deixou cegos de tanto ver é necessária uma reeducação dos sentidos que devolva à percepção sua capacidade de apreender as nuances de uma imagem. É preciso recuperar, pode-se dizer sem vacilar, a potência do olhar cioso e moroso.
FAA: Que relações possíveis entre texto e imagem você destacaria?
RNF: São inúmeros os modos de relação entre texto e imagem. Destacarei, aqui, tão somente a relação entre pintura e escritura em uma linhagem de artistas do século passado composta por Mira Schendel, Amílcar de Castro, Cy Twombly, Jean-Michel Basquiat, Keith Haring, Hans Hartung, Georges Mathieu, Jean Dubuffet, ou Paul Klee. Suas escrituras não são códigos a serem decifrados, enquanto escritas ou representações figurativas, mas signos in status nascendi, línguas em estado anterior ao nascimento da proposição ou da figuração. São arquiescrituras, como o signo nascituro de Mira Schendel, a língua larvar em Cy Twombly, ou o balbucio de Basquiat. Algo como sêmens de signos ariscos. São signos não verbais, os quais não pertencem a nenhuma língua natural, mas forçam-na a voltar, como se ficasse louca, a um estado anterior a seu nascimento, ao in nato da frase proposicional e representativa: uma “glossolalia” – no termo utilizado por Jacques Derrida para nomear a protofala, transida, de Antonin Artaud: Letras, portanto, avant la lettre, antes da letra das palavras, de uma língua intraduzível. Não se trata na obra desses artistas de puro arremedo da escrita alfabética, cursiva, mas de traços condutores ou indutores de energia plástica que reagem à distância aberta no ocidente entre imagem e texto. Da escrita, esses artistas detiveram, em suma, menos os caracteres (a figura: letras, fonemas ou ideogramas), e mais a marca do traço como espaço total de pulsão: como “figurabilidade”, na expressão de Jean-François Lyotard. Essas escrituras que rasuram tanto o sistema alfabético-silábico quanto o sistema ideográfico, como o oriental, nas categorias de Ferdinand de Saussure, estão presentes também na poética tecnológica de poetas multimídias, como o português Eugénio de Castro e o brasileiro Arnaldo Antunes. Nestes casos, temos escrituras digitais que remetem aos caligrammes de Guillaume Apollinaire, às paroles in libertà de Tomaso Marinetti, a Un Coup de Dés de Stéphane Mallarmé, às tortografias de Merce Cummings, aos ideogramas dos Cantos de Ezra Pound, ou ainda, à verbivocovisualidade da poesia concreta de Augusto de Campos, Haroldo de Campos e Décio Pignatari. Apresento-lhe, no entanto, apenas um modo de pensar a relação entre texto e imagem, tema que remonta, vale grafar, à poética clássica.
FAA: Quais as implicações para a percepção na substituição da imagem analógica pela imagem digital?
RNF: A imagem digital (ou imagem numérica, como preferem apenas os franceses) diferentemente da imagem analógica não representa ou indicia o real (o “Isso foi!” como dizia Roland Barthes, em A câmara clara), mas o simula no sentido que ela não manteria mais nenhuma relação com o referente (ou o dito real). Por isso, afirmava Baudrillard, nos anos 1980, que o fascínio pelas imagens digitais (ou simulacros) seria fruto de uma “paixão niilista pelos modos de desaparição do real”. Estaríamos todos melancólicos e fascinados. A imagem digital, ao emancipar-se do real, diz de modo semelhante Edmond Couchot, teria introduzido a lógica da figuração na era da simulação, o que significa dizer que essas imagens teriam substituído o “real bruto”, “originário”, por um real resultante tão somente de operações de abstração segundos princípios da lógica formal e da matemática. Não se trataria, assim, de figurar o que é visível, ou seja, de representar o real ou mesmo de questionar a possibilidade de sua representação (no sentido da modernidade artística e literária do século XX), mas de simular o que é “modelizável”, segundo formalizações especializadas e complexas. Não se pode esquecer, no entanto, que sempre haverá um nível de abstração ou de formalização, haja vista que nas imagens analógicas também temos o “aparelho” como “processo codificador da caixa preta”, na caracterização de Vilém Flusser. De todo modo, é inegável que a imagem tecnológica ou numérica se tornou dominante no mundo da tecnociência a ponto de constituir-se como novo regime estético. Para avaliar, no entanto, as implicações da substituição das imagens analógicas pelas imagens digitais, como você propôs na pergunta, seria preciso proceder, a uma análise fenomenológica da presença do digital. Será que “pode ocorrer algo” – perguntava Jean-François Lyotard, na apresentação da exposição Les Immatériaux, da qual ele foi curador, realizada no Centro Georges Pompidou, em Paris, em 1985 – como um “sentimento de gozo ou de pertencimento” decorrente da comunicabilidade imediata entre a obra e o observador por meio de uma imagem de computador (ou seja, de uma imagem digital na tela total)?; ou será que essa imagem anula a facticidade dos acontecimentos, impossibilitando sua “recepção carnal”? Porque, afinal, é inegável, como se sabe, o grande número de imagens ocas, imagens sem presença, que nada representam além do vazio, como as dos filmes comerciais norte-americanos, que tomam a virtuosidade técnica como efeitismo obrigatório. Percebendo essas imagens digitais, sem lastro no mundo dito real, restaria ao observador apenas constatar: “Não há apresentação, coisa alguma está aqui-agora. Só há inocorrências, e não acontece mais nada”. De todo modo, como o desenvolvimento das tecnologias eletrônicas de informação não implicaram o fim das artes, mas uma mudança no regime estético das imagens, a possibilidade de uma imagem enigma digital dependerá de sua capacidade de resistir às imagens clichês, ou seja, ao eletro-entretenimento da sociedade do espetáculo.
FAA: A arte pode concorrer com o excesso de estímulos sensoriais presentes nos meios de comunicação midiáticos?
RNF: É uma excelente questão, porque estamos vivendo um “drama da percepção”, na expressão do dramaturgo Heiner Goebbels; ou uma “guerra das imagens”, como quer Bruno Latour. Estamos presenciando, em outras palavras, a agonia da imagem enigma, ou mais precisamente uma agonística, entendida, aqui, como o momento decisivo no qual se trava um conflito sobre o sentido e o destino das imagens. Essa questão foi formulada sinteticamente por Jean-Luc Godard no vídeo Je Vous Salue Sarajevo, de 2011, nos seguintes termos: Como evitar a dissolução da arte na comunicação, hoje pacificamente aceita?; porque se esta distinção não for preservada, a arte acabará subsumida à cultura mass-midiática e digital. De modo lapidar, sentencia Godard: “Pois há uma regra e uma exceção. Cultura é a regra. E arte, a exceção. Todos falam a regra: cigarro, camisetas, computador, TV, turismo, guerra. Ninguém fala a exceção. A regra quer a morte da exceção”. A arte seria assim, a julgar por esse diagnóstico de Godard, uma forma de resistência ao excesso de estímulos sensoriais da cultura de massa e digital, na dita sociedade da comunicação. É preciso, em outros termos, recusar o baralhamento, senão a indistinção, entre arte e comunicação, hoje pacificamente aceita. Por conseguinte, não se deve tomar a diferenciação entre arte e comunicação a partir tão somente de uma diferença quantitativa no que se refere ao nível informacional das mensagens – como defendia a teoria da cibernética de Norbert Wiener ou a teoria da informação de Abraham Moles ou Max Bense, nos anos 1950 a 1970 – mas acentuar que
a diferença entre elas é essencialmente qualitativa, porque concernente à estrutura da forma artística (ou imagem enigma). Nesse sentido, a arte deve operar – permita-me prescrever – no interior da sociedade da comunicação como uma forma de “comunicação sem comunicação”, recuperando a expressão utilizada por Lyotard em O inumano. Essa noção aparentemente contraditória designa, em outras palavras, uma espécie de comunicabilidade originária, ou páthos, porque anterior à pragmática comunicacional; de tal modo que afirmar que a arte opera uma épokhé (ou suspensão) significa dizer que ela interrompe, ou torna inoperante, essa pragmática. É preciso apreender, portanto, a força não comunicativa de uma imagem.
FAA: Há espaço para linguagens artísticas tradicionais, como a pintura e a escultura, nos tempos atuais? Que papel elas ainda podem exercer?
RNF: Sem dúvida, existe espaço, porque não há mais quem sustente a hierarquia entre as linguagens artísticas. Finda a etapa vanguardista, desde os anos 1970, artistas e certa crítica de arte, inclusive brasileira, constataram que a arte não evolui ou retrocede, muda; que não há evolução estética, mas desdobramento de linguagens. As poéticas tecnológicas não derrogaram, por exemplo, a pintura ou a escultura. A gravura e a instalação possuem “direitos estéticos iguais”, como afirma Boris Groys. Essa igualdade estética entre os diferentes meios (pintura, escultura, fotografia, objeto, vídeo, happening, etc.), foi o resultado das efetuações da arte moderna que no curso do último século alargaram o campo das possibilidades artísticas. Não é raro que um mesmo artista contemporâneo mobilize ora o secular ready-made, ora a pintura, ora o vídeo, em função de sua intenção momentânea. Apresento como exemplos o artista argentino Guillermo Kuitca e o sul-africano William Kentridge que vêm recorrendo aos diferentes meios, técnicas e procedimentos – do desenho à instalação – na construção de imaginários singulares. É verdade que em exposições como a Documenta de Kassel ou a Bienal de São Paulo têm predominado, nas últimas edições, as fotografias, o vídeo e as instalações; mas esse fato não decorre de uma crença compartilhada por artistas e críticos na superação das linguagens da tradição, mas da orientação curatorial assumida por essas megaexposições internacionais. Pode-se perguntar, no entanto,
– afastada a ideia de progresso nas linguagens artísticas – se a arte contemporânea mais significativa não seria aquela na qual há um hibridismo ou contaminação recíproca entre as linguagens. A singularidade de cada obra resulta hoje, afirma nessa direção Jacques Rancière, do modo como as várias artes ou mídias intercambiam seus poderes. Os artistas têm explorado, de fato, as potencialidades que cada mídia possui de mesclar seus efeitos aos das outras mídias, renovando as possibilidades sensíveis que aparentemente teriam se esgotado. Sobre o papel que as linguagens tradicionais podem ainda desempenhar, eu diria, para concluir, que certa pintura – como à que investe nas veladuras – pode contribuir para a reaprendizagem da arte de ver, há pouco referida, na medida em que ela exige a desaceleração ou retardamento do olhar.
FAA: Quais experiências artísticas com imagens você destacaria no contexto brasileiro atual?
RNF: Seriam inúmeros os exemplos de experiências significativas com imagens nas diferentes linguagens artísticas, haja vista a riqueza da arte contemporânea brasileira. Se você me permitir, no entanto, destacarei apenas um caso, ao qual me dediquei recentemente, porque retoma aspectos de nossa conversa, até aqui. Refiro-me às fotografias de igarapés e igapós na floresta amazônica, de Antonio Saggese, que integram as séries Hiléia e Ig, produzidas entre 2014 e 2017. Destaco essas fotografias, porque articulam novos modos de pensar e produzir uma imagem, opondo-se à imagem hegemônica na sociedade do espetáculo ou da hipervisibilidade do presente. Enfatizo três aspectos de seu trabalho. Suas fotografias, em primeiro lugar, não devem ser tomadas como imagens científicas ou de entretenimento, porque não são registros da floresta amazônica que em regime encomiástico louvaria seu esplendor (enquanto imagem clichê ou edulcorada); ou fotojornalismo ecológico que denunciaria a dilapidação criminosa dos recursos naturais (como imagens científicas ou documentais). O segundo aspecto é que essas fotografias produzem uma tensão, que aciona a reflexão, entre imagem analógica e imagem digital. Saggese não busca uma imagem de resistência recorrendo a câmaras analógicas low-tech, mas, ao contrário, utiliza câmeras digitais de altíssima sensibilidade, modificadas para captar o infravermelho, com lentes de grande luminosidade e com sensores que reduzem a profundidade de campo;
posteriormente, essas imagens assim produzidas são por ele modificadas no computador, na expectativa de que dessa intervenção técnica resultem potencialidades artísticas impossíveis de serem obtidas nas películas fotoquímicas. Neste trabalho de pós-produção, de alteração dos códigos dos pixels visando a introduzir, por exemplo, variações tonais, Saggese coloca em suspeição o próprio caráter de representação (ou até mesmo indicial) da fotografia. Isto porque as imagens digitais conferem visibilidade ao que é imperceptível nos modos de representação tradicionais dos filmes fotossensíveis. Seu desafio, em síntese, é pensar por meio de suas fotografias as consequências da ausência da indicialidade na imagem digital; porque, se a inscrição analógica pressupunha contato físico (luz fixada em superfície fotossensível), a imagem digital, como dizíamos há pouco, é codificação de procedimentos matemáticos ou abstratos, que dispensa, portanto, o contato entre mundo e imagem, entre máquina e referência – o modo corrente do indicial. O terceiro aspecto é o caráter de hibridez dessas fotografias, porque Saggese não busca o específico fotográfico – a questão essencialista, de natureza ontológica, própria ao modernismo – de André Bazin a Roland Barthes – mas as suas relações com as artes plásticas, o cinema e as novas tecnologias da informática. Investindo nas possibilidades inéditas de metamorfoses abertas pelas novas técnicas e suportes, como os digitais, as fotografias e vídeos de Saggese são, assim, belas imagens pensativas, imagens que forçam sensivelmente o pensamento (porque nelas não há ponto que não nos mire, inquirindo-nos) interrompendo a máquina geradora de imagens da mídia digital e de massa que é sempre tautológica, porque resultado da permutabilidade de imagens clichês.
https://doi.org/10.24316/prometeica.v0i17.236
ENTREVISTA COM NORVAL BAITELLO JR.
por Danielle Naves de Oliveira e Ana Elisa Antunes Viviani
Recibido: 10/05/2018
Aprobado: 11/07/2018
![]()

Norval Baitello Junior é doutor pela Universidade Livre de Berlim (1987) e professor da Pós-graduação em Comunicação e Semiótica da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. É autor, entre outras obras, de A era da iconofagia e O pensamento sentado. Esteve como professor visitante em Berlim, Viena e Sevilha. Fundou em 1992 o CISC, Centro Interdisciplinar de Pesquisas em Semiótica da Cultura e da Mídia, através do qual organizou mais de vinte eventos internacionais, publicações e intervenções, tendo como convidados pensadores como Harry Pross, Dietmar Kamper, Ivan Bystrina, Vicente Romano, Thomas Bauer, Ryuta Imafuko, Christoph Wulf, Gunter Gebauer, Rodrigo Browne, Victor Echeto e outros. Criou, na PUC-SP, entre 1997 e 2001 os cursos de graduação “Comunicação e artes do corpo” e “Comunicação e multimeios”. Orientou mais de 60 teses de mestrado e doutorado, tendo formado (e ainda forma) gerações de pesquisadores hoje atuantes no Brasil e no exterior. Foi também responsável pela instalação do Arquivo Flusser em São Paulo, aberto ao público em 2016, do qual é diretor científico. norvalbaitello@pucsp.br
![]()
Danielle Naves de Oliveira é Doutora em Ciências da Comunicação pela ECA-USP,
pesquisadora e tradutora, sediada em Marburg, Alemanha.
Ana Elisa Antunes Viviani é graduada em História pela Universidade de São Paulo e mestre em Ciências da Comunicação pela mesma universidade, tendo desenvolvido uma pesquisa sobre corpo e comunicação digital. Hoje é doutoranda em Comunicação e Semiótica pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, onde estuda pinturas rupestres de Minas Gerais. É integrante do Centro
Interdisciplinar de Semiótica da Cultura.
***
Imagem e conhecimento encontram-se em contínuo entrelaçar. Pela imagem, não só conhecemos, como também temos acesso ao mundo, criamos realidades e, principalmente, nos tornamos quem somos. Assim, estamos diante de um componente central da hominização. Para Norval Baitello, estudioso brasileiro da Comunicação e da Cultura, as imagens nos são constitutivas de vários modos, numa paleta que vai do mítico, passa pelo culto e chega ao mediático. A presente entrevista, editada sob a forma de “glossário”, tem como ponto de partida o conceito de “iconofagia”, uma das principais contribuições de Baitello ao debate contemporâneo sobre as imagens. De inspiração dadaísta e warburguiana, as demais entradas ou verbetes não obedecem nenhuma ordem alfabética, mas antes uma vizinhança de afinidades temáticas encadeadas pela conversa: Benjamim e o valor de exposição; Dadá; o exclusivo estetizante criticado por Warburg; a irrupção da era da imagem mediática; genealogia do olhar; ecologia da comunicação; a distância entre ciência e studies; sonho; o Brasil dos golpes; e, por fim, um relato biográfico.
***
PROMETEICA - Revista de Filosofia y Ciencias – ISSN: 1852-9488 – nº 17 – 2018 116
A ideia de iconofagia estava presente em meu trabalho antes mesmo da formulação do termo. A primeira vez que apresentei esta palavra mesmo foi em 1999 na Casa das Culturas do mundo, em Berlim, num evento em que estiveram presentes Dietmar Kamper, Hans Belting, Gunter Gebauer e Rudolf Heinz. Quis demonstrar que havia algo mais na relação entre pessoas e imagens do que os estudos apontavam, um fenômeno perverso de interação com as imagens, mas não só, afinal a imagem é uma ferramenta da hominização. Foi assim que, naquele momento, explorei um aspecto perverso das imagens, mostrando que não só nos alimentamos delas, mas elas podem nos causar indigestão quando excessivas e invasivas, não as digerimos ou metabolizamos suficientemente. Além disso, em função dessa indigestão, ou dessa indigeribilidade do excesso da visualidade — pois naquele contexto eu falava apenas de visualidade — apresentei o contra-movimento de que as imagens passavam a nos devorar e, em vez delas nos alimentarem, nós é que passávamos a ser seu alimento. Ou seja, viramos a matéria-prima que dá vida ao mundo da excessiva visibilidade. Trata-se, assim da passagem da indigeribilidade à funcionalização dos olhares e das pessoas em relação às imagens, o que cria uma interferência na própria vida física e biológica daqueles que se contaminam com as características das imagens.
Após minha apresentação, houve duas intervenções, primeiro a de Belting, reclamando de que eu não tinha falado do processo iconofágico no qual imagens devoram imagens, com a qual evidentemente concordei, pois toda a história da arte e da cultura é uma devoração de imagens por imagens. De fato, eu havia partido desse pressuposto, sem mencioná-lo, e preferi não tocar explicitamente essa questão, pois um ano antes, havia sido acusado de idealista e metafísico, por atribuir às imagens vida e vontade próprias. Isso aconteceu numa conferência na Áustria, de modo bastante agressivo, vindo de um filósofo que se enfureceu com a ideia de iconofagia. Por isso foi bom ver minha tese sendo apoiada por pessoas como Hans Belting e Dietmar Kamper. A segunda intervenção foi a de Rudolf Heinz, um psicanalista muito importante e com um pensamento instigante em diálogo com a antropologia histórica da Kamper. Ele confirmava, através de sua prática terapêutica, a verdade física da iconofagia. Trouxe como exemplos casos concretos de anorexia e bulimia, que não são senão manifestações desse fenômeno.
Esse evento foi a primeira edição do seminário Imagem e Violência, cuja segunda parte realizamos, Kamper e eu, um ano depois aqui no Brasil no SESC, em 2000. A partir dali, comecei a desenvolver mais amplamente o conceito de iconofagia como um fenômeno mediático contemporâneo. Mas há uma arqueologia do conceito, mencionada em minhas pesquisas mais antigas. Quando trabalhei com o Dadaísmo, por exemplo, ali já havia o “canibalismo Dadá”, assim como no Modernismo brasileiro oswaldiano, que trouxe à baila a ferramenta conceitual da “antropofagia”. Eu diria até que Oswald de Andrade foi precursor do conceito de iconofagia, apenas não cunhou a palavra. Sou um entusiasta do modernismo brasileiro, principalmente do movimento antropofágico. Já no “colegial” brigava com meus professores de literatura, contra os engessados parnasianos de todas as épocas [risos]. Essas são minhas raízes, por isso tenho de dar os créditos, Oswald de Andrade foi realmente o maior filósofo brasileiro de todos os tempos. Ele foi o começo. Lá estava embrionário o conceito de iconofagia. Retomando, ela ocorre em várias direções: iconofagia significa devorarmos as imagens, sermos devorados por elas, mas também a devoração que as imagens fazem delas mesmas. Há uma ideia de metabolização, mas também uma ideia de intoxicação.
Uma imagem já não vale mais por sua qualidade intrínseca, mas sim por sua exposição — isso está em Walter Benjamin. Aqui, entra um critério de recepção. Ou seja: existe algo que alimenta as imagens e esse algo é o olhar. Quanto mais olhares uma imagem tiver, maior é seu valor. Seguindo esse raciocínio, vemos que o critério da imanência, que era um valor absoluto na era da arte (quando o valor de uma obra de arte estava nela própria, em sua qualidade estética, em sua forma e originalidade, enfim, e não em seu entorno), passa a se dar pelo suporte, para um ambiente onde a obra vale pelo número de olhares que atrai. Ela pode nem ter um grande valor estético, nem de novidade, mas cria um ambiente onde chama atenção, olhares e se alimenta desses olhares. Isso acontece, por exemplo, com o ready-made de
Duchamp, com as montagens dos dadaístas, com a Merz de Schwitters, também com Andy Warhol e suas serial imageries, e assim por diante. Não se trata mais da imanência da obra de arte, mas da capacidade de capturar o maior número possível de olhares. Isso também tem a ver com 15 minutos de fama. Assim, iconofagia é um conceito que emerge de uma ecologia da imagem, não de uma estética.
Hoje, o dadaísmo é tido como um exótico na história da arte, porque esta trabalha com critérios estetizantes. Por sua vez, os dadaístas detonaram o valor da obra em si, tanto que, apenas por acaso, poucas obras dadaístas sobreviveram. As grandes obras do movimento foram descartadas, perderam-se como lixo, como foi o caso do Merzbau de Schwitters. Você imagine, uma assemblage que ocupava uma casa inteira, durante a guerra. Foi jogada fora. Isso também aconteceu com a enorme colagem de Johannes Baader, em Berlim, chamada O grande plasto-dio-dada-drama, que não deixou sequer rastro. Tem gente que até duvida que tenha existido, mas Baader a relata em cartas, além de haver fotos de uma escultura com o mesmo nome exposta em 1919 em Berlim. O critério estético, nesta e outras obras, também não permaneceu. O que ficaram foram obras ocasionais, jornais, algumas colagens, mas percebidas num momento em que já havia uma passagem para o mundo da arte. Refiro-me aos artistas que sobreviveram à Segunda Guerra Mundial e acabaram valorizados, como Hannah Höch, Max Ernst e Raoul Hausmann. Se algumas obras ficam, o mesmo não aconteceu com a essência do movimento. É isso o que a história da arte não entendeu. Continua-se definindo dadaísmo como “nada”, “protesto pelo protesto”, “tentativa de demolição”, “abolição de todos os critérios”. Na verdade, não se entendeu a proposta do Dadaísmo, que era explodir com essa estrutura estetizante.
Falo principalmente do Dadaísmo, mas essa explosão também aconteceu antes, embrionariamente com o expressionismo, com o futurismo, com o cubo-futurismo e todos os micro-movimentos que, mais tarde, foram englobados dentro da rubrica Dada. Por exemplo, Nova Iorque em 1915 com Stieglitz, assim como Man Ray, Duchamp, artistas que já eram ativos, sem o rótulo de dadaístas, mas que tinham muito a ver essa história da explosão do estetizante.
A expressão “exclusivamente estetizante” é de Aby Warburg. A história da arte até hoje não parou para pensar seriamente nisso, afinal de contas, o estetizante é sua viga mestra. Se ele for questionado, a história da arte desmorona. Do ponto de vista de uma ecologia da imagem, é possível entender o dadaísmo não como movimento destrutivo, mas como movimento reflexivo a respeito do vazio da estetização, ocorrido numa sociedade que explodia em sua estrutura de produção de linguagens e imagens.
Esses movimentos e artistas que citei já anunciavam a morte da arte. Raoul Hausmann fazia colagens grotescas sobre o crítico de arte, retratando-o com um cérebro em forma de sapato, havendo aí já uma crítica às consequências nefastas do estetizante. Convém lembrar que os expressionistas alemães apoiaram a Primeira Guerra Mundial, em nome de um patriotismo, lutaram, foram para o fronte, vários deles tendo morrido. Enquanto isso, os dadaístas eram anti-belicistas por natureza, estavam de certa forma associados a um critério ecológico, a uma ecologia do espírito ou da mente — para usarmos uma terminologia de Bateson.
É um conceito que não está presente em nenhuma teoria da imagem. A rigor, o adjetivo não é correto, pois chamar a imagem de “mediática” seria usar um critério imanentista, o que equivaleria a afirmar que toda imagem na mídia é mediática. Não é bem assim. O pensamento ecológico da imagem pressupõe a consideração de um entorno que, por sua vez, é declaradamente mediático. Quem distribui a imagem
hoje são os mecanismos midiáticos, toda a mídia, desde revistas, jornais, televisão, imagens sonoras pelo rádio, música e, claro, todos os derivados da internet. Ora, seu ambiente é totalmente mediático.
Se perguntarmos, por exemplo, existe arte? Sim, existe. Porém, toda arte é distribuída e valorizada atualmente pelo critério mediático. O valor de mercado da arte não está mais associado a seu valor estético, às suas qualidades intrínsecas, mas à sua repercussão. É assim que um vestido da Marilyn Monroe, mesmo tendo qualidades estéticas, será vendido por 10 Dólares num brechó caso ninguém saiba a quem pertenceu. Mas, se este vestido for vendido num leilão, onde todos sabem que foi de Marilyn Monroe, por seu valor de exposição, será vendido possivelmente por 10 milhões de Dólares. Assim, a imagem mediática pertence a esse ambiente e que, hoje, é onde vivemos.
É um ambiente que valoriza a exposição, que dá à imagem mediática uma capilaridade imensa graças a todos os seus aparatos. A própria imagem artística de obras de outras épocas também se submete ao critério da imagem mediática. Por isso, hoje, não basta um artista ser genial: se ele não tiver valor de exposição, não conseguirá sobreviver de sua arte. É claro que arte sobrevive, mas num outro ambiente. Rembrandt tem valor como artista de sua época, mas soma-se isso o valor de sua fama em nosso tempo, presente em todos os livros de história e outros meios. Com isso, podemos dizer que a noção de imagem mediática não obedece a um critério imanente, mas a um critério ambiental. Diferentemente da imagem estética (reclusa no ambiente artístico), a mediática não vale por si mesma, mas tem um valor deslocado, dirigido à percepção. Logo, um valor transcendente, que está além da própria obra.
Nosso olhar é resultado de uma história, que passa por épocas, tem uma genealogia. O que é nosso olhar? É consequência de um processo histórico e evolutivo.
Convivemos com pessoas que ainda consideram a imagem como culto, na igreja, na televisão inclusive. O culto permanece, sendo que sua imagem é muito anterior à imagem artística. Assim, nosso olhar também é contaminado por ele. Quando vemos uma obra de arte num museu como Louvre, Hermitage ou Masp, há ali também um olhar tomado pelo culto, uma certa sacralidade. Essa imagem de culto também não é imanentista, não vale por seu suporte, mas vale pelo que evoca além dela. O nome disso, para Walter Benjamin, era “valor de culto” e, mais tarde, Hans Belting chamou-a de “imagem de culto”.
Além de um suporte arqueológico de culto, nosso olhar traz um outro suporte, de estética. Afinal, também fomos educados a ver beleza, até nas coisas mais feias, até na roda de bicicleta de Duchamp vemos regularidades, movimento — mesmo que seja um objeto desenhado pela indústria, tem seu valor estético. Em terceiro lugar, junta-se a essa arqueologia o valor mediático, do qual já falei.
E há ainda outras diferenças entre olhares. Por exemplo, o olhar dos nossos filhos é diferente do nosso e dos nossos pais. Há também o olhar dos neo-moralistas, dos neo-evangélicos, dos haters. Esses valores convivem e se conflituam atualmente. Quando a vamos a um museu e vemos uma obra original, antiga e famosa, exercemos um culto. A obra do museu tem simultaneamente o valor de culto, o estético e o mediático.
Um pensamento ecológico tem consequência imediata sobre o conhecimento do que é comunicação. E coloca em xeque, de cara, a concepção mecânica e matemática de comunicação, que a considera um processo asséptico, de laboratório, uma fagulha elétrica que passa por determinados caminhos e chega a determinado ponto. Essa seria a concepção matemática e formalista da comunicação, na verdade, trata- se de uma teoria da conexão. Comunicação implica um processo muito mais complexo e não unidirecional, nem mesmo bidirecional. São processos que não se dão por um único canal. Isso a escola de Palo Alto já falou com estudos, por exemplo, de Ray Birdwhistell, nos quais ele faz partituras e usa
metáfora da orquestra: simultaneidade da entonação, da postura, dos gestos, tudo isso gera um quadro muito complexo. E foi uma contribuição enorme da escola de Palo Alto, que partiu principalmente dos estudos de Bateson sobre a respiração.
De certa forma, aí já estava presente o conceito da multimodalidade. Mas ainda não havia — embora Goethe já tivesse falado em ecologia do espírito — a ideia do ambiente como participante ativo no processo de comunicação. O que isso nos traz?
No ambiente, cria-se uma predisposição à captação ou captura do próprio ambiente. Absorvemos o ambiente e o ambiente nos absorve. Parte dele é formado por pessoas, uma outra parte são objetos. Estudar ecologia da comunicação significa, por um lado, estudar de onde vem esse ambiente, uma genealogia ou arqueologia, e também uma futurologia, para onde ele vai.
Em ambos os casos, na arqueologia e na genealogia, trabalhamos com cenários: o que foi nosso passado, qual nosso olhar sobre ele, o que nele nos afeta e nos chama a atenção. Há aí um fator inconsciente, que nos torna disponíveis para certas coisas e cegos para outras. Trabalhamos com o passado: o que foi homo sapiens, a descida das copas das árvores, Altamira, enfim, são informações que temos com frestas, pois há pouquíssimos documentos e acabamos reconstruindo o passado a partir de um realismo hipotético.
A ecologia da comunicação tem esses componentes: o arqueológico-genealógico, que diz respeito a trabalhar com cenários; e o futurológico, ou seja, que lida com os impactos do ambiente de hoje sobre o de amanhã, o depois de amanhã e assim por diante. Muitas vezes, esse pensamento é chamado de apocalíptico. Claro que certas pessoas têm propensão a ver um cenário cor-de-rosa, enquanto outras tendem a ver cenários sombrios. Uma ciência ecológica da comunicação tem, por obrigação, que lidar com todos os cenários e qualificá-los ou desqualificá-los de acordo com o que se pretende para o futuro. A indústria, por exemplo, realiza um olhar futurológico, com muita competência, para vender seus produtos. Nossa obrigação, no entanto, é olhar criticamente, jamais de modo acomodado ou deslumbrado.
A teoria da imagem é uma parte da teoria da comunicação, seja a imagem considerada como visualidade, ou seja, em sentido estrito, seja a imagem considerada com sensorialidade, que é seu sentido amplo. Defendo que a palavra imagem deva ser expandida para toda a sensorialidade: há imagem acústica, tátil, visual e outras. Não é uma ideia original, pois a neurologia já diz isso. Toda a história da imagem, como veículo e participante fundamental dos ambientes de comunicação, nos remete a cenários mais profundos.
O cenário mais superficial é dado pela imagem do ambiente artístico, que é estético. O cenário atual é o da imagem mediática, que marca o tipo de comunicação na qual vivemos, tudo está atrelado à eficácia e associado à capilaridade da mídia. Tudo: nossas vidas, a economia, a política. Na época precedente ao midiático, que era do predomínio do ambiente estético, não apenas na imagem visual, mas também pela música, pelas imagens performáticas como balé, teatro, nos modos artificiais das cortes, na etiqueta, nos gestos, na utilização de ferramentas, houve uma estetização da vida, lembremos das perucas dos nobres, tudo isso era uma estetização.
E o período anterior ao da estética, como nos ensinou magistralmente Hans Belting, foi destinado ao ambiente de culto. Ali, toda imagem visava uma transcendência, por isso não se tratava apenas de culto religioso. Tomemos como exemplo o Império Romano, as grandes estátuas dos imperadores, aquilo não tinha intenção estética e sim de culto. Quem via aquela grande escultura do imperador, sabia que por trás dela existia um grande império e muito poder. Hoje, isso ainda está presente nos retratos de presidentes da república pendurados em repartições.
É sempre importante fazer esse exercício genealógico e perguntar: que ambiente era dominante antes da emergência do culto? Poucas imagens visuais sobraram: temos a Vênus de Willendorf, a caverna de Chauvet, que provavelmente são testemunhas dessa época anterior ao culto. Muitos historiadores da arte, entretanto, atribuem valor de culto a tais imagens, o não deixa de ser um olhar, mas um olhar contaminado pelo pelo religioso ou pelo estetizante. Como saber? Os documentos que temos vêm de narrativas que se deixaram registrar: como Gilgamesch, lendas gregas arcaicas, narrativas míticas, presentes em povos primordiais ou elementares, como africanos, indígenas. Podemos também falar tais narrativas são imagens, figuras mentais relatadas, transferidas para o acústico. Segundo nosso realismo hipotético, dizemos que esse ambiente, mítico, precedeu o do culto.
Nessa lógica, temos o seguinte movimento:
O ambiente de culto é transcendente, utilizava as imagens — de qualquer natureza, visuais ou acústicas
— para nos transportar. Já no ambiente mítico teríamos o oposto, as imagens teriam a função de nos trazer para o aqui e agora. Essa é essência do mito, trabalhar com a origem, com nossa natureza e das coisas. Isso está presente nas religiões pagãs, que nasceram de um ambiente mítico e trouxeram seus elementos posteriormente para um ambiente de culto, mas fazendo-o através da imanência. Por exemplo, a terra é sagrada, a fumaça, a água, a pipoca, o sangue. O cenário mais longínquo é talvez o cenário mais difícil de ser estudado e reconstruído.
Depois, temos o ambiente artístico que, de novo, é imanente. E, por fim, no mediático, há uma volta da transcendência. Na era da mídia, vivemos uma nova transcendência. É por isso que o Nicolas Berdiaev, filósofo russo, fala de uma nova Idade Média. Vivemos de fato uma nova Idade Média, com suas vantagens e desvantagens. É claro que, nesse caso, o resgate do artístico é terapêutico, porque toda regressão é terapêutica. O resgate do culto também é terapêutico, assim como do mito. A cor do presente é o passado, não o futuro. O futuro é fuga do presente.
Mas veja: não acuso o pessoal da história da arte de nada. Eles fazem seu trabalho, estão na sua função de ler o artístico. Isso, em termos sociais e culturais, é terapêutico. Por isso, temos de incentivar todo ato artístico — como terapia do excesso mediático — e voltar a certa imanência. É isso o que Kamper dizia: a arte é o grande remédio. Não só a arte, mas também a religião e o mito são grandes remédios. Claro que não estou falando aqui das religiões mediáticas, pois já não são religiões e sim indústrias.
Gosto de falar de meus mestres, é um tributo à genealogia. Desconfio de todo mestre que não ri de si mesmo, isso está em Nietzsche. Desconfio também de todo mestre que não fala de seus mestres. Nosso olhar e pensamento também são fruto de uma genealogia. Muitas pessoas dessa genealogia foram esquecidas, intencional ou ocasionalmente, pois o mediático sobrevive dos olhares e, infelizmente, as pessoas que já morreram não estão mais aqui para fazer seu marketing pessoal. Os novos epígonos dão palestras por 50 mil Euros, atraem muitos olhares e essa é a medida de seu valor, são os tipos motivacionais. Eles esqueceram seus mestres e eu não gosto disso. O próprio Kamper falou, em um de seus textos, sobre o “esquecimento da origem”, que equivale à perda de si mesmo. Quem esquece de seus mestres, já se perdeu. Por isso vale a pena falar sobre isso.
Há ideias de meus mestres que continuam pulsantes. Por exemplo, Harry Pross, alguém que foi completamente esquecido na ciência da comunicação e não é mencionado em livros de autores por ele diretamente influenciados. Pross foi o grande fundador da teoria da mídia, a primeira pessoa que abordou a teoria da mídia como uma proto-ecologia da comunicação. Ao falar em termos de meios primário, secundário e terciário, evocou também ambiente e capilaridade. Cada um desses níveis tem um tipo diferente de capilaridade. Estamos diante de um precursor, que se declarava como neo-kantiano, cassireriano e, nesse sentido, alguém que acreditava na força transformadora do conhecimento. Utilizou alguns conceitos kantianos como maioridade e minoridade, na direção de responsabilidade pelos
próprios atos. Essa também é uma das marcas da ecologia da comunicação, na qual é imprescindível uma responsabilidade ética, pois ela desenha futuros e estes nunca são inócuos.
Na esteira de Pross, cito ainda Vicente Romano, que formulou a ecologia da comunicação e ampliou um dos principais elementos trazidos por Pross, que é o tempo. Mostrou que o ambiente mediático cria um tipo de temporalidade diferente, assim como de espacialidade. Devemos a ele o fato de ter falado em ecologia da comunicação num sentido militante. Não se trata de uma ciência que não põe a mão na massa, como quem estuda uma obra na qual não se pode tocar, que está longe. Uma ecologia nunca é assim.
Outro grande mestre foi Dietmar Kamper, que trabalhou, sobretudo a partir do conceito de corpo, naquilo que ele chamou de antropologia histórica. Neste termo, o histórico enfatiza a busca do cenário retrospectivo, arqueológico. Mas não só: ele criou e praticou uma ciência que busca retrospectivo, mas com olhar prospectivo, alertando sempre poeticamente sobre os efeitos maléficos desse apagamento em relação corpo e, mais tarde, em relação à imagem. Com ele, a reflexão ganha uma dimensão enorme de ecologia corporal, numa leitura de rastros e indícios profundamente benjaminiana. O corpo presente é rastro de uma história, assim como o olhar. Ele nos colocou diante dos cenários de excesso de visualidade e visibilidade das imagens, com seus impactos sobre o corpo.
Especificamente na teoria da imagem, para nos libertar da visão exclusivamente estetizante, há dois grandes pensadores muito importantes que eu gostaria de citar. Primeiramente, Aby Warburg, que acusou expressamente a exclusividade da estetização. Em sua ciência da cultura, ele praticou uma arqueologia das imagens que significa uma visão de grandes linhas genealógicas, de sentidos e de significados. Depois, temos Hans Belting, com seu magistral estudo sobre a imagem de culto, no livro Bild und Kult, demonstrando que já houve um ambiente muito distinto do ambiente da arte.
Um mestre a quem também devo muito é Ivan Bystrina. Tcheco, exilado na Alemanha, foi contratado por Pross para dar aulas na Universidade Livre de Berlim. Seu percurso é muito curioso, formou-se em ciência jurídica, com doutorado em Moscou em ciências políticas, onde também começou a se interessar por cibernética. Depois, retornou à Tchecoslováquia, onde continuou os estudos de cibernética, passando para a semiótica, e criou uma semiótica própria, antropológica, discordando dos russos, de Peirce, dos americanos, de Eco, dos franceses, dos dinamarqueses e dos linguistas. Deu-lhe o nome de “semiótica da cultura”, termo que também foi adotado pelos russos, mas num outro sentido. A ciência de Bystrina aproxima-se, de certa forma, daquela de Edgar Morin. Eu diria até que, nesse caso, o nome semiótica é dispensável. Poderíamos dizer: ciência da cultura, o que o aproxima também de Warburg. Bystrina foi uma cabeça privilegiada, compositor, matemático, lógico, jurista, biólogo amador, e assim conseguiu construir lentamente uma teoria da cultura, principalmente durante seu exílio na Alemanha. Fez tudo isso com muita modéstia e ao mesmo tempo com notável rigor lógico e científico.
Para entender a cultura, ele parte de duas camadas anteriores: a existência social, que pressupõe a comunicação, e a existência biológica, que pressupõe também o organismo em funcionamento, em interação com o meio. É uma teoria da cultura que nos ensina muito, por exemplo, sobre o trânsito entre o biológico, o social e cultural, que é uma via mútua, em que um determina o outro. Trata-se de um anti- determinismo enorme. Sua teoria da cultura foi desenvolvida com muitos exemplos, a partir de vários campos como biologia, sociologia, política, arte. Infelizmente, Bystrina foi completamente esquecido na Alemanha, na República Tcheca e em outros lugares por onde passou, um pensador muito instigante que nos ajuda a entender o trânsito das diferentes esferas e, sobretudo, o contínuo que vai do corpo à cultura e ao imaginário.
Hoje há muitas teorias de imagem, algo que se transformou num genérico chamado visual studies, que infelizmente se restringe à visualidade. Eu considero o material da imagem muito mais do que visualidade. E esses studies se instalam com inúmeros vícios, pois se deixam contaminar unicamente
pelo aparato mediático. Por exemplo, quando falam de uma “imagem fotográfica”, não é da imagem que falam e sim de fotografia, do aparato fotográfico. Fotografia e cinema são mais do que isso, são ambientes, pois a imagem fotográfica não existe sem o aparato e nem sem seu entorno. Considero um equívoco falar em termos de “imagem fotográfica”, “imagem pictórica”, “imagem encáustica” ou “afresco”, e assim por diante. A imagem é uma coisa que não está no suporte e sim no ambiente. Neste sentido, é preciso reafirmar que nós estamos dentro do ambiente e o ambiente está dentro de nós. Esse é um ponto fundamental.
É por isso que não só as imagens, mas os processos de comunicação em geral, deveriam ser estudados de acordo com outros critérios como o da mimese e o da contaminação (que já difere de mimese, pois neste há um contágio mesmo, o ambiente nos adentra); há também, entre outros, o critério da coerção, que é um dos aspectos fundamentais da contaminação. Pross tem um livro sobre isso, Zwänge (Coerções), no qual fala da coerção do calendário, dos símbolos. Quem disse que não existe coerção no nosso mundo? Ela está aí, todos os dias, todas as horas. Certas opiniões nossas são mero resultado de coerções. São fenômenos a serem estudados no âmbito da comunicação e que ultrapassam a questão dos suportes.
Falo de uma outra ciência, nova, completamente diferente das ciências que lidam com objetos. Nós não lidamos com objetos. Não gosto do termo studies como genérico. Se é para dar nome a algo, uma nova área do conhecimento, mesmo a um novo guarda-chuva, ou vamos com os gregos ou vamos com os alemães. Os primeiros diziam “teoria” (Theoria) e os últimos dizem “ciência” (Wissenschaft), sendo que nós, latinos, temos uma preferência pela palavra teoria, já que nossa noção de ciência é um pouco mais rígida. Com isso, já nos comprometemos com um certo rigor, de não meramente fazer uma colcha de retalhos, mas de construir um pensamento minimamente coerente com as regras da ciência contemporânea que, bem ou mal, contribuíram enormemente para o avanço do conhecimento. Nesse sentido, sou adepto da Kulturwissenschaft (ciência da cultura) do Warburg, e assino embaixo, já proposta no início do século 20, quando criou sua biblioteca. Há um conceito muito preciso do que são ciências da cultura e, no caso de Warburg, significa lidar com um pensamento histórico no sentido estrito, com arqueologia. A arqueologia é uma área da atividade humana que tem uma história. É impossível saber o que é cultura quando não se sabe de onde vem.
A disciplina criada por Warburg não tem rabo preso a crenças, mas as estuda como parte da cultura. Procura ter o olhar diversificado pela somatória dos olhares que, historicamente, construíram nosso olhar. Por exemplo, não se contaminaria pelo olhar de gênero ou de classe de forma unilateral. Warburg procura, por sua vez, estudar o que existe de arqueológico em cada um desses olhares. Nesse sentido, não comungo também com os cultural studies.
Sonho é um conceito fundamental para a cultura e para a comunicação — já que a cultura determina o ambiente e este, por sua vez, determina a comunicação. O sonho é uma inspiração para a expansão da realidade, isso já diziam Bystrina e Kamper e, antes deles, Freud. Portanto, trata-se da primeira fonte e, como fonte, não está presente apenas no homem. No entanto, o homem foi o único que conseguiu transformar o sonho num ambiente complexo de vida, criando um ciclo no qual o sonho vira realidade e, depois, a realidade vira sonho. Quando transporto o sonho para o ambiente, depois o ambiente me sonha de volta. É como a criação dos deuses: nós os criamos para que eles nos criem. O mesmo se dá com as máquinas. Trata-se de um mecanismo dos sonhos descoberto por Freud, de que o sonho é uma linguagem arcaica, na qual há uma regressão cognitiva, e de que toda regressão é terapêutica. Sonhar significa regredir em busca de remédio para os males do agora. Os grandes pensadores do século 20 são, de alguma forma, devem muito a esse conceito de sonho e às descobertas de Freud.
Dentro do cenário realista-hipotético que fazemos de nós mesmos e de nossa origem, existem elementos que dificilmente podem ser refutados. Falo dos elementos da nova natureza do homem, iniciada após a descida das copas das árvores e das florestas das quais viemos. De habitantes em territórios circunscritos, que eram as copas, fomos para o chão — e, nessa queda, chegamos ao espaço mais temível, pleno de ameaças, um verdadeiro inferno, cheio de predadores e acidentes. Nesse espaço, o homem aprendeu a andar em busca de alimentos e viu-se obrigado a nomadizar, em busca de climas mais amigáveis e a acompanhar manadas de outros animais dos quais sobrevivia, ou floradas, ou frutos… Essa nova realidade acabou se tornando constitutiva do ser humano. Abandonamos tal elemento nômade há cerca de 10 mil anos. Até então, éramos nômades. O caminhar é constitutivo de nosso pensamento, de nossa percepção do mundo, de nossa interação e de nossa comunicação com o mundo, também do desenvolvimento das nossas linguagens, que se fizeram graças ao chão e à mobilidade. Portanto, o nomadismo é uma atitude corporal que gerou nosso corpo. Após o assentamento, 10 mil anos atrás, passamos a procurar outros tipos de nomadismo, como o simbólico e o cultural, que se manifestam das mais diversas maneiras. Passamos a viajar sem sair do lugar ou limitados a um pequeno território. Voltamos, assim, a um pensamento territorial.
Foi Flusser quem deu uma grande contribuição à questão. Ele o fez numa conferência organizada por Harry Pross, intitulada “Reflexões nômades”, ao considerar o nomadismo como a segunda grande catástrofe do hominização e marca maior do nascimento do humano. Por isso, o movimento é fundamental, não só físico, mas também do pensamento. Foi também a partir dessa ideia, trabalhando com cenários arqueológicos, que escrevi o livro O pensamento sentado (2012).
Não faço paralelo entre o Brasil atual e o da ditadura dos anos 70. Ali, todo o golpe militar foi uma contra-ação a um movimento de crescente insurgência, revolução, renovação na sociedade, sobretudo pelas camadas mais jovens. Havia uma força que, embora minoritária, era uma força presente nos sindicatos, nos estudantes, nos professores, cheia de esperança. Era a esperança dos anos 50 e 60. Uma reação. O que vejo hoje é o oposto disso. Os setores mais atrasados da sociedade, também mundialmente e não só no Brasil, assumiram o protagonismo, não permitindo que surjam movimentos consistentes de rebelião. Eles compram os movimentos. Naquela época havia esperança e, hoje, não. Depois da primeira eleição do Lula, acho que nos acomodamos, também porque estávamos cansados da ditadura, cansados de tanta luta. E acabamos entregando muito, deixamos de fazer revolução, não poderíamos ter deixado de ficar alerta. Por outro lado, não havia também ambiente para isso. Hoje precisamos de um trabalho muito duro de resistência, na contra-corrente, pois vivemos numa era mediática, num ambiente todo de mídia que nos conduz à transcendência. Cada um acredita no que quer, mas a mídia detém os deuses para criar essas crenças de ódio e de intolerância. São deuses concebidos pelo capital. Isso me fez lembrar agora do livro Dinheiro e magia, de Hans Christian Binswanger, que trata justamente do tema.
Minha paixão pelo Modernismo, desde adolescente, vinha de mãos dadas com a paixão por Freud. Quando comecei, aos 14 anos, a estudar alemão, assisti também àquele filme, cujo roteiro foi feito pelo Sartre, Freud além da alma. Era um filme inadequado para menores, mas minha mãe me levou mesmo assim ao cinema. Apaixonei-me por Freud já naquela época, sem saber de todos os vínculos da história do dadaísmo com a psicanálise.
Após a minha graduação, que foi em letras alemão e latim, fui contratado como professor de literatura e cultura alemã na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Marília. Como sempre fui um apaixonado por cultura, literatura e arte — embora desse aulas para sobreviver —, meus cursos tratavam de música alemã, dodecafonia, vanguardas. Eu já havia conhecido o Décio Pignatari, pois ele também tinha sido
professor em Marília. Foi ali que encontrei um campo fértil de ex-alunos do Décio que vibravam com aquelas coisas que eu trazia: Bauhaus, arquitetura, expressionismo e também dadaísmo.
Na primeira vez que solicitei uma compra de livros para a biblioteca da faculdade, para minha surpresa, todos os livros foram adquiridos. Era uma bibliografia em alemão que tinha todos os dadaístas, alemães experimentalistas e a vanguarda dos anos 20. Foi um espaço muito interessante, um laboratório do ponto de vista humano e do conhecimento. Ali foi minha formação. Eu alugava filmes em São Paulo, levava- os para Marília. Eram filmes de rolo, nós fazíamos uma sessão semanal aberta ao público, filmes sobre Dadá, Bauhaus, Donaueschingen (a cidade que sedia o grande festival de música vanguardista da Alemanha), Stockhausen e tantas outras coisas. Tudo isso para os meninos “goiaba” de Marília [referência à canção Gilberto Gil, “A menina goiaba”, dedicada a uma garota da cidade]. Essa meninada era apaixonada e apaixonante. Também tinha o fator da idade. Comecei a dar aulas com 22 anos.
Mas foi uma aventura que durou cinco anos. Não demorou para me acusarem, no meu caso, do grande pecado que era ser comunista, ou pior, trotskista e anarquista. Foi a época em que eu dava aulas sobre todas essas vanguardas no interior e, aqui em São Paulo, fazia pós-graduação sendo aluno de pessoas como Décio Pignatari, Haroldo de Campos, Lucrécia Ferrara, tendo a chance de conversar com Augusto de Campos em sua casa da Rua Bocaina, conversas sobre cultura, literatura, poesia concreta alemã.
Naquela época, eu já tinha essa fascinação pelos anos 20 e pelo Dadaísmo. Havia um filme sobre Dadá, que havia mostrado para meus alunos em Marília. Eu conseguia os filmes em vários lugares, no Consulado Alemão, no Instituto Goethe, na Cinemateca. No campo da literatura, levava aos alunos quadrinhos em alemão, além da chamada literatura industrial ou Industrie Literatur, que era uma tendência na Alemanha, da qual participava Günther Wallraff, um jornalista que se disfarçou de turco e foi trabalhar numa fábrica. Ali, ele viveu na carne o que é ser um turco trabalhador na Alemanha. Era um tipo de literatura documental. Esse foi o meu trabalho com os alunos nos anos 70.
A faculdade ainda não era a Unesp. A história da fundação da Unesp não me desce até hoje. Fiz a graduação em São José do Rio Preto, numa faculdade de filosofia que pertencia aos chamados Institutos Isolados. Era um instituto onde deram aula Maurício Tragtemberg, Eduardo Peñuela, Flavio di Giorgi. Havia também um Instituto Isolado em Assis, onde deu aula Antonio Cândido e mais gente, além de Araraquara. Cada um desses institutos era embrião de uma universidade, mas que foram fundidos para formar a Unesp. O Estado de São Paulo teria, assim, a chance de ter criado umas 10 universidades estaduais, o que não aconteceu.
Essas faculdades tinham uma pulsação que foi dissipada. Na época da ditadura, vieram os governadores biônicos, gente que tomou conta da educação. Não foram cabeças abertas, como a de Carvalho Pinto, que fundou a Fapesp. Falo aqui de cabeças embotadas de políticos que, junto com um reitor retrógrado, criaram a Unesp e colocaram tudo num saco só. Naquele momento, toda essa gente talentosa foi apequenada numa universidade reacionária, sob o controle total da ditadura. Essa é a história que não se conta.
Havia um potencial enorme, tanto que em 1964, quando eu tinha 14 anos, meus amigos mais velhos, que já estudavam no Instituto em São José do Rio Preto, participavam do movimento estudantil. Quando comecei a estudar, a partir de 1968, também pude participar. Era um movimento extremamente vigoroso, não só em Rio Preto, mas também em Assis, Araraquara e outras cidades do interior. Aquilo prometia ser uma mudança do panorama cultural do interior que, hoje, infelizmente é um deserto. A fundação da Unesp teve seu papel na manutenção desse deserto. Cursos foram fechados, como o de Alemão em Marília e em Rio Preto, fecharam o curso de Filosofia em Assis, que era fortíssimo, entre tantos outros. Participei primeiramente como aluno desse movimento e, depois, como docente no início da Unesp.
Meu último período como professor em Marília foi num ambiente muito opressor, onde recebia telefonemas anônimos no meio da noite. Não tenho boas lembranças. Era a época mais sombria da ditadura, que estava bem entranhada em alguns colegas, muito reacionários, se bem que hoje lá é uma das unidades mais progressistas da Unesp.
O trabalho que eu fazia lá que era de pesquisa individual, alguma coisa mesmo de um daimon meu, inspirado pela turma do Décio Pignatari, pela minha pesquisa própria, pelas vanguardas, pelo Haroldo de Campos e pelos textos dele que eu tinha lido… Havia um entusiasmo pela ciência e ali, com o Décio, estudei cadeias de Markov, matrizes, questões matemáticas, e que eu próprio, já no curso de graduação tinha estudado, um pouco matemática e poesia. Lembro de um livro que comprei quando fui à Alemanha no quarto ano de graduação, Mathematik und Dichtung, e com ele fiz um trabalho de busca de estruturas matemáticas num poema latino de Ovídio.
Quando saí de Marília, tinha mais três empregos em São Paulo, dando aulas. Também fui chamado para dar aulas de alemão na Volkswagen, mas era uma desgraça. Chegava lá às seis da manhã, passava pelo departamento dos psicólogos, com aquele bom humor esfuziante. O ambiente era assim: às seis horas da manhã a comida do almoço já cheirava, misturada ao cheiro de óleo de carro. Aguentei um ano. Em 1979, a PUC me contratou. Levei 9 anos para fazer o mestrado, sem bolsa, trabalhando em três lugares, além disso cursando 10 ou 12 disciplinas. Quando entrei como professor na PUC é que pude acelerar o mestrado.
Logo no início, fui escolhido coordenador do curso de jornalismo. Reformamos o curso, contratei o Matinas Suzuki, o Caio Túlio Costa, um monte de gente aberta e fizemos um belo curso de jornalismo. Nesse tempo, nasceu meu filho. Além disso, havia os inquéritos em Marília, me acusando de subversivo. Tudo isso foi prolongando meu mestrado. Com o dinheiro da demissão de Marília, passei três meses em Berlim pesquisando sobre dadaísmo e, com o material, concluí o mestrado. Logo em seguida, vi um edital da Fundação Adenauer, e me inscrevi para o doutorado. Fui para lá, para Berlim, e fiz o doutorado em 36 meses, em condições ótimas, até ser noticiado com uma doença do meu pai. Retornei ao Brasil antes de completar quatro os anos e estive em Berlim novamente para a defesa.
Esse espírito inquieto de busca, que me fazia buscar coisas na Alemanha (e sei lá por onde eu as descobria…), estava presente em minhas aulas de literatura alemã que, como já falei, eram também aulas de arquitetura, Bauhaus, e música dodecafônica e pintura construtivista, Mondrian, e poesia experimental e tantas outras coisas. Talvez por isso a experiência em Marília, politicamente, só poderia ter dado errado. O ambiente não permitia tanto experimentalismo e tanta inovação. Meu período em Marília foi relativamente curto, de 1972 até 76 (no começo de 1977 fui demitido), mas extremamente fértil. Ali, eu dava vazão ao universo de inquietações de um menino de 22 anos, no interior do Estado de São Paulo, com alunos de 18 a 20 anos, e que enfim, viviam uma época de fechamento cultural. Tudo proibido. Era previsível que não vingaria o meu projeto em Marília, porque meu daimon estava me apontando para lugares mais abertos.
Demorou para eu perceber que sou muito grato àquele tempo, um tempo duro, mas também de bravatas e heroísmos que, como vejo hoje, ajudaram a me constituir como pesquisador da área em que estamos trabalhando. Tudo isso fez com que eu formasse uma base, iniciada com inspirações do grupo dos concretos e, depois, permitiu que eu me aproximasse de outros pensadores, como Kamper, Pross e Bystrina. Todos eles fizeram uma ciência muito diferente daquela que a academia estava acostumada.
(1987). Die Dada Internationale. Paris/Berlim/Nova York: Peter Lang. (1993). Dada-Berlim. Des/Montagem. São Paulo: Annablume,.
(1997). O animal que parou os relógios. São Paulo: Annablume,. (2007). Flussers Völlerei. Colônia: Walther König.
(2010). A serpente, a maçã e o holograma: esboços para uma teoria da mídia. São Paulo: Paulus. (2012). O pensamento sentado. Sobre glúteos, cadeiras e imagens. São Leopoldo: Ed. Unisinos. (2014). A era da iconofagia. Reflexões sobre imagem, comunicação, mídia e cultura. 2a. Edição. São Paulo: Paulus.
Normas para los autores
Los artículos y reseñas remitidos deberán ser inéditos (esto incluye publicaciones digitales como blogs, actas online, etc.) y no podrán ser postulados de forma simultánea para su publicación en otros periódicos. Al someter a la plataforma de la Prometeica, el autor afirma su anuencia a esa exigencia.
Los artículos no deberán exceder los 40.000 caracteres. Las reseñas no deberán exceder los 10.000 caracteres.
Todos los artículos deberán estar acompañados de un resumen y un abstract equivalente en inglés, cada uno de no más de 1.500 caracteres, incluyendo tres palabras claves.
Los idiomas aceptados para los artículos serán:
castellano,
portugués,
inglés.
Los artículos deben ser enviados a la revista a través de lo que el acceso del usuario a la plataforma OJS. Las presentaciones deben estar en dos archivos con formatos doc, docx o .odt. La primera debe ser el artículo y el resumen, y sin los datos del autor. El segundo debe contener los datos del autor: un breve curriculum, afiliación académica e información de contacto. Los metadatos de los archivos deben ser borrados por el autor para garantizar una evaluación ciega, es decir, el autor no ve el nombre del parecerista y el parecerista no ve el nombre del autor.
Una vez enviado el artículo/reseña el autor recibirá un e-mail de Prometeica acusando recibo. Desde la recepción de ese mensaje el comité editorial tendrá un máximo de 4 meses para evaluar si el artículo/reseña será publicado/a en la revista. El tiempo máximo previsto entre el envío del artículo y su publicación, en caso de aceptación sin reformulaciones, es de 6 meses.
En cuanto al sistema de referencias Prometeica adopta las Normas APA – 2016 - 6ª edición, de la American Psychological Association.
Para las notas aclaratorias se empleará la referencia al pie. Preferentemente se sugiere no abusar de este recurso.
En el caso de artículos que incluyan imágenes, deben enviarse en un archivo separado. Las imágenes deben tener una resolución de 300 dpi, en formato *.jpg o *.tiff. El copyright de la imagen ya debe ser concedido, o el autor debe usar imágenes sin derechos de autor.
En cuanto a la evaluación de los artículos, los mismos serán remitidos al miembro del consejo editorial responsable del área del trabajo en cuestión. Los artículos serán enviados a dos especialistas externos y evaluados en el sistema de revisión doble ciega en que el autor no ve el nombre del evaluador y el evaluador no ve el nombre del autor. En el caso de haber desacuerdo entre ellos, un tercer árbitro podrá ser consultado, por decisión del consejo editorial.
Los trabajos pueden tener tres resultados posibles que constan en el formulario de evaluación que completará junto a otras observaciones el evaluador:
recomendado para su publicación sin alteraciones,
recomendado para su publicación con modificaciones,
no recomendado para su publicación.
En el caso 11 (b), la publicación del mismo quedará sujeta a que el autor esté dispuesto a realizar las modificaciones y las remita para su nueva evaluación.
Todos los trabajos aprobados serán publicados en un idioma aceptado por la revista. Si el original no está escrito en uno de estos idiomas y demandas de traducción, puede resultar en un retraso de la publicación.
El contenido de los originales publicados es responsabilidad exclusiva de sus autores.
Los artículos presentados a la revista deben ser escritos utilizando el Modelo_Prometeica_Autor_verde.dotx para seguir los estilos y formatos descritos en Formato_Prometeica.doc
Prometeica adopta una política antiplagio sometiendo todos los artículos enviados a un primer análisis por el software Plagius.